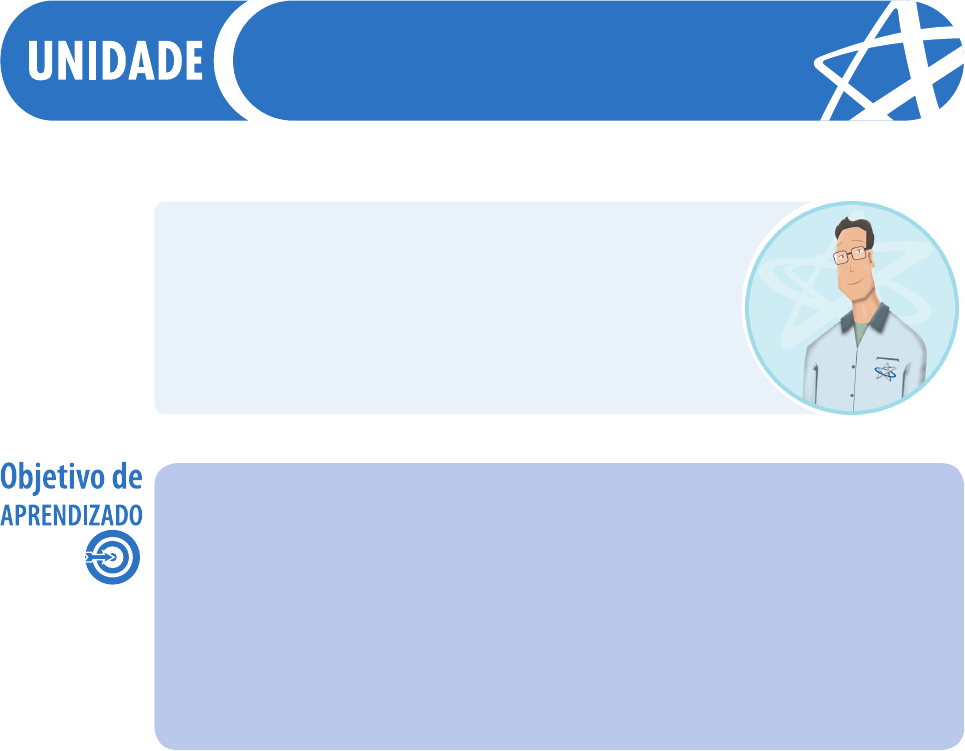
5
Trataremos, nesta unidade, da diferença entre a linguagem afetiva e a linguagem intelectiva.
Também estudaremos a origem da Estilística e trataremos do conceito de estilo.
Para obter um bom desempenho, você deve percorrer todos os espaços, materiais e atividades
disponibilizadas na unidade.
Comece seus estudos pela leitura do Conteúdo Teórico. Nele, você encontrará o material
principal de estudos na forma de texto escrito. Depois, assista à Apresentação Narrada e à
Videoaula, que sintetizam e ampliam conceitos impor tantes sobre o tema da unidade.
Nesta Unidade conheceremos a diferença entre linguagem afetiva e
linguagem intelectiva. Estudaremos também a origem da Estilística e
trataremos do conceito de estilo.
Para um bom aproveitamento na disciplina, é muito impor tante a
interação e o compar tilhamento de ideias para a construção de novos
conhecimentos. Para interagir com os demais colegas e com seu tutor,
utilize as ferramentas de comunicação disponíveis no Ambiente de
Aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb) como Fórum Dúvidas e Mensagens.
A linguagem afetiva
·Introdução
·Estilística
·O que é estilo?
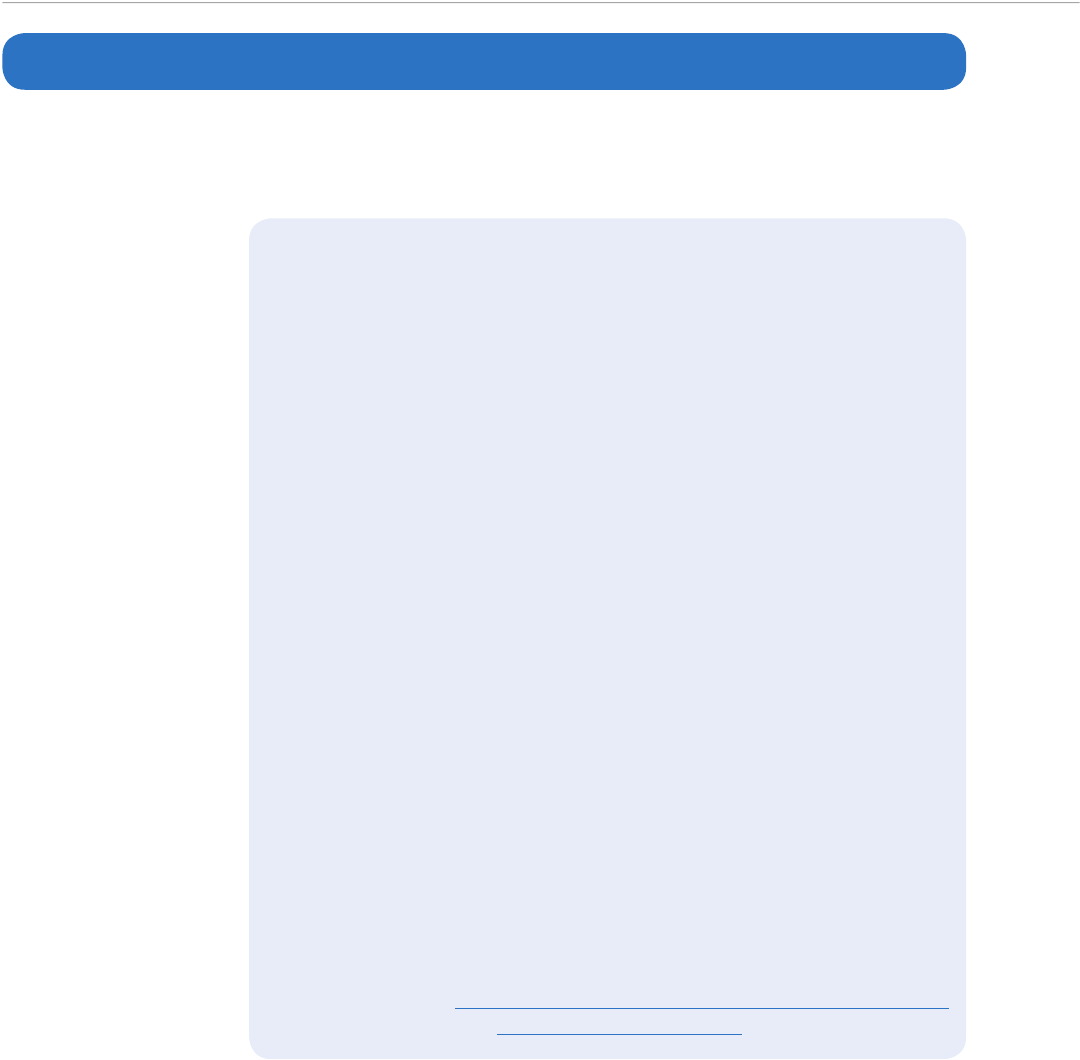
6
Unidade: A linguagem afetiva
Contextualização
Antes de iniciarmos nossos estudos da disciplina Língua Por tuguesa – Estilística e Estudos
Semânticos, convidamos você a ler o trecho a seguir, de Paulo Mendes Campos:
Os diferentes estilos
Estilo interjetivo
Um cadáver! Encontrado em plena madrugada! Em pleno bair ro de
Ipanema! Um homem desconhecido! Coitado! Menos de quarenta anos!
Um que morreu quando a cidade acordava! Que pena!
Estilo colorido
Na hora cor-de-rosa da aurora, à margem da cinzenta Lagoa Rodrigo de
Freitas, um vigia de cor preta encontrou o cadáver de um homem branco,
cabelos louros, olhos azuis, trajando calça amarela, casaco pardo, sapato
marrom, gravata branca com bolinhas azuis. Para este o destino foi negro.
[...]
Estilo então
Então o vigia de uma construção em Ipanema, não tendo sono, saiu então
para passeio de madrugada. Encontrou então o cadáver de um homem.
Resolveu então procurar um guarda. Então o guarda veio e tomou então
as providências necessárias. Aí então eu resolvi te contar isso.
[...]
Estilo preciosista
No crepúsculo matutino de hoje, quando fulgia solitária e longínqua da
Estrela-d´Alva, o atalaia de uma construção civil, que perambulava insone
pela orla sinuosa e murmurante de uma lagoa serena, deparou com a atra
e lúrida visão de um ignoto e gélido ser humano, já eter namente sem o
hausto que vivifica.
(Disponível em http://sites.levelupgames.uol.com.br/forum/ragnarok/showthread.
php?15299-Os-diferentes-estilos. Acesso em 27 dez. 2014.)
Nesse texto, o autor explora, de for ma diver tida, vários modos diferentes de tratar de um
mesmo tema. A leitura permite-nos compreender que os diferentes estilos decorrem das diversas
possibilidades de escolhas que existem no momento de produção de um texto. Nesta unidade,
vamos aprofundar-nos nas questões relativas ao estilo.
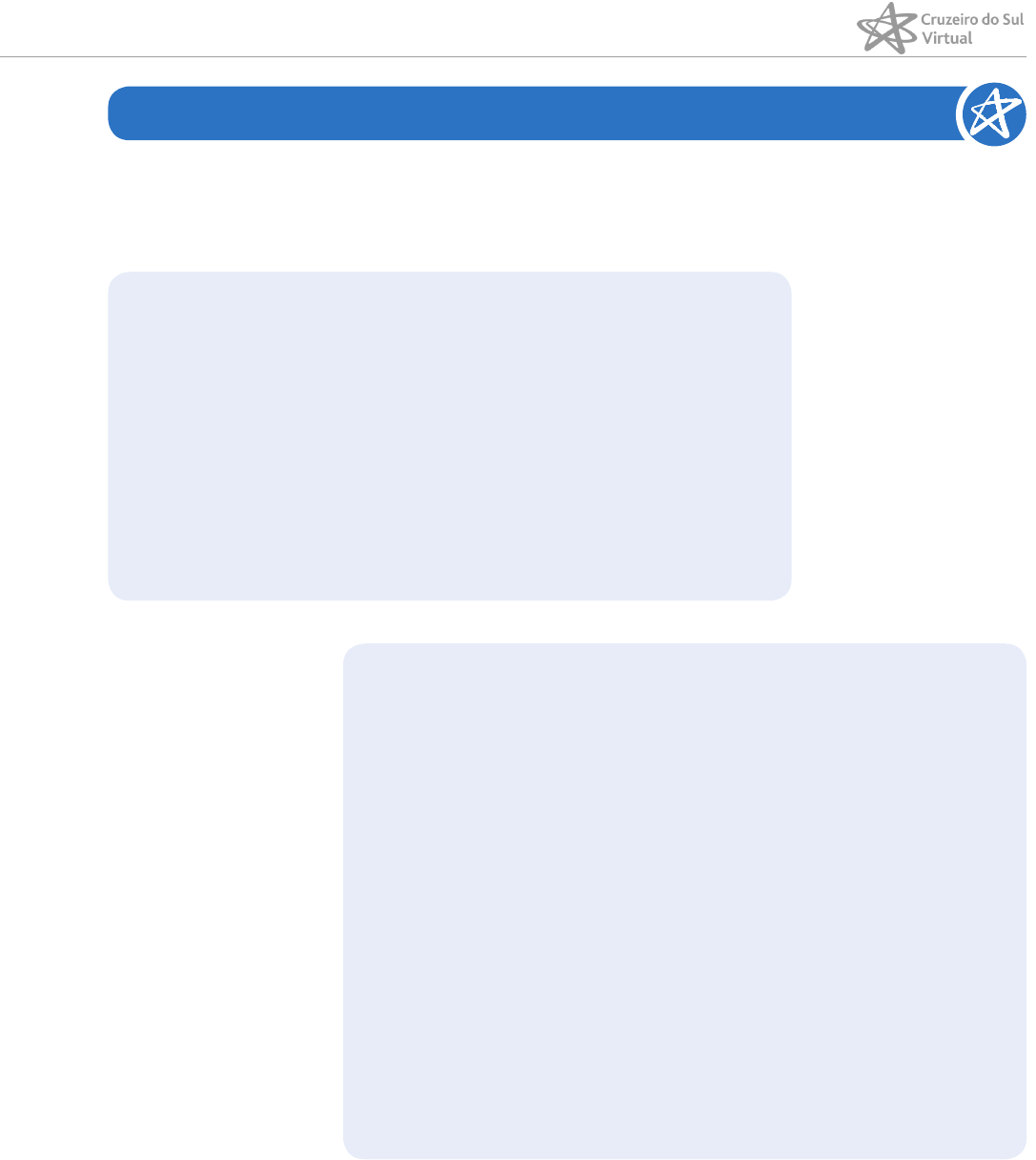
7
Introdução
Caro aluno, antes de iniciarmos o conteúdo desta unidade, convidamos você a ler os
trechos a seguir:
Trecho 1
boca
substantivo feminino
1. aber tura inicial do tubo digestivo dos animais
2. Rubrica: anatomia geral.
nos ver tebrados, cavidade situada na cabeça, delimitada externamente pelos lábios e
internamente pela faringe
3. Rubrica: anatomia geral.
conjunto formado por essa cavidade e as estruturas que a delimitam
(HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Por tuguesa. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2001.)
Trecho 2
Você tem boca de luar, disse o rapaz para a namorada, e a namorada riu, perguntou
ao rapaz que espécie de boca é essa, o rapaz respondeu que é uma boca toda
enluarada, de dentes muito alvos e leitosos, entende? Ela não entendeu bem e
tornou a perguntar, desta vez que lua cor respondia à sua boca, se era crescente,
minguante, cheia ou nova. Ao que o rapaz disse que minguante não podia ser, nem
crescente, nem nova, só podia ser lua cheia, uai.
Aí a moça disse que mineiro tem cada uma, onde é que viu boca de lua cheia, até
parece boca cheia de lua, uma bobice.
O rapaz não gostou de ser chamada de bobice a sua invenção, exclamou
meio espinhado que boca de luar, mesmo sendo boca de luar de lua cheia, é
completamente diferente – insistiu: com-ple-ta-men-te – de boca cheia de lua; é
uma imagem poética e daí isso não tem nada que ver com mineiro, ele até nem
era propriamente mineiro, nasceu em Minas por acaso, seu pai era juiz de direito
numa comarca de lá, mas viera do Rio Grande do Norte, depois o pai deixou a
magistratura e se mudou para São Paulo, onde ele passou a infância, mudando-se
finalmente para o Rio com a família.
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Boca de Luar. Rio de Janeiro: Record, 1984.)
Você pode observar que, no trecho 1, que foi extraído de um dicionário, faz-se uso da
linguagem científica para chegar-se a uma definição objetiva de “boca”. Nesse trecho, não se
percebe um envolvimento pessoal do autor, uma vez que o interesse recai sobre o referente e
não sobre quem o escreveu.
Já no texto 2, ocorre o contrário. A personagem de Drummond não procura definir
objetivamente a boca da namorada, mas o faz de for ma subjetiva, ou seja, ele busca uma forma
pessoal de expressar-se, afastando-se da linguagem do dia a dia. Como a namorada não o
compreendeu bem, ele explicou-lhe o que é uma imagem poética.
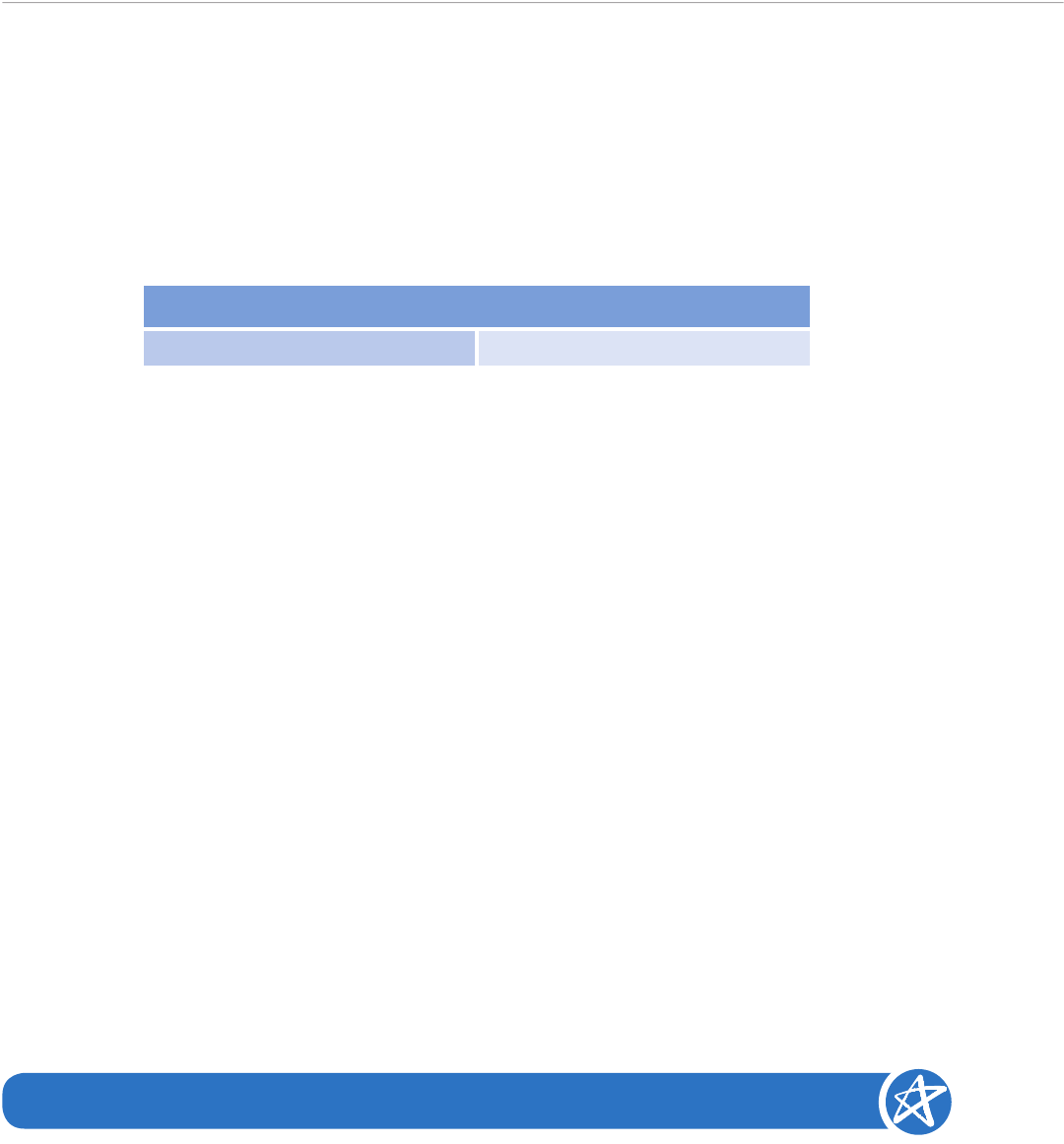
8
Unidade: A linguagem afetiva
Estamos diante, aqui, de dois aspectos diferentes da linguagem verbal (falada ou escrita).
O primeiro aspecto é o intelectivo. Por meio dele, expressa-se o lado racional de quem fala. A
linguagem é dirigida ao conteúdo, busca-se apenas uma for ma de ser compreendido, e “apaga-
se” qualquer envolvimento pessoal do autor. O segundo aspecto é o afetivo. Por meio dele,
fala-se ao coração e à alma. A linguagem tem um componente emocional. Nesse aspecto, não
impor ta apenas comunicar um conteúdo; mas, principalmente, o modo de fazê-lo. Não se busca
a precisão da linguagem; e, muitas vezes, há diferentes possibilidades de interpretação. O que
abordamos até aqui, pode ser resumido no quadro abaixo:
Língua
Intelectiva (Objetiva) Afetiva (Subjetiva
Para compreendermos melhor esses dois aspectos da linguagem, alguns esclarecimentos
são necessários.
Em primeiro lugar, notemos que os dicionários registram, em primeiro lugar, o sentido
primário das palavras (como no trecho 1); mas não ignoram a linguagem afetiva, de modo
que, no Dicionário Houaiss da Língua Por tuguesa, também se registram, no mesmo verbete,
expressões como “boca de fumo”, “boca de siri”, “arrebentar a boca do balão” etc.
Em segundo lugar, não é só no dicionário que isso acontece, ou seja, não podemos dividir
os textos (escritos e falados) de acordo com a presença da linguagem afetiva ou intelectiva, pois
são muito raros os textos em que não há coexistência dos dois aspectos. Em geral, podemos
dizer apenas que, em determinado texto, predomina um ou outro aspecto.
Finalmente, faz-se necessária mais uma adver tência: quando se fala em linguagem afetiva,
não se faz referência apenas à expressão do carinho, como ocorre na fala da personagem do
trecho 2, mas a qualquer manifestação de emotividade, incluindo as que revelam menosprezo,
ironia e até mesmo ódio.
O estudo da expressão da emotividade por meio da linguagem verbal é o objeto da Estilística,
da qual trataremos a seguir.
Estilística
A Estilística surgiu no início do século XX, fundada pelo francês Charles Bally, mas suas
raízes são bem mais antigas. As questões de que trata já eram do interesse de estudiosos da
Antiguidade. Para compreendermos melhor o tema, temos de recuar aos tempos dos antigos e
ao estudo da Retórica.
Entre os gregos, encontram-se, na Antiguidade, figuras de destaque como Platão e Aristóteles;
o primeiro foi um dos precursores a dedicar-se ao estudo da linguagem; o último, autor da
Retórica e da Poética, demonstrou maior preocupação com o valor estético das palavras.
Na verdade, o próprio sistema de governo da Grécia antiga, a democracia, favorecia o
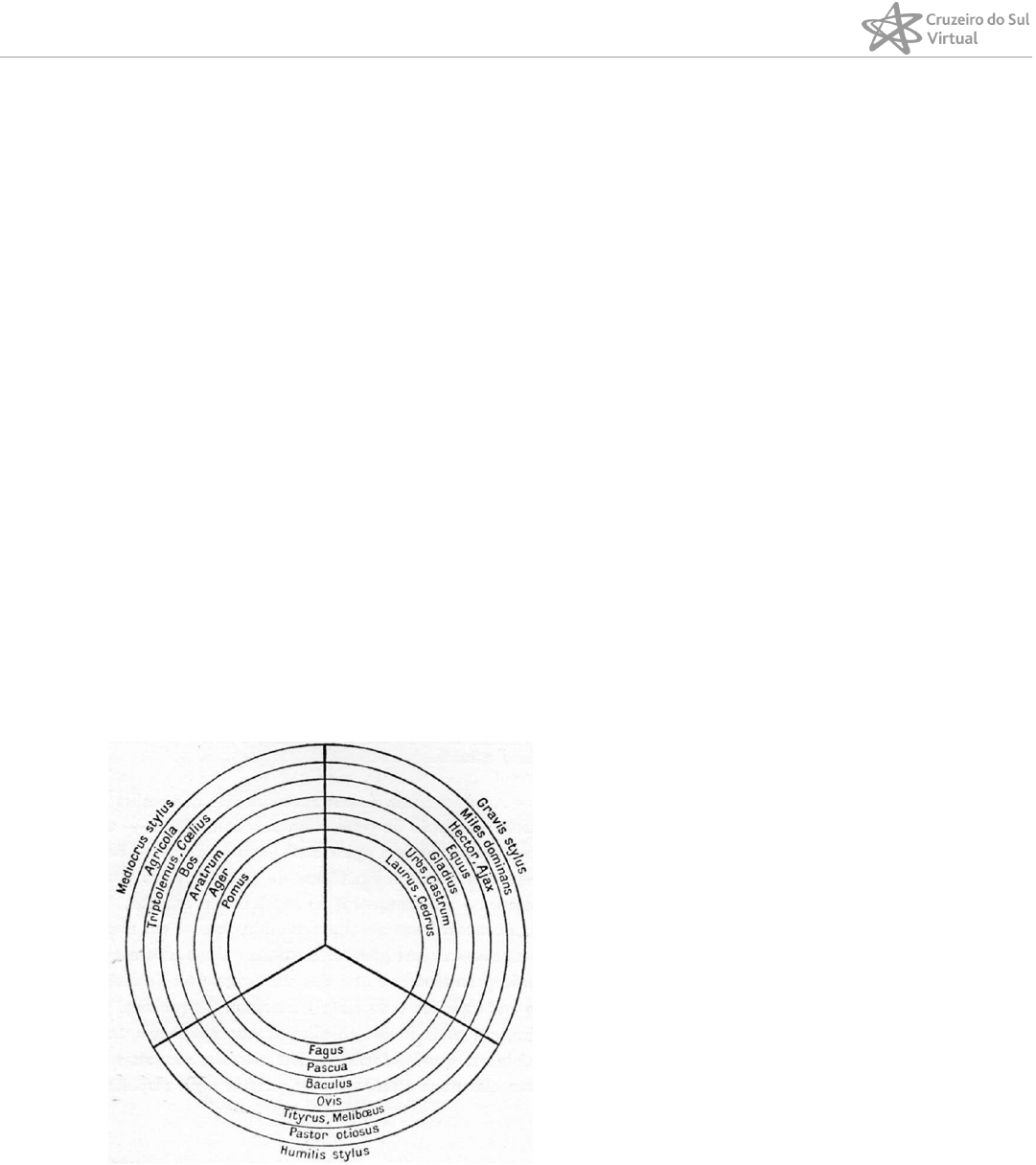
9
interesse pelo domínio da linguagem verbal. É que, nesse sistema, qualquer cidadão livre tinha
direito a opinar e votar a respeito de assuntos do interesse coletivo. Sendo assim, o poder de
convencimento era uma verdadeira ar ma. Entre os oradores gregos, destaca-se Demóstenes
(século IV a. C.).
E os gregos influenciaram os romanos. Durante grande par te da história da civilização
romana, o sistema de governo era chamado república. Nesse sistema, uma das instituições de
grande impor tância política era o senado (constituído por patrícios – nobres de famílias
tradicionais, supostamente descendentes dos fundadores da cidade), onde se tomavam decisões
capitais para a administração pública, além de se elegerem os cônsules (maiores autoridades da
república).
Na república romana havia, também, figuras que representavam a par ticipação popular,
como os tribunos da plebe. Novamente, notamos que a palavra era impor tante meio para
obtenção do poder político nesse sistema. Entre os romanos, destaca-se, entre outros, Cícero
(século I a. C.), autor de Orator (O Orador) e De Oratore (Sobre o Orador), cujos discursos no
senado romano são célebres ainda hoje; e Quintiliano (século I d. C.), autor de De Institutione
Oratoria (algo como “sobre o ensino da oratória”), o qual concebeu a existência de três estilos
básicos: o sublime (ou grave), o médio (ou temperado) e o simples. Posterior mente, esses três
estilos básicos serão representados pelos pensadores da Idade Média na roda de Virgílio ,
associados, respectivamente, à Eneida, às Geórgicas e às Bucólicas, grandes obras da literatura
latina (cf. Guiraud, 1970). Observe a figura a seguir:
Roda de Virgílio
Humilis stylus (estilo simples): pastor
otiosus (o pastor despreocupado), Tityr us e
Meliboeus (personagens das Bucólicas), ovis
(a ovelha), baculus (o cajado), pascua (os
prados), fagus (a faia – arbusto). O vocabulário
remete à vida pastoril.
Mediocrus stylus (estilo médio): agricola
(agricultor), Triptolemus e Coelius
(personagens da Geórgicas), bos (boi), aratum
(arado), ager (campo), pomus (fruto). Os ter mos
remetem ao cotidiano do agricultor.
Gravis stylus (estilo sublime): miles
dominans (o soldado triunfante), Hector e Ajax (personagens da Eneida), equus (o cavalo),
gladius (a espada), urbs (a cidade), castrum (o acampamento), laurus (o louro – símbolo da
vitória), cedrus (o cedro). O vocabulário remete à guerra, valor supremo na Antiguidade.
No princípio é a Retórica, a ar te da persuasão, que se concentra no estudo e na fixação
dos gêneros do discurso e das regras de composição próprias de cada gênero. No século XIX,
período em que os escritores se tornam avessos a regras de composição, a Retórica entra em
decadência (Guiraud, 1970).
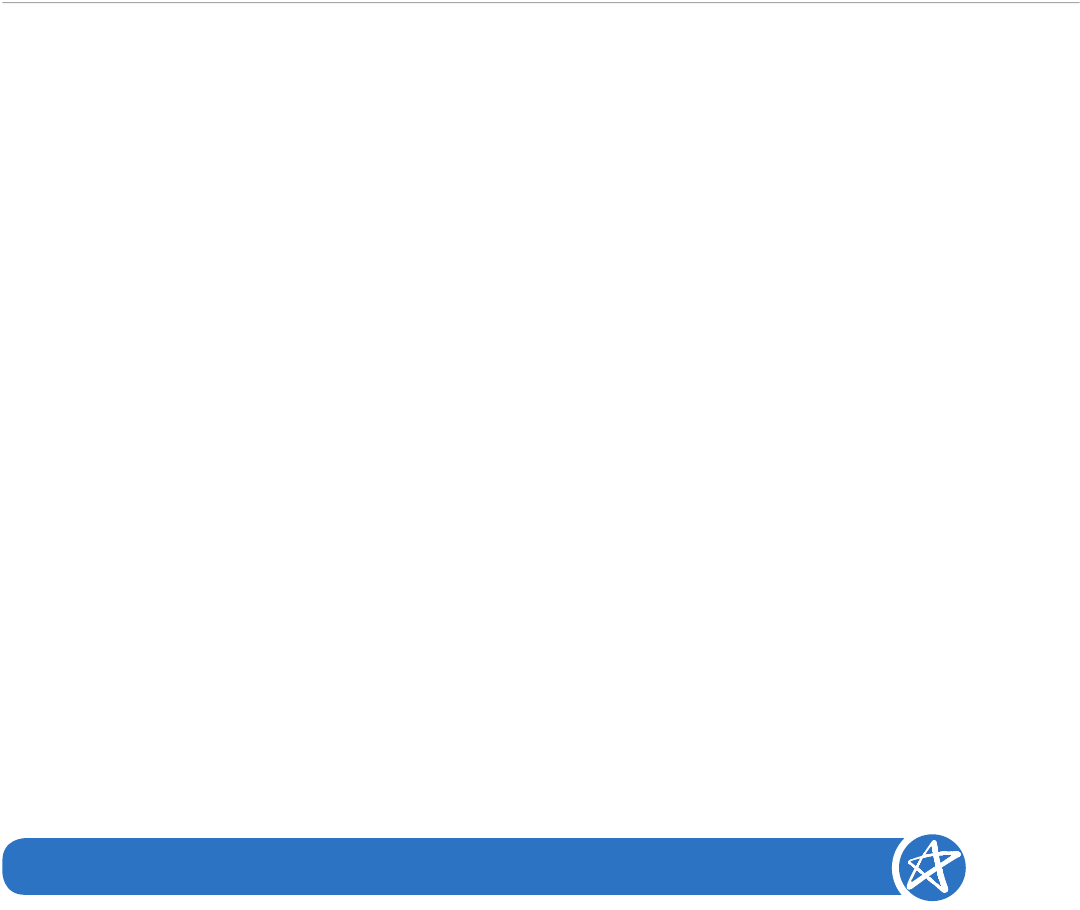
10
Unidade: A linguagem afetiva
Somente no início do século XX, uma nova disciplina vem ocupar o espaço deixado pela
Retórica . É a Estilística que surge para enfocar um terreno renegado pela Linguística do período,
como explicaremos a seguir.
Saussure (s/d), ao lançar as bases da Linguística moderna, cria a dicotomia língua/fala e propõe
que a Linguística centre suas atenções na língua. A língua, nesse contexto, é entendida como coletiva
e homogênea; a fala, individual e heterogênea. Voltando ao início da unidade, estamos dizendo que
Saussure postula que a Linguística deve focar-se no aspecto intelectivo da linguagem.
É exatamente na fala que Bally vai buscar as bases da nova abordagem. Ele propõe motivações
afetivas como origem do fenômeno da expressividade, cabendo à Estilística investigar “a
expressão dos fatos da sensibilidade pela linguagem e a ação dos fatos da linguagem sobre a
sensibilidade” (1952: 16). O trabalho de Bally, portanto, não se opõe ao de Saussure; mas o
complementa. Outras abordagens da Estilística, posteriores a Bally, como as de Vossler, Spitzer
e Jakobson, vão privilegiar o texto literário e não a fala; mas, como não queremos estender-nos
em considerações teóricas, vamos centrar nosso foco na questão da afetividade. Por enquanto,
vamos ficar com as palavras de Mattoso Câmara (1970: 27), o qual obser va que,
quando utilizamos os elementos da língua num dado discurso, raramente o
fazemos para uma comunicação intelectiva pura. Há aí também, subsidiária,
concomitante ou predominantemente, a carga emotiva, que carreia uma
MANIFESTAÇÃO PSÍQUlCA ou um APELO.
Nestas condições, a linguística propriamente dita, ou estudo da LÍNGUA na
acepção saussuriana, não abrange o fenômeno linguístico em sua totalidade.
Ficam de lado as intenções de manifestação psíquica e apelo, que os discursos
individuais, em regra, carreiam em si (destaques do autor).
O que é estilo?
Estilo é uma daquelas palavras que todos conhecem, mas a maioria sente dificuldade de
definir. A palavra “estilo”, como muitas outras, tem um sentido primário concreto, do qual
se derivam outros abstratos. Ela vem do latim stilus ou stylus e dá nome a um instrumento
pontiagudo com o qual se escrevia sobre tábuas cober tas de cera. Desse sentido, deriva-se o
abstrato: “modo de escrever”. Daí, originam-se vários outros. Por exemplo, um comentarista
espor tivo diz que uma equipe tem cer to “estilo de jogo”, ou que um piloto de automobilismo
tem cer to “estilo de pilotagem”. Sobre quem se veste bem, diz-se que se veste “com estilo”. Em
ar te, diferentes períodos são classificados como “estilo barroco”, “estilo romântico” etc. E o que
é estilo para a Estilística?
Essa não é uma pergunta a que se responde facilmente, pois as respostas dividem os próprios
estudiosos da questão, mas vamos tentar.
Em primeiro lugar, podemos dividir as repostas, de acordo com seus autores, em pelo menos
dois grupos. Para autores como Karl Vossler e Dámaso Alonso, o estilo é um conjunto de traços
par ticulares, ou seja, o estilo é individual. No Brasil, seguem essa linha Fiorin (2004: 118-119) e
Discini (2004: 30) entre outros. Bally, assim como Lapa (1975) e Mattoso Câmara (1970), não
veem o estilo como manifestação individual. Nas palavras deste último, o estilo caracteriza-se
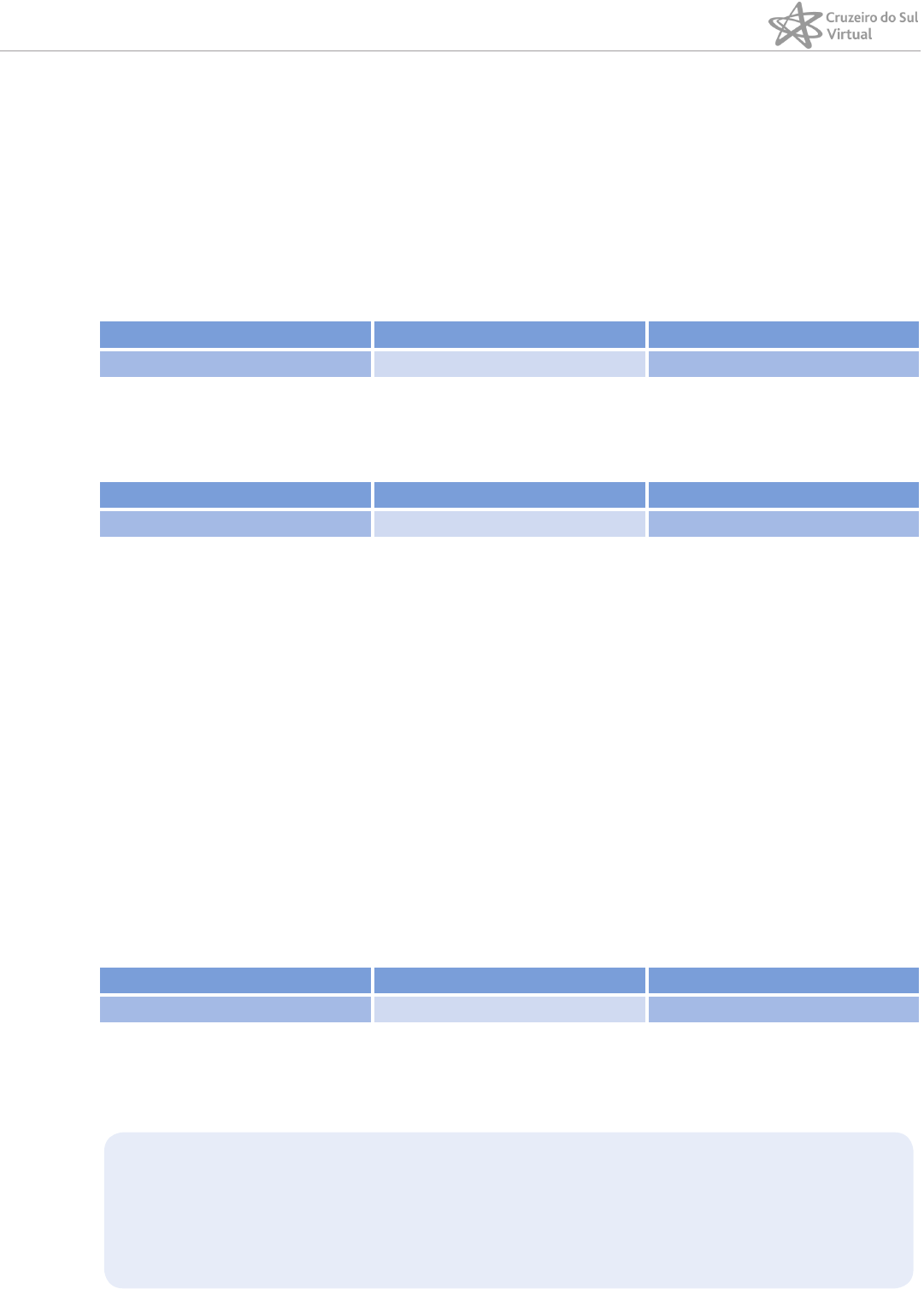
11
por um “desvio da norma linguística assente” (1975: 140). Vamos seguir por este caminho; mas,
antes, temos de entender o que é norma linguística, cor reto?
Vamos pensar no funcionamento da língua. Podemos conceituar a norma linguística
a par tir da análise dos sons da fala (Fonética), de enunciados (Sintaxe), do significado das
palavras (Semântica) ou, simplesmente, de palavras (Mor fologia). Vamos escolher esta última
opção. Tomemos a palavra “descobrimento”. Essa palavra significa “ato ou efeito de descobrir”.
Trata-se de um substantivo formado a par tir de um verbo, com acréscimo de um sufixo
(-mento), por tanto podemos descrever seu processo de formação da forma a seguir:
Verbo Sufixo Substantivo
Descobri(r) -mento Descobrimento
Esse, no entanto, não é o único sufixo de que a língua dispõe para formar substantivos a par tir
de verbos. Outro sufixo é o que ocorre, por exemplo, na palavra “utilização”. Veja o quadro:
Verbo Sufixo Substantivo
Utiliza(r) -ção Utilização
Nesse caso, o substantivo é formado por meio do acréscimo de outro sufixo (-ção).
Existe outro processo além do que vimos, mas vamos analisar esse. Uma vez que podemos
formar substantivos a par tir de verbos por meio de acréscimo de -mento ou -ção, isso significa
que, a par de “descobrimento” poderíamos ter “*descobrição” e, a par de “utilização”,
“*utilizamento”. Por que isso não ocor re? A resposta é simples: não há necessidade de se for mar
mais de um substantivo a par tir de um verbo, a não ser, em casos raros, quando os substantivos
não têm exatamente o mesmo significado. Isso nos mostra que a existência de algumas palavras
é o fato que impede a formação de outras. Assim, dizemos que as for mas “descobrimento” e
“utilização” fazem par te da norma linguística e que as outras possibilidades são desvios em
relação a ela.
Agora, tomemos outro exemplo para compreendermos melhor a questão. Em por tuguês,
existe o sufixo -eza, que forma substantivos a par tir de adjetivos. Por exemplo, de “magro”,
forma-se “magreza”. Obser ve:
Verbo Sufixo Substantivo
Magr(o) -eza Magreza
O poeta Carlos Drummond de Andrade, no entanto, substitui -eza pelo sufixo -dão (que
ocorre em “imensidão”, por exemplo) no trecho que segue:
Era uma vez um ar tista
pelo berço mui dotado.
Ficou a noite mais triste
na tristidão do calado.
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p. 895.)
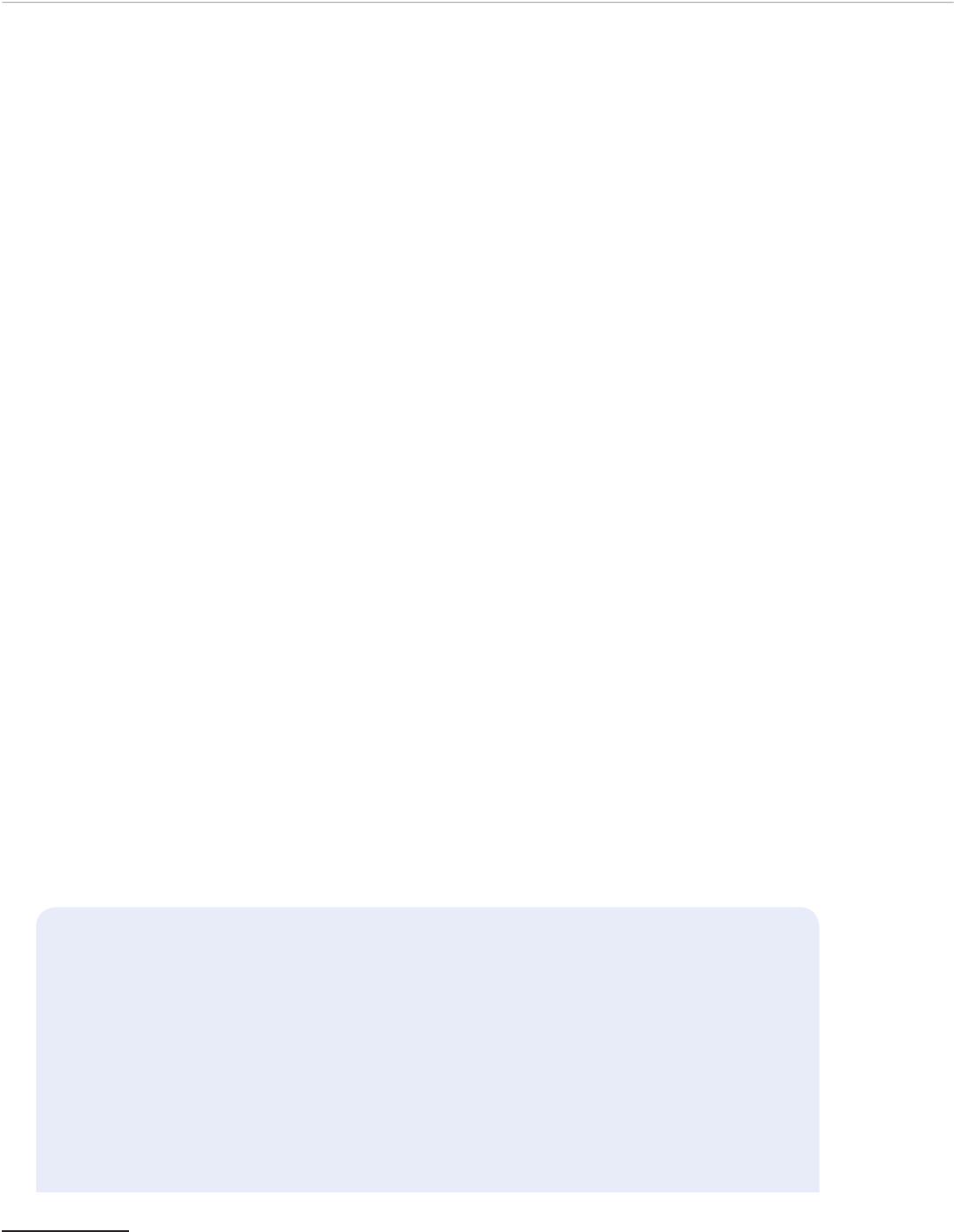
12
Unidade: A linguagem afetiva
Obser ve como a forma “tristidão”, que é um desvio da nor ma (tristeza), parece ampliar a
ideia de melancolia, além de per mitir a associação de tristeza e solidão. Ao efeito de sentido que
se obtém por meio do desvio da norma, dá-se o nome de expressividade1 .
Naturalmente, há vários outros tipos de desvios. Por exemplo, pode-se passar uma palavra
de uma classe para outra, como quando se diz
»“ela usava uma roupa cheguei” (verbo empregado como adjetivo),
»“só gosto de filmes cabeça” (substantivo empregado como adjetivo).
Pode-se, também, transfor mar em substantivo uma oração inteira, como ocor re em
»“quando os policiais chegaram, foi um deus nos acuda”.
Nesses últimos exemplos, podemos notar que os desvios não revelam um modo de expressão
próprio de um autor literário; mas, ao contrário, fazem par te da linguagem do dia a dia. Isso é
um reforço a quem defende a ideia de que o estilo não está no “traço pessoal” (que se opõe ao
coletivo), mas no traço emocional (em oposição ao intelectivo).
Isso nos leva a outra questão. Se aceitarmos o conceito de que o estilo se manifesta pelo desvio
da norma linguística, estaremos afirmando que qualquer desvio é estilístico? A resposta é não.
O desvio só é estilístico quando revela uma intenção expressiva, ou seja, quando se procura
atingir algum efeito de sentido especial.
Vamos tratar do assunto em ter mos práticos. Para isso, vamos colher exemplos da linguagem
do dia a dia. Quando uma pessoa emprega a forma “estrupo” ou “largato” (por “estupro” e
“lagar to”), isso revela apenas o desconhecimento da norma, logo não se trata de um desvio
estilístico. Se tomarmos, no entanto, o termo “aper tamento” (por apar tamento), a alteração da
sonoridade da palavra ser ve a um propósito: combinar os significados de “apar tamento” e de
“aper to”. É uma forma criativa de expressar um julgamento negativo, logo, deve ser entendido
como um desvio estilístico.
Os desvios estilísticos incluem o que, em linguagem mais simples, as pessoas costumam
chamar de “liberdade poética”. É impor tante que isso seja bem compreendido no nosso curso.
Então, vamos a mais um exemplo prático?
Vamos ler o trecho a seguir, do escritor brasileiro Moacyr Scliar:
Nós, o pistoleiro, não devemos ter piedade
Nós somos um terrível pistoleiro. Estamos num bar de uma pequena cidade do Texas. O
ano é 1880. Tomamos uísque a pequenos goles. Nós temos um olhar soturno. Em nosso
passado há muitas mor tes. Temos remorsos. Por isto bebemos.
A por ta se abre. Entra um mexicano chamado Alonso. Dirige-se a nós com desrespeito.
Chama-nos de gringo, ri alto, faz tilintar a espora. Nós fingimos ignorá-lo. Continuamos
bebendo nosso uísque a pequenos goles. O mexicano aproxima-se de nós. Insulta-nos.
Esbofeteia-nos. Nosso coração se confrange. Não queríamos matar mais ninguém. Mas
teremos de abrir uma exceção para Alonso, cão mexicano.
1 Segundo Mattoso Câmara (2004: 114), a expressividade é “a capacidade de fixar e atrair a atenção alheia em referência ao que se
fala ou escreve, constituindo objetivo essencial do esforço estilístico”.
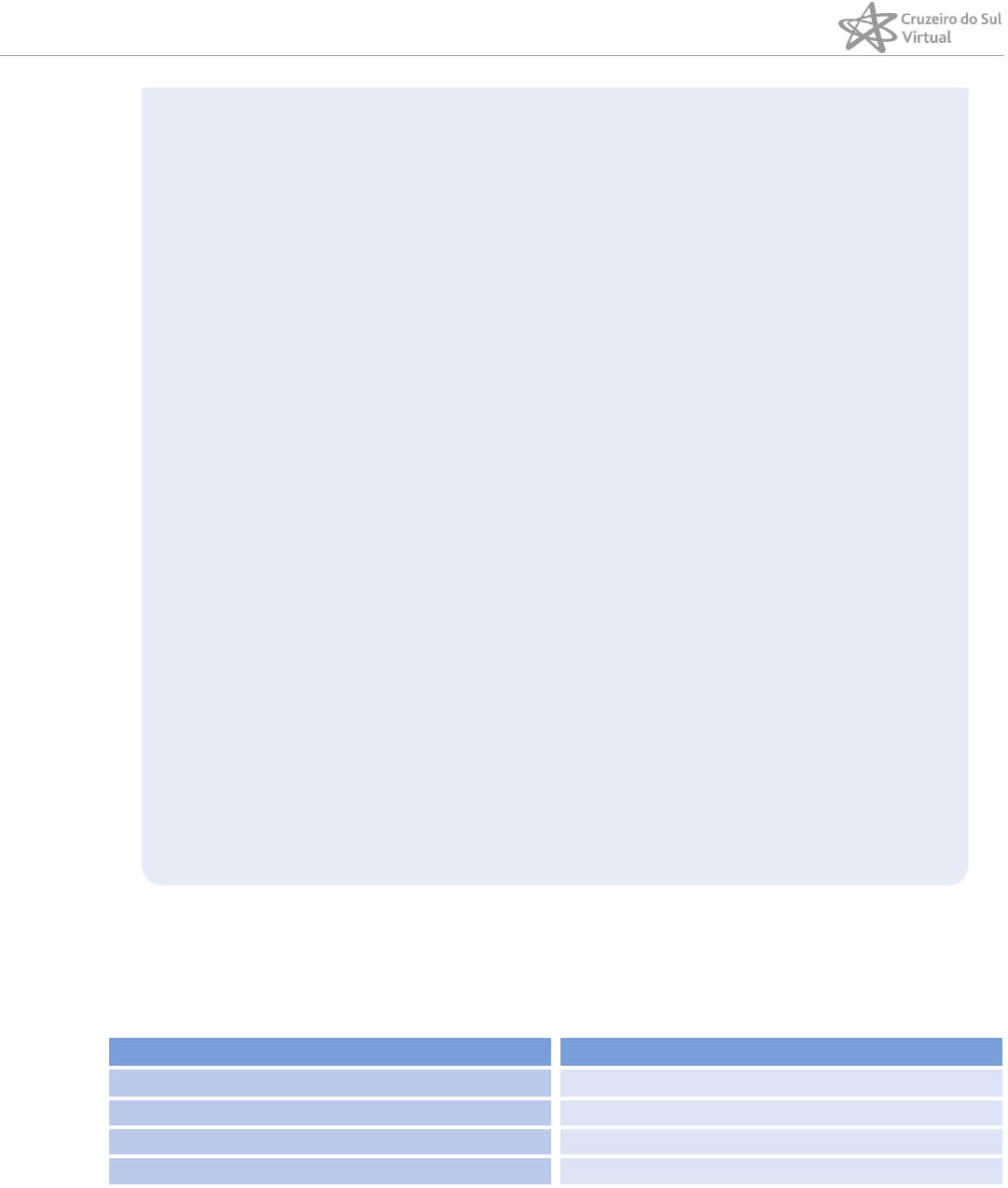
13
Combinamos o duelo para o dia seguinte, ao nascer do sol. Alonso dá-nos mais uma
pequena bofetada e vai-se. Ficamos pensativo, bebendo o uísque a pequenos goles.
Finalmente atiramos uma moeda de ouro sobre o balcão e saímos. Caminhamos
lentamente em direção ao nosso hotel. A população nos olha. Sabe que somos um terrível
pistoleiro. Pobre mexicano, pobre Alonso.
Entramos no hotel, subimos ao quar to, deitamo-nos vestido, de botas. Ficamos olhando o
teto, fumando. Suspiramos. Temos remorsos.
Já é manhã. Levantamo-nos. Colocamos o cinturão. Fazemos a inspeção de rotina em
nossos revólveres. Descemos.
A rua está deser ta, mas por trás das cor tinas corridas adivinhamos os olhos da população
fitos em nós. O vento sopra, levantando pequenos redemoinhos de poeira. Ah, este vento!
Este vento! Quantas vezes nos viu caminhar lentamente, de costas para o sol nascente?
No fim da Rua Alonso nos espera. Quer mesmo mor rer, este mexicano. Colocamo-nos
frente a ele. Vê um pistoleiro de olhar soturno, o mexicano. Seu riso se apaga. Vê muitas
mor tes em nossos olhos. É o que ele vê.
Nós vemos um mexicano. Pobre diabo. Comia o pão de milho, já não comerá. A viúva
e os cinco filhos o enterrarão ao pé da colina. Fecharão a palhoça e seguirão para Vera
Cruz. A filha mais velha se tornará prostituta. O filho menor ladrão.
Temos os olhos turvos. Pobre Alonso. Não devia nos ter dado duas bofetadas. Agora está
aterrorizado. Seus dentes estragados chocalharam. Que coisa triste.
Uma lágrima cai sobre o chão poeirento. É nossa. Levamos a mão ao coldre. Mas não
sacamos. É o mexicano que saca. Vemos a arma na sua mão, ouvimos o disparo, a bala
voa para o nosso peito, aninha-se em nosso coração. Sentimos muita dor e tombamos.
Morremos, diante do riso de Alonso, o mexicano.
Nós, o pistoleiro, não devíamos ter piedade.
(SCLIAR, Moacyr. Folha de São Paulo, 1 jul. 1973.)
A leitura do trecho permite-nos identificar alguns desvios da nor ma linguística em relação
à concordância verbal e nominal pois,frequentemente, há concordância de termos no plural
com outros no singular. Se fôssemos raciocinar pela lógica do “certo e er rado”, encontraríamos
“erros”, por exemplo, nos trechos que seguem:
“Errado” “Certo”
Nós, o pistoleiro Nós, os pistoleiros
Somos um terrível pistoleiro Somos terríveis pistoleiros
Chama-nos de gringo Chama-nos de Gringos
Ficamos pensativo Ficamos pensativos
Agora, vamos imaginar uma situação bastante comum, pela qual você mesmo pode ter
passado em algum momento de sua vida escolar. Digamos que um professor (ou professora)
proponha a leitura desse texto aos alunos de uma classe de escola regular; e, ao final da
leitura, um(a) aluno(a) diga ao (à) professor(a) que o texto contém erros. A essa afir mação,
o(a) professor(a) responderia que não há erros, pois o autor tem “liberdade poética”. O aluno,
provavelmente, pensaria o seguinte: “o autor pode errar só porque é um escritor conhecido. Eu,
como sou um joão-ninguém, quando er ro, recebo um “X” em tinta vermelha no meu texto”.
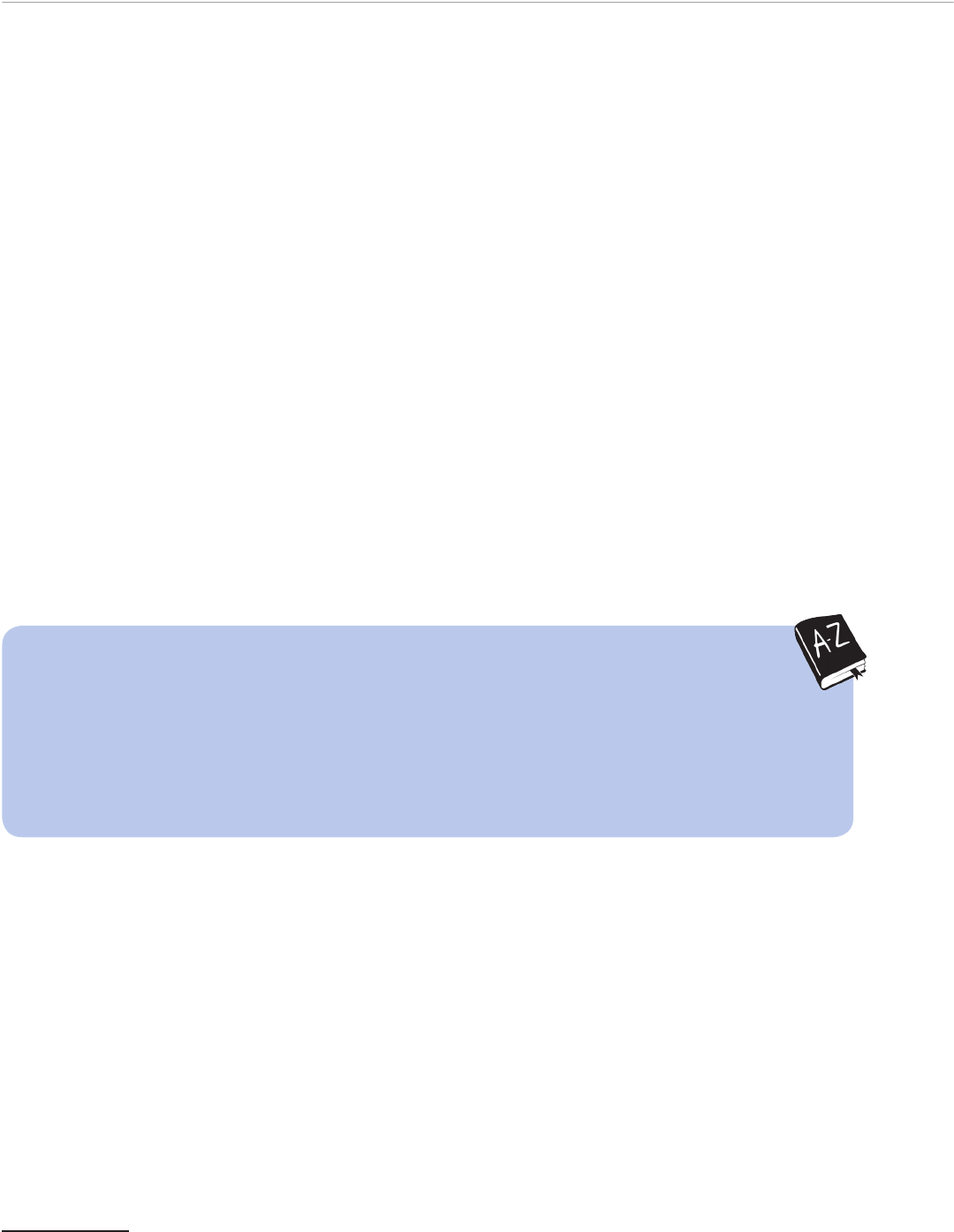
14
Unidade: A linguagem afetiva
Essa situação é bastante comum. O(a) aluno(a) chegou a uma conclusão equivocada porque
não lhe explicaram adequadamente o que é essa tal de “liberdade poética”. Isso não teria
ocorrido se tivesse ficado claro ao (à) aluno(a) que o autor transgrediu as normas gramaticais
com um objetivo (um desvio estilístico). Vamos, então, interpretar esse desvio .
No conto, predomina a análise psicológica do narrador. Ele é um pistoleiro que se arrepende
por ter matado muitas pessoas, por isso não queria matar mais ninguém. Ele sente pena do
mexicano que o desafia e pensa no que aconteceria à família deste, caso ele morresse. Nesse
contexto, o autor, ao usar o plural (“nós, o pistoleiro”), está convidando o leitor a compartilhar
os sentimentos do pistoleiro com ele. Sua intenção é de que o leitor se sinta par te ativa da
narrativa, não simplesmente um espectador2 . Note que isso não ocorreria se a narrativa fosse
em primeira pessoa (“eu, o pistoleiro”) ou em terceira pessoa (“ele, o pistoleiro”).
Ter um objetivo, uma intenção de produzir diferentes sentidos ao fazer um desvio é o que
diferencia erro de “liberdade poética”. Assim fica mais fácil compreender e analisar os efeitos de
sentidos dos muitos textos que lemos e muito do que ouvimos, não é mesmo?
Nessa unidade, vimos o que é linguagem afetiva, tivemos um primeiro contato com a Estilística
e conceituamos o que é estilo.
Nas unidades a seguir, veremos os campos em que se divide a Estilística de acordo com os
recursos expressivos. Não se esqueça de consultar o material complementar para aprofundar
seus conhecimentos.
Glossário
Adjetivo: palavra que se liga a um substantivo para expressar uma característica: “dia quente”.
Substantivo: palavra que nomeia seres, ações, características, sentimentos etc.
Sufixo: mor fema que se pospõe ao radical, como -eza em “clareza”.
Verbo: palavra variável em tempo, modo, número e pessoa. Semanticamente, expressa um fato
(ação, estado).
2 Recurso semelhante é utilizado por Machado de Assis no conto O cônego ou metafísica do estilo. Disponível em http://machado.mec.
gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf
Prévia do material em texto
5 Trataremos, nesta unidade, da diferença entre a linguagem afetiva e a linguagem intelectiva. Também estudaremos a origem da Estilística e trataremos do conceito de estilo. Para obter um bom desempenho, você deve percorrer todos os espaços, materiais e atividades disponibilizadas na unidade. Comece seus estudos pela leitura do Conteúdo Teórico. Nele, você encontrará o material principal de estudos na forma de texto escrito. Depois, assista à Apresentação Narrada e à Videoaula, que sintetizam e ampliam conceitos importantes sobre o tema da unidade. Nesta Unidade conheceremos a diferença entre linguagem afetiva e linguagem intelectiva. Estudaremos também a origem da Estilística e trataremos do conceito de estilo. Para um bom aproveitamento na disciplina, é muito importante a interação e o compartilhamento de ideias para a construção de novos conhecimentos. Para interagir com os demais colegas e com seu tutor, utilize as ferramentas de comunicação disponíveis no Ambiente de Aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb) como Fórum Dúvidas e Mensagens. A linguagem afetiva · Introdução · Estilística · O que é estilo? 6 Unidade: A linguagem afetiva Contextualização Antes de iniciarmos nossos estudos da disciplina Língua Portuguesa – Estilística e Estudos Semânticos, convidamos você a ler o trecho a seguir, de Paulo Mendes Campos: Os diferentes estilos Estilo interjetivo Um cadáver! Encontrado em plena madrugada! Em pleno bairro de Ipanema! Um homem desconhecido! Coitado! Menos de quarenta anos! Um que morreu quando a cidade acordava! Que pena! Estilo colorido Na hora cor-de-rosa da aurora, à margem da cinzenta Lagoa Rodrigo de Freitas, um vigia de cor preta encontrou o cadáver de um homem branco, cabelos louros, olhos azuis, trajando calça amarela, casaco pardo, sapato marrom, gravata branca com bolinhas azuis. Para este o destino foi negro. [...] Estilo então Então o vigia de uma construção em Ipanema, não tendo sono, saiu então para passeio de madrugada. Encontrou então o cadáver de um homem. Resolveu então procurar um guarda. Então o guarda veio e tomou então as providências necessárias. Aí então eu resolvi te contar isso. [...] Estilo preciosista No crepúsculo matutino de hoje, quando fulgia solitária e longínqua da Estrela-d´Alva, o atalaia de uma construção civil, que perambulava insone pela orla sinuosa e murmurante de uma lagoa serena, deparou com a atra e lúrida visão de um ignoto e gélido ser humano, já eternamente sem o hausto que vivifica. (Disponível em http://sites.levelupgames.uol.com.br/forum/ragnarok/showthread. php?15299-Os-diferentes-estilos. Acesso em 27 dez. 2014.) Nesse texto, o autor explora, de forma divertida, vários modos diferentes de tratar de um mesmo tema. A leitura permite-nos compreender que os diferentes estilos decorrem das diversas possibilidades de escolhas que existem no momento de produção de um texto. Nesta unidade, vamos aprofundar-nos nas questões relativas ao estilo. 7 Introdução Caro aluno, antes de iniciarmos o conteúdo desta unidade, convidamos você a ler os trechos a seguir: Trecho 1 boca substantivo feminino 1. abertura inicial do tubo digestivo dos animais 2. Rubrica: anatomia geral. nos vertebrados, cavidade situada na cabeça, delimitada externamente pelos lábios e internamente pela faringe 3. Rubrica: anatomia geral. conjunto formado por essa cavidade e as estruturas que a delimitam (HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.) Trecho 2 Você tem boca de luar, disse o rapaz para a namorada, e a namorada riu, perguntou ao rapaz que espécie de boca é essa, o rapaz respondeu que é uma boca toda enluarada, de dentes muito alvos e leitosos, entende? Ela não entendeu bem e tornou a perguntar, desta vez que lua correspondia à sua boca, se era crescente, minguante, cheia ou nova. Ao que o rapaz disse que minguante não podia ser, nem crescente, nem nova, só podia ser lua cheia, uai. Aí a moça disse que mineiro tem cada uma, onde é que viu boca de lua cheia, até parece boca cheia de lua, uma bobice. O rapaz não gostou de ser chamada de bobice a sua invenção, exclamou meio espinhado que boca de luar, mesmo sendo boca de luar de lua cheia, é completamente diferente – insistiu: com-ple-ta-men-te – de boca cheia de lua; é uma imagem poética e daí isso não tem nada que ver com mineiro, ele até nem era propriamente mineiro, nasceu em Minas por acaso, seu pai era juiz de direito numa comarca de lá, mas viera do Rio Grande do Norte, depois o pai deixou a magistratura e se mudou para São Paulo, onde ele passou a infância, mudando-se finalmente para o Rio com a família. (ANDRADE, Carlos Drummond de. Boca de Luar. Rio de Janeiro: Record, 1984.) Você pode observar que, no trecho 1, que foi extraído de um dicionário, faz-se uso da linguagem científica para chegar-se a uma definição objetiva de “boca”. Nesse trecho, não se percebe um envolvimento pessoal do autor, uma vez que o interesse recai sobre o referente e não sobre quem o escreveu. Já no texto 2, ocorre o contrário. A personagem de Drummond não procura definir objetivamente a boca da namorada, mas o faz de forma subjetiva, ou seja, ele busca uma forma pessoal de expressar-se, afastando-se da linguagem do dia a dia. Como a namorada não o compreendeu bem, ele explicou-lhe o que é uma imagem poética. 8 Unidade: A linguagem afetiva Estamos diante, aqui, de dois aspectos diferentes da linguagem verbal (falada ou escrita). O primeiro aspecto é o intelectivo. Por meio dele, expressa-se o lado racional de quem fala. A linguagem é dirigida ao conteúdo, busca-se apenas uma forma de ser compreendido, e “apaga- se” qualquer envolvimento pessoal do autor. O segundo aspecto é o afetivo. Por meio dele, fala-se ao coração e à alma. A linguagem tem um componente emocional. Nesse aspecto, não importa apenas comunicar um conteúdo; mas, principalmente, o modo de fazê-lo. Não se busca a precisão da linguagem; e, muitas vezes, há diferentes possibilidades de interpretação. O que abordamos até aqui, pode ser resumido no quadro abaixo: Língua Intelectiva (Objetiva) Afetiva (Subjetiva Para compreendermos melhor esses dois aspectos da linguagem, alguns esclarecimentos são necessários. Em primeiro lugar, notemos que os dicionários registram, em primeiro lugar, o sentido primário das palavras (como no trecho 1); mas não ignoram a linguagem afetiva, de modo que, no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, também se registram, no mesmo verbete, expressões como “boca de fumo”, “boca de siri”, “arrebentar a boca do balão” etc. Em segundo lugar, não é só no dicionário que isso acontece, ou seja, não podemos dividir os textos (escritos e falados) de acordo com a presença da linguagem afetiva ou intelectiva, pois são muito raros os textos em que não há coexistência dos dois aspectos. Em geral, podemos dizer apenas que, em determinado texto, predomina um ou outro aspecto. Finalmente, faz-se necessária mais uma advertência: quando se fala em linguagem afetiva, não se faz referência apenas à expressão do carinho, como ocorre na fala da personagem do trecho 2, mas a qualquer manifestação de emotividade, incluindo as que revelam menosprezo, ironia e até mesmo ódio. O estudo da expressão da emotividade por meio da linguagem verbal é o objeto da Estilística, da qual trataremos a seguir. Estilística A Estilística surgiu no início do século XX, fundada pelo francês Charles Bally, mas suas raízes são bem mais antigas. As questões de que trata já eram do interesse de estudiosos da Antiguidade. Para compreendermos melhor o tema, temos de recuar aos tempos dos antigos e ao estudo da Retórica. Entre os gregos, encontram-se, na Antiguidade, figuras de destaque como Platão e Aristóteles; o primeiro foi um dos precursores adedicar-se ao estudo da linguagem; o último, autor da Retórica e da Poética, demonstrou maior preocupação com o valor estético das palavras. Na verdade, o próprio sistema de governo da Grécia antiga, a democracia, favorecia o 9 interesse pelo domínio da linguagem verbal. É que, nesse sistema, qualquer cidadão livre tinha direito a opinar e votar a respeito de assuntos do interesse coletivo. Sendo assim, o poder de convencimento era uma verdadeira arma. Entre os oradores gregos, destaca-se Demóstenes (século IV a. C.). E os gregos influenciaram os romanos. Durante grande parte da história da civilização romana, o sistema de governo era chamado república. Nesse sistema, uma das instituições de grande importância política era o senado (constituído por patrícios – nobres de famílias tradicionais, supostamente descendentes dos fundadores da cidade), onde se tomavam decisões capitais para a administração pública, além de se elegerem os cônsules (maiores autoridades da república). Na república romana havia, também, figuras que representavam a participação popular, como os tribunos da plebe. Novamente, notamos que a palavra era importante meio para obtenção do poder político nesse sistema. Entre os romanos, destaca-se, entre outros, Cícero (século I a. C.), autor de Orator (O Orador) e De Oratore (Sobre o Orador), cujos discursos no senado romano são célebres ainda hoje; e Quintiliano (século I d. C.), autor de De Institutione Oratoria (algo como “sobre o ensino da oratória”), o qual concebeu a existência de três estilos básicos: o sublime (ou grave), o médio (ou temperado) e o simples. Posteriormente, esses três estilos básicos serão representados pelos pensadores da Idade Média na roda de Virgílio , associados, respectivamente, à Eneida, às Geórgicas e às Bucólicas, grandes obras da literatura latina (cf. Guiraud, 1970). Observe a figura a seguir: Roda de Virgílio Humilis stylus (estilo simples): pastor otiosus (o pastor despreocupado), Tityrus e Meliboeus (personagens das Bucólicas), ovis (a ovelha), baculus (o cajado), pascua (os prados), fagus (a faia – arbusto). O vocabulário remete à vida pastoril. Mediocrus stylus (estilo médio): agricola (agricultor), Triptolemus e Coelius (personagens da Geórgicas), bos (boi), aratum (arado), ager (campo), pomus (fruto). Os termos remetem ao cotidiano do agricultor. Gravis stylus (estilo sublime): miles dominans (o soldado triunfante), Hector e Ajax (personagens da Eneida), equus (o cavalo), gladius (a espada), urbs (a cidade), castrum (o acampamento), laurus (o louro – símbolo da vitória), cedrus (o cedro). O vocabulário remete à guerra, valor supremo na Antiguidade. No princípio é a Retórica, a arte da persuasão, que se concentra no estudo e na fixação dos gêneros do discurso e das regras de composição próprias de cada gênero. No século XIX, período em que os escritores se tornam avessos a regras de composição, a Retórica entra em decadência (Guiraud, 1970). 10 Unidade: A linguagem afetiva Somente no início do século XX, uma nova disciplina vem ocupar o espaço deixado pela Retórica . É a Estilística que surge para enfocar um terreno renegado pela Linguística do período, como explicaremos a seguir. Saussure (s/d), ao lançar as bases da Linguística moderna, cria a dicotomia língua/fala e propõe que a Linguística centre suas atenções na língua. A língua, nesse contexto, é entendida como coletiva e homogênea; a fala, individual e heterogênea. Voltando ao início da unidade, estamos dizendo que Saussure postula que a Linguística deve focar-se no aspecto intelectivo da linguagem. É exatamente na fala que Bally vai buscar as bases da nova abordagem. Ele propõe motivações afetivas como origem do fenômeno da expressividade, cabendo à Estilística investigar “a expressão dos fatos da sensibilidade pela linguagem e a ação dos fatos da linguagem sobre a sensibilidade” (1952: 16). O trabalho de Bally, portanto, não se opõe ao de Saussure; mas o complementa. Outras abordagens da Estilística, posteriores a Bally, como as de Vossler, Spitzer e Jakobson, vão privilegiar o texto literário e não a fala; mas, como não queremos estender-nos em considerações teóricas, vamos centrar nosso foco na questão da afetividade. Por enquanto, vamos ficar com as palavras de Mattoso Câmara (1970: 27), o qual observa que, quando utilizamos os elementos da língua num dado discurso, raramente o fazemos para uma comunicação intelectiva pura. Há aí também, subsidiária, concomitante ou predominantemente, a carga emotiva, que carreia uma MANIFESTAÇÃO PSÍQUlCA ou um APELO. Nestas condições, a linguística propriamente dita, ou estudo da LÍNGUA na acepção saussuriana, não abrange o fenômeno linguístico em sua totalidade. Ficam de lado as intenções de manifestação psíquica e apelo, que os discursos individuais, em regra, carreiam em si (destaques do autor). O que é estilo? Estilo é uma daquelas palavras que todos conhecem, mas a maioria sente dificuldade de definir. A palavra “estilo”, como muitas outras, tem um sentido primário concreto, do qual se derivam outros abstratos. Ela vem do latim stilus ou stylus e dá nome a um instrumento pontiagudo com o qual se escrevia sobre tábuas cobertas de cera. Desse sentido, deriva-se o abstrato: “modo de escrever”. Daí, originam-se vários outros. Por exemplo, um comentarista esportivo diz que uma equipe tem certo “estilo de jogo”, ou que um piloto de automobilismo tem certo “estilo de pilotagem”. Sobre quem se veste bem, diz-se que se veste “com estilo”. Em arte, diferentes períodos são classificados como “estilo barroco”, “estilo romântico” etc. E o que é estilo para a Estilística? Essa não é uma pergunta a que se responde facilmente, pois as respostas dividem os próprios estudiosos da questão, mas vamos tentar. Em primeiro lugar, podemos dividir as repostas, de acordo com seus autores, em pelo menos dois grupos. Para autores como Karl Vossler e Dámaso Alonso, o estilo é um conjunto de traços particulares, ou seja, o estilo é individual. No Brasil, seguem essa linha Fiorin (2004: 118-119) e Discini (2004: 30) entre outros. Bally, assim como Lapa (1975) e Mattoso Câmara (1970), não veem o estilo como manifestação individual. Nas palavras deste último, o estilo caracteriza-se 11 por um “desvio da norma linguística assente” (1975: 140). Vamos seguir por este caminho; mas, antes, temos de entender o que é norma linguística, correto? Vamos pensar no funcionamento da língua. Podemos conceituar a norma linguística a partir da análise dos sons da fala (Fonética), de enunciados (Sintaxe), do significado das palavras (Semântica) ou, simplesmente, de palavras (Morfologia). Vamos escolher esta última opção. Tomemos a palavra “descobrimento”. Essa palavra significa “ato ou efeito de descobrir”. Trata-se de um substantivo formado a partir de um verbo, com acréscimo de um sufixo (-mento), portanto podemos descrever seu processo de formação da forma a seguir: Verbo Sufixo Substantivo Descobri(r) -mento Descobrimento Esse, no entanto, não é o único sufixo de que a língua dispõe para formar substantivos a partir de verbos. Outro sufixo é o que ocorre, por exemplo, na palavra “utilização”. Veja o quadro: Verbo Sufixo Substantivo Utiliza(r) -ção Utilização Nesse caso, o substantivo é formado por meio do acréscimo de outro sufixo (-ção). Existe outro processo além do que vimos, mas vamos analisar esse. Uma vez que podemos formar substantivos a partir de verbos por meio de acréscimo de -mento ou -ção, isso significa que, a par de “descobrimento” poderíamos ter “*descobrição” e, a par de “utilização”, “*utilizamento”. Por que isso não ocorre? A resposta é simples: não há necessidade de se formar mais de um substantivo a partir de um verbo, a não ser, em casos raros, quando os substantivos não têm exatamente o mesmo significado.Isso nos mostra que a existência de algumas palavras é o fato que impede a formação de outras. Assim, dizemos que as formas “descobrimento” e “utilização” fazem parte da norma linguística e que as outras possibilidades são desvios em relação a ela. Agora, tomemos outro exemplo para compreendermos melhor a questão. Em português, existe o sufixo -eza, que forma substantivos a partir de adjetivos. Por exemplo, de “magro”, forma-se “magreza”. Observe: Verbo Sufixo Substantivo Magr(o) -eza Magreza O poeta Carlos Drummond de Andrade, no entanto, substitui -eza pelo sufixo -dão (que ocorre em “imensidão”, por exemplo) no trecho que segue: Era uma vez um artista pelo berço mui dotado. Ficou a noite mais triste na tristidão do calado. (ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p. 895.) 12 Unidade: A linguagem afetiva Observe como a forma “tristidão”, que é um desvio da norma (tristeza), parece ampliar a ideia de melancolia, além de permitir a associação de tristeza e solidão. Ao efeito de sentido que se obtém por meio do desvio da norma, dá-se o nome de expressividade1 . Naturalmente, há vários outros tipos de desvios. Por exemplo, pode-se passar uma palavra de uma classe para outra, como quando se diz » “ela usava uma roupa cheguei” (verbo empregado como adjetivo), » “só gosto de filmes cabeça” (substantivo empregado como adjetivo). Pode-se, também, transformar em substantivo uma oração inteira, como ocorre em » “quando os policiais chegaram, foi um deus nos acuda”. Nesses últimos exemplos, podemos notar que os desvios não revelam um modo de expressão próprio de um autor literário; mas, ao contrário, fazem parte da linguagem do dia a dia. Isso é um reforço a quem defende a ideia de que o estilo não está no “traço pessoal” (que se opõe ao coletivo), mas no traço emocional (em oposição ao intelectivo). Isso nos leva a outra questão. Se aceitarmos o conceito de que o estilo se manifesta pelo desvio da norma linguística, estaremos afirmando que qualquer desvio é estilístico? A resposta é não. O desvio só é estilístico quando revela uma intenção expressiva, ou seja, quando se procura atingir algum efeito de sentido especial. Vamos tratar do assunto em termos práticos. Para isso, vamos colher exemplos da linguagem do dia a dia. Quando uma pessoa emprega a forma “estrupo” ou “largato” (por “estupro” e “lagarto”), isso revela apenas o desconhecimento da norma, logo não se trata de um desvio estilístico. Se tomarmos, no entanto, o termo “apertamento” (por apartamento), a alteração da sonoridade da palavra serve a um propósito: combinar os significados de “apartamento” e de “aperto”. É uma forma criativa de expressar um julgamento negativo, logo, deve ser entendido como um desvio estilístico. Os desvios estilísticos incluem o que, em linguagem mais simples, as pessoas costumam chamar de “liberdade poética”. É importante que isso seja bem compreendido no nosso curso. Então, vamos a mais um exemplo prático? Vamos ler o trecho a seguir, do escritor brasileiro Moacyr Scliar: Nós, o pistoleiro, não devemos ter piedade Nós somos um terrível pistoleiro. Estamos num bar de uma pequena cidade do Texas. O ano é 1880. Tomamos uísque a pequenos goles. Nós temos um olhar soturno. Em nosso passado há muitas mortes. Temos remorsos. Por isto bebemos. A porta se abre. Entra um mexicano chamado Alonso. Dirige-se a nós com desrespeito. Chama-nos de gringo, ri alto, faz tilintar a espora. Nós fingimos ignorá-lo. Continuamos bebendo nosso uísque a pequenos goles. O mexicano aproxima-se de nós. Insulta-nos. Esbofeteia-nos. Nosso coração se confrange. Não queríamos matar mais ninguém. Mas teremos de abrir uma exceção para Alonso, cão mexicano. 1 Segundo Mattoso Câmara (2004: 114), a expressividade é “a capacidade de fixar e atrair a atenção alheia em referência ao que se fala ou escreve, constituindo objetivo essencial do esforço estilístico”. 13 Combinamos o duelo para o dia seguinte, ao nascer do sol. Alonso dá-nos mais uma pequena bofetada e vai-se. Ficamos pensativo, bebendo o uísque a pequenos goles. Finalmente atiramos uma moeda de ouro sobre o balcão e saímos. Caminhamos lentamente em direção ao nosso hotel. A população nos olha. Sabe que somos um terrível pistoleiro. Pobre mexicano, pobre Alonso. Entramos no hotel, subimos ao quarto, deitamo-nos vestido, de botas. Ficamos olhando o teto, fumando. Suspiramos. Temos remorsos. Já é manhã. Levantamo-nos. Colocamos o cinturão. Fazemos a inspeção de rotina em nossos revólveres. Descemos. A rua está deserta, mas por trás das cortinas corridas adivinhamos os olhos da população fitos em nós. O vento sopra, levantando pequenos redemoinhos de poeira. Ah, este vento! Este vento! Quantas vezes nos viu caminhar lentamente, de costas para o sol nascente? No fim da Rua Alonso nos espera. Quer mesmo morrer, este mexicano. Colocamo-nos frente a ele. Vê um pistoleiro de olhar soturno, o mexicano. Seu riso se apaga. Vê muitas mortes em nossos olhos. É o que ele vê. Nós vemos um mexicano. Pobre diabo. Comia o pão de milho, já não comerá. A viúva e os cinco filhos o enterrarão ao pé da colina. Fecharão a palhoça e seguirão para Vera Cruz. A filha mais velha se tornará prostituta. O filho menor ladrão. Temos os olhos turvos. Pobre Alonso. Não devia nos ter dado duas bofetadas. Agora está aterrorizado. Seus dentes estragados chocalharam. Que coisa triste. Uma lágrima cai sobre o chão poeirento. É nossa. Levamos a mão ao coldre. Mas não sacamos. É o mexicano que saca. Vemos a arma na sua mão, ouvimos o disparo, a bala voa para o nosso peito, aninha-se em nosso coração. Sentimos muita dor e tombamos. Morremos, diante do riso de Alonso, o mexicano. Nós, o pistoleiro, não devíamos ter piedade. (SCLIAR, Moacyr. Folha de São Paulo, 1 jul. 1973.) A leitura do trecho permite-nos identificar alguns desvios da norma linguística em relação à concordância verbal e nominal pois,frequentemente, há concordância de termos no plural com outros no singular. Se fôssemos raciocinar pela lógica do “certo e errado”, encontraríamos “erros”, por exemplo, nos trechos que seguem: “Errado” “Certo” Nós, o pistoleiro Nós, os pistoleiros Somos um terrível pistoleiro Somos terríveis pistoleiros Chama-nos de gringo Chama-nos de Gringos Ficamos pensativo Ficamos pensativos Agora, vamos imaginar uma situação bastante comum, pela qual você mesmo pode ter passado em algum momento de sua vida escolar. Digamos que um professor (ou professora) proponha a leitura desse texto aos alunos de uma classe de escola regular; e, ao final da leitura, um(a) aluno(a) diga ao (à) professor(a) que o texto contém erros. A essa afirmação, o(a) professor(a) responderia que não há erros, pois o autor tem “liberdade poética”. O aluno, provavelmente, pensaria o seguinte: “o autor pode errar só porque é um escritor conhecido. Eu, como sou um joão-ninguém, quando erro, recebo um “X” em tinta vermelha no meu texto”. 14 Unidade: A linguagem afetiva Essa situação é bastante comum. O(a) aluno(a) chegou a uma conclusão equivocada porque não lhe explicaram adequadamente o que é essa tal de “liberdade poética”. Isso não teria ocorrido se tivesse ficado claro ao (à) aluno(a) que o autor transgrediu as normas gramaticais com um objetivo (um desvio estilístico). Vamos, então, interpretar esse desvio . No conto, predomina a análise psicológica do narrador. Ele é um pistoleiro que se arrepende por ter matado muitas pessoas, por isso não queria matar mais ninguém. Ele sente pena do mexicano que o desafia e pensa no que aconteceria à família deste, caso ele morresse. Nesse contexto, o autor, ao usar o plural (“nós, o pistoleiro”), está convidando o leitor a compartilhar os sentimentos do pistoleiro com ele. Sua intenção é de que o leitor se sinta parte ativa da narrativa,não simplesmente um espectador2 . Note que isso não ocorreria se a narrativa fosse em primeira pessoa (“eu, o pistoleiro”) ou em terceira pessoa (“ele, o pistoleiro”). Ter um objetivo, uma intenção de produzir diferentes sentidos ao fazer um desvio é o que diferencia erro de “liberdade poética”. Assim fica mais fácil compreender e analisar os efeitos de sentidos dos muitos textos que lemos e muito do que ouvimos, não é mesmo? Nessa unidade, vimos o que é linguagem afetiva, tivemos um primeiro contato com a Estilística e conceituamos o que é estilo. Nas unidades a seguir, veremos os campos em que se divide a Estilística de acordo com os recursos expressivos. Não se esqueça de consultar o material complementar para aprofundar seus conhecimentos. Glossário Adjetivo: palavra que se liga a um substantivo para expressar uma característica: “dia quente”. Substantivo: palavra que nomeia seres, ações, características, sentimentos etc. Sufixo: morfema que se pospõe ao radical, como -eza em “clareza”. Verbo: palavra variável em tempo, modo, número e pessoa. Semanticamente, expressa um fato (ação, estado). 2 Recurso semelhante é utilizado por Machado de Assis no conto O cônego ou metafísica do estilo. Disponível em http://machado.mec. gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf 15 Material Complementar Para aprender mais a respeito das questões apresentadas nesta unidade, faça as seguintes leituras: GUIRAUD, Pierre. A Estilística. São Paulo: Mestre Jou, 1970. MARTINS, Nilce Sant’anna. Introdução à Estilística: a expressividade na Língua Portuguesa. São Paulo: Edusp, 2008. Obras disponíveis on-line ASSIS, Eleone Ferraz de. O estilo concebido como desvio. Ícone. Disponível em http:// www.slmb.ueg.br/iconeletras/artigos/volume8/OEstiloConcebidoComoDesvio.pdf. - Acesso em 27 dez. 2014. BARBOSA, Maria Aparecida. Estudo do estilo como desvio de uma norma. Acta Semiótica et Lingvistica, v. 18, n. 1, 2013. Disponível em http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ actas/article/viewFile/18227/10307. Acesso em 29 dez. 2014. DUARTE Paulo Mosânio Teixeira. Estilística ou estilísticas? Disponível em http://www. filologia.org.br/revista/34/05.htm. Acesso em 27 dez. 2014. 5 Trataremos, nesta unidade, da divisão da Estilística de acordo com a modalidade da língua (escrita e falada) e dos diferentes tipos de recursos expressivos. Também conheceremos a divisão da disciplina de acordo com o nível de análise e estudaremos a Estilística Fônica. Para obter um bom desempenho, você deve percorrer todos os espaços, materiais e atividades disponibilizadas na unidade. Nesta unidade da disciplina de Língua Portuguesa – Estilística e Estudos Semânticos, estudaremos a divisão da Estilística de acordo com a modalidade da língua (escrita e falada) e os diferentes tipos de recursos expressivos. Também conheceremos a divisão da disciplina de acordo com o nível de análise e estudaremos a Estilística Fônica. Para um bom aproveitamento na disciplina, é muito importante a interação e o compartilhamento de ideias para a construção de novos conhecimentos. Divisão da Estilística · Divisão da Estilística (1) · Divisão da Estilística (2) · Combinação sonora 6 Unidade: Divisão da Estilística Contextualização Antes de iniciarmos nossos estudos na disciplina Língua Portuguesa – Estilística e Estudos Semânticos, convidamos você a ler o texto pluvial / fluvial, de Augusto de Campos: p p l p l u p l u v p l u v i p l u v i a f l u v i a l f l u v i a l f l u v i a l f l u v i a l f l u v i a l f l u v i a l No texto, notamos que o autor utiliza apenas duas palavras (dispostas graficamente de modo conveniente) para descrever o ciclo da água. O que possibilita que as palavras sejam dispostas de modo a cruzarem-se é a semelhança de sonoridade, com alternância apenas dos fonemas [p] e [f]. Nesta unidade, vamos estudar as divisões da Estilística e o aproveitamento da sonoridade das palavras para fins estilísticos. 7 Divisão da Estilística (1) A Estilística pode ser dividida em subáreas, levando-se em consideração diferentes aspectos. Pode-se diferenciar a abordagem de acordo com o objeto de análise, o qual pode ser um texto escrito ou falado. As características de cada uma das modalidades da língua implicam diferentes recursos de expressividade, como veremos. Vamos imaginar duas pessoas que conversam frente a frente e analisar os recursos de que elas dispõem durante a conversação. Em primeiro lugar, pensemos nas expressões faciais, que podem ser usadas para manifestar diversas emoções, como serenidade, admiração, nervosismo etc., que serão captadas pelo interlocutor. Além disso, há os gestos, que também nos servem de indicação a respeito do estado de espírito dos falantes. Embora esses elementos sejam parte integrante de toda conversação face a face, não são linguísticos, porém visuais. Além desses recursos, o tom de voz do falante pode transmitir-nos outras informações (involuntariamente ou, até, de modo fingido), como o cansaço, sonolência, disposição etc. Esses traços são chamados paralinguísticos. Tratemos dos elementos linguísticos. Sabemos que podemos dizer um mesmo enunciado com diferentes entonações, produzindo, assim, diferentes impressões em nosso(s) ouvinte(s). Isso ocorre porque há vários recursos, chamados de prosódicos (ou suprassegmentais), que podem provocar diferentes efeitos de sentido. A seguir, vamos analisar alguns desses recursos, como o alongamento de vogais e as pausas. Para isso, utilizaremos uma transcrição de um diálogo real do Projeto NURC/SP1 : L2 acaba sendo uma loucura... e/eu agora falo depressa... é tudo correndo... não é mais assim aquela pessoa admirável aquelas pessoas cal::mas [ Doc. tranqui::la L2 tranqui::las... que:: dificilmente... perdem a cal::ma perdem o contro::le... falam falam pausadamen::te que não tem aquele rosto sua::do assim:: e agora não eu estou estou sempre correndo estou sempre falando tudo depressa porque não dá tempo... (Projeto NURC/SP, D2/ 360, linhas 120-129)2 O alongamento das vogais – representado pelos dois-pontos (:) – é um recurso prosódico, que, aliado às pausas, produz um efeito de intensificação, acentuando a ideia de calma e tranquilidade, pois é uma forma de reproduzir o modo de falar de uma pessoa despreocupada. No trecho que segue (iniciado por “e agora não”), a ausência de pausas transmite a ideia oposta, ou seja, de uma pessoa atarefada, que faz tudo às pressas. 1 No Brasil, o Projeto NURC foi desenvolvido em cinco capitais – São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Porto Alegre – com o objetivo de coletar dados para análise da norma urbana culta (daí a sigla). Para isso, realizaram-se milhares de horas de gravação. Parte das gravações foi transcrita e publicada em livros (veja bibliografia ao final da unidade). 2 No trecho, estão transcritas as falas do locutor 2 (L2) e do documentador (Doc.), responsável pela gravação. As reticências (...) indicam pausas, o colchete ( [ ) indica que as falas foram simultâneas, a barra ( / ) indica interrupção, e os dois-pontos (:), que se repetem (::), indicam alongamento da vogal. 8 Unidade: Divisão da Estilística Outro recurso prosódico ocorre no trecho a seguir, em que o falante trata das opções de lazer dos paulistanos: congestionamento eu principalmente não... deTESto ir para Santos... por vários problemas eu:: não suPORto a:: a Via Anchieta na hora de volta... (Projeto NURC/SP, DID/161, linhas 845-847). Nesse trecho, as letras maiúsculas em “deTESto” e “suPORto” indicam o acento de insistência, ou seja, que o falante pronunciou essas sílabas com intensidade bem superior à das demais sílabas do enunciado. Esse acento transmite um conteúdoemocional, que, no caso, é a irritação do falante diante da rodovia congestionada. Considerando os recursos de que tratamos até aqui, podemos formar o quadro a seguir (adaptado de Urbano, 1997): Recursos Expressivos Não linguístico Gestos, expressões faciais e etc.. Paralinguístico Tom, propriedade da voz etc.. Linguístico Prosódicos Entonação, acento etc. Verbais Ordem das palavras De todos os recursos apresentados, vamos nos concentrar nos linguísticos. Entre eles, podemos notar que os prosódicos são exclusivamente da língua falada, embora a escrita disponha de recursos gráficos, como as reticências e o ponto de exclamação, para representá- los (com grandes limitações). Os recursos verbais são comuns à língua escrita e à língua falada, porém podem-se realizar de modo bastante diferente em uma e outra modalidade, devido a características próprias de cada uma. Segundo Mattoso Câmara (2004: 114), a expressividade é “a capacidade de fixar e atrair a atenção alheia em referência ao que se fala ou escreve, constituindo objetivo essencial do esforço estilístico”. Ao refletirmos bem a respeito dessa afirmação, notaremos que a língua escrita é o lugar próprio do “esforço estilístico” a que se refere o autor, uma vez que nela é possível se planejar detalhadamente a construção do texto; e o autor, de acordo com a sua criatividade e o seu domínio do idioma, pode analisar diferentes opções quanto ao vocabulário, à construção dos enunciados, explorando a sonoridade das palavras etc. Além disso, sempre existe a possibilidade de uma ou mais revisões antes que se chegue à versão final. Na língua oral, ao contrário, o planejamento e a produção do texto são praticamente simultâneos, impedindo que haja uma elaboração mais refletida, um “esforço estilístico” mais demorado. Por isso, a expressividade na língua falada se dá não por meio dos mesmos recursos utilizados na escrita; mas por meio da utilização, mais ou menos original e criativa, de meios pertencentes a um “celeiro comum”. Da mesma forma que se emprega um provérbio que se amolda a uma determinada situação, o falante vai entremeando, em seu discurso, recursos padronizados, cujos efeitos de sentido são reconhecíveis pelo interlocutor, atingindo assim determinados resultados expressivos. 9 Podemos encontrar novamente em Mattoso Câmara (1975: 138) uma forma interessante de se pensar nessa questão. O autor considera, de um lado, a língua escrita culta (representada na figura de Rui Barbosa3) e, de outro, a língua falada (representada na linguagem de um motorista de táxi), afirmando que “aquele [Rui Barbosa] tem estilo (que dúvida! me dirão) [...]; mas este [o motorista] também tem um ‘estilo’, que é justamente a ‘gíria’, de que a cada passo se serve”. Para finalizar estas considerações, é preciso levar em conta que não se pode estabelecer uma contraposição entre língua escrita e língua falada, como se fossem dois polos opostos, pois há gêneros da fala em que a linguagem se aproxima da escrita, como uma conferência; e, da mesma forma, há gêneros da escrita em que a linguagem se aproxima da fala, como um bilhete. Divisão da Estilística (2) Todos os elementos que fazem parte do processo de comunicação têm um potencial expressivo. Segundo Koch e Oesterreicher (2007: 168), “os diferentes EFEITOS DE EXPRESSIVIDADE se alcançam graças a diversos PROCEDIMENTOS, que podem proceder dos níveis léxico, de formação de palavras, morfológico e sintático (destaques dos autores)”. Desse modo, vamos abordar o fenômeno da expressividade sob todos os aspectos da análise linguística. Inicialmente, trataremos da Estilística Fônica ou Fonoestilística. Estilística fônica A expressividade ligada à sonoridade da língua relaciona-se diretamente com uma questão: há motivação no signo linguístico? Em termos mais simples, há relação entre uma palavra, como “céu”, e seu significado, “firmamento”, “espaço em que se movem os astros”? Em que essa relação se basearia? Essa é uma questão muito antiga. Ela já aparece em um dos diálogos do filósofo grego Platão, o Crátilo, em que se defende a ideia de que as palavras são motivadas. Outros filósofos da mesma época (século IV a. C.) discordavam do grande pensador. Na verdade, essa questão ainda não está definitivamente resolvida até hoje, pois há argumentos (ainda que insuficientes) a favor da motivação. No início do século XX, Saussure (s/d) lançou as bases da Linguística contemporânea, defendendo que as palavras sofrem alterações em sua sonoridade e em seu significado, o que impediria a permanência da relação entre palavra (significante) e significado. Cressot (1970) dá- nos um exemplo claro a esse respeito, citando a palavra francesa pigeon, “pombo”, que provém do latim vulgar pipio, “pássaro jovem”, a qual se associa claramente ao som produzido pelos pássaros (no latim), mas perdeu essa relação no francês. A palavra pigeon, do inglês (idêntica na grafia e no significado), tem a mesma origem. 3 Grande intelectual brasileiro, autor de obra extensa e diversificada. Fo nt e: W ik im ed ia C om m on s 10 Unidade: Divisão da Estilística A teoria da motivação não se sustenta diante de uma questão bastante simples: se há uma relação entre a palavra “céu” e seu significado, por que, em outras línguas, o conceito de “céu” corresponde a palavras tão diferentes? Em inglês, por exemplo, “céu” corresponde a duas palavras, sky e heaven (nada semelhantes ao português). Vamos um pouco além? Por que palavras como finestra (italiano), ventana (espanhol) e window (inglês) correspondem ao português “janela”, já que essas palavras soam tão distintas? O argumento de que uma palavra como “cuco” (nome de um passarinho) é muito semelhante em várias línguas, como italiano, alemão, espanhol, francês, inglês, entre outras, também não se sustenta, dado que todas tiveram, em sua origem, a palavra cuculus (do latim, “idem”). Proponho que aceitemos a ideia de que não há motivação para que associemos uma palavra como “céu” (nem outra qualquer) a seu significado . Aí nos vem outra questão: isso significa que não podemos fazer qualquer relação entre o modo como que as palavras soam e o conteúdo que exprimem? Também não, pois, às vezes, as palavras nos permitem (por uma sorte do acaso) intuir, de certa forma, o que expressam. Dito de outro modo, às vezes, as palavras “se casam” perfeitamente com a noção que elas nos transmitem. Por exemplo, a palavra “transatlântico” – com todas essas sílabas – parece combinar-se perfeitamente com a ideia de algo bem grande. Fonte: iStock / G etty im ages Da mesma forma, a palavra “guri” (“menino”, mais frequente no Sul do Brasil) parece sugerir- nos a noção de pequenez. Ainda além, numa palavra como “roer”, a presença do fonema [r] parece nos sugerir a ação de desgastar alguma coisa lentamente com os dentes. Isso nos permite concluir que, em uma obra literária, a habilidade do autor pode levá-lo a selecionar certas palavras com base na harmonia entre elas e o efeito de sentido que ele quer provocar nos leitores, ou seja, ele pode buscar um modo de “casar” o que quer expressa com o que a sonoridade das palavras sugestiona ao leitor. Esse objetivo foi o alvo principal de um estilo literário de grande vigor na França, conhecido como Simbolismo. Vejamos agora, como podemos analisar na língua as sugestões sonoras utilizadas como recursos expressivos na literatura por muitos autores de diferentes épocas. 11 O potencial expressivos dos fonemas A seguir, apresentaremos alguns exemplos de associação entre sonoridade e sentido que foram colhidos da obra da professora Nilce Martins (2008). 1. Vogais Orais O [a] é o fonema mais sonoro do nosso sistema fonológico, logo traduz sons fortes e nítidos, como se observa em interjeições e onomatopeias que sugerem: » risadas,vozes altas, tagarelice: quá-quá-quá, blá-blá-blá, gargalhada, algazarra, matraca etc. » batidas bem audíveis: pá, plaft, craque etc. » claridade, brancura, amplidão: claro, alvo, vasto, alvorada etc. As vogais [e], [é] e [i] são próprias para expressar sons agudos, estridentes, como em grito, trilo, apito, pio, estrídulo, estrépito, berro. O estreitamento bucal da vogal [i] se coaduna com a expressão de pequenez, estreiteza: mínimo, estrito, fio, fino, espinho, formiga etc. As vogais [o], [ó] e [u] sugerem ideia de fechamento, escuridão, tristeza, morte, além de ruídos surdos: murmúrio, queixume, sussurro, gruta, choro, fúnebre, luto, túmulo etc. 2. Vogais nasais As vogais nasais tendem a exprimir sons prolongados e sugerem ideia de distância, lentidão, monotonia: longe, distante, manso, pranto, lamento etc. 3. Consoantes As labiodentais [f] e [v] sugerem ideia de sopro, como em voz, vento, fala, fofoca. As alveolares [s] e [z] são próprias para imitação de sons sibilantes: sibilo, assovio, cicio, suspiro, zunido, zumbir etc. As fricativas palatais [x] e [ch] são também denominadas chiantes devido à sugestão de chiado: chuá, enxame, cochilo, xixi, esguicho etc. A vibrante [R] ajusta-se à noção de vibração, atrito, rompimento, abalo, como em rachar, ranger, rasgar, romper, roer, ruir, arranhar, etc. As consoantes nasais [n], [m], [nh] expressam ideia de suavidade delicadeza, como em ameno, manso, mole, mimoso, meigo, ninar, melodia, harmonia, ninho, sonho etc. 12 Unidade: Divisão da Estilística Fonte: iStock / G etty im ages E essas associações entre sonoridade e sentido, podem não ocorrer de forma isolada. Vejamos como elas se combinam. Combinação sonora A sonoridade das palavras pode gerar efeitos muito interessantes para atrair a atenção dos ouvintes (ou leitores) para o conteúdo que se pretende expressar. Pensemos em como é fácil memorizar o conteúdo de provérbios como o que segue: » Água mole em pedra dura (1) » tanto bate até que fura (2). Isso decorre de dois fatos: o paralelismo – o número de sílabas é igual em (1) e (2) – e a rima (harmonia sonora entre “dura” e “fura”). Além da rima, outros recursos estilísticos de grande efeito são a aliteração e o homeoteleuto. Vejamos exemplos. A aliteração é a repetição de fonemas no início das palavras, que se percebe nos “jogos de palavras” de brincadeiras infantis, como “um prato de trigo para três tigres tristes”, ou como no seguinte trecho, de Fernando Pessoa: » O teu silêncio é uma nau com todas as velas pandas... » Brandas, as brisas brincam nas flâmulas. (Obra Completa. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.) Você deve ter notado o efeito da repetição do encontro consonantal “br” em “brandas”, “brisas” e “brincam”. 13 O homeoteleuto é um recurso que consiste na repetição dos fonemas finais das palavras, como ocorre em expressões como “fulano, sicrano e beltrano”. Ele também foi bastante explorado pelos poetas simbolistas, como se percebe, a seguir, no trecho de Eugênio de Castro: » Na messe, que enlourece, estremece a quermesse... » O sol, celestial girassol, esmorece... » (Obras Poéticas. Lisboa: Parceria A. M. Pereira 1968.) O homeoteleuto difere da rima porque a repetição da sonoridade não ocorre somente na palavra final de cada verso. Onomatopeia A onomatopeia é a formação de palavras que consiste na imitação de sons que não pertencem à linguagem verbal. Por exemplo, a palavra “zumbir” imita o som produzido por um inseto voando, assim como “pio” é uma reprodução aproximada do som produzido pelos passarinhos. Essa definição, aparentemente simples, oculta-nos uma série de “casos nebulosos” e claramente divergentes, como nos ensina o professor Herculano de Carvalho (1973), cuja consulta é altamente recomendada. Já que o que nos interessa, no momento, é a exploração da sonoridade afetiva das palavras, tomaremos um exemplo de um poeta modernista, que nos fornecerá elementos que nos levarão à compreensão de que a onomatopeia é um poderoso recurso estilístico. Vamos à leitura que segue:45 Soldados Verdes 1 O cafezal é a soldadesca verde que salta morros na distância iluminada um dois um dois, de batalhão em batalhão, na sua arremetida acelerada 5 contra o sertão! Manhã de terra roxa. manhã de estampa, ou cromo, onde a fumaça de um trem que passa risca o céu de fogaréu. Parece que há, nos clarins da alvorada, 10 alguma coisa de marcial. Longas palmeiras lembram lanças fincadas na paisagem, como se andasse galopando em plena serrania uma legião alvorotada de bandeiras. Como um zunzum de mamangava4 ouve-se o estrondo da cachoeira 15 a vida inteira a bater bumbo, a bater bumbo, a bater bumbo. Avanhandava5 . Um grande exército colorido de imigrantes, de enxadas a brilhar ao sol revolve o chão dando a ilusão de que a lavoura é sangue vivo 4 Espécie de abelha. 5 Município situado no estado de São Paulo 14 Unidade: Divisão da Estilística 20 e a terra nova revolvida é um coração... Um dia de verão, em luminosa pincelada, inaugurou agora mesmo a nova estrada. Acompanhando a estrada em douda disparada os postes de carvão como espantalhos 25 levam seus fios telegráficos sobre os ombros. As casas dos colonos são cartazes muito brancos encarreirados no silêncio dos barrancos. Bate o sol no tambor de anil do céu redondo. O dia general que amanheceu com o punho azul cheio de estrelas, 30 com dragonas6 de sol nos girassóis comanda os cafeeiros paralelos de farda verde e botões rubros e amarelos. Soa nos morros o clarim vermelho da manhã. Soldados verdes! rataplã. (Cassiano Ricardo. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1964.) Nesse texto, o poeta faz referência ao desenvolvimento da cultura do café em São Paulo, personificando os cafezais como “soldados verdes”, que marcham em direção ao interior do estado.6 Entre os vários recursos expressivos do texto, destacamos a exploração da sonoridade em “zunzum” (linha 14), que se associa ao estrondo da cachoeira. Note, também, o efeito da aliteração em “a bater bumbo, a bater bumbo, a bater bumbo”, que nos sugere a queda d’água soando continuamente. Finalmente, a forma onomatopeica “rataplã” é um fato bastante raro, pois não é uma palavra dicionarizada, é uma criação do autor, exclusiva para a ocasião. Seu objetivo é sugerir, provavelmente, o som do rufo dos tambores militares que convocam os soldados ao amanhecer. Nesta unidade, vimos que o objeto de estudo da Estilística pode ser dividido segundo diferentes critérios. Primeiramente, considerando o objeto da análise, o interesse pode ser dirigido à fala espontânea ou à escrita (sobretudo aos textos literários). Em segundo lugar, pode- se delimitar o estudo de acordo com o nível de análise linguística que se põe em posição central. Glossário Interjeição: classe de palavras que exprimem sentimentos ou sensações, como espanto, dor, admiração, alegria etc. Onomatopeia: processo de formação de palavras por meio da imitação de um som natural, como “pio”, “miau” etc. i 6 Peça ornamental de uniformes militares, que se usa sobre os ombros. 5 Iniciamos, agora, mais uma unidade da disciplina Língua Portuguesa – Estilística e Estudos Semânticos. Nela, trataremos do potencial expressivo dos principais processos de formação de palavras em português, como a Composição e a Derivação. Para obter um bom desempenho, você deve percorrer todos os espaços, materiais e atividades disponibilizadas na unidade Nesta unidade, trataremos dos efeitos expressivos dos principais processos de formação de palavras em português: a composição e a derivação. Para um bom aproveitamento na disciplina, é muito importante a interação e o compartilhamento de ideias para a construção de novos conhecimentos. Estilística Morfológica · Introdução · Composição· Derivação 6 Unidade: Estilística Morfológica Contextualização Antes de iniciarmos nossos estudos nessa unidade da disciplina Língua Portuguesa – Estilística e Estudos Semânticos, convidamos você a ouvir a canção de Gilberto Gil, disponível em: » https://www.youtube.com/watch?v=uBA1nUHJhI0 Repare no modo como o autor emprega as palavras “meta” e “fora”, associando-as à palavra “metáfora”, além de criar o adjetivo “incontível”. Com esses procedimentos, o compositor intensifica a expressividade na letra de sua canção. Nesta unidade, estudaremos a expressividade ligada aos elementos que compõem as palavras, considerando dois processos de formação de palavras: a composição e a derivação. 7 Introdução Nesta unidade, estudaremos a expressividade ligada aos elementos que compõem as palavras, considerando os dois processos de formação de palavras mais comuns em português, que são a composição e a derivação. Composição A composição é o processo de formação de palavras por meio da reunião de dois ou mais radicais, que passam a exprimir conceito novo e único e, não raro, desvinculado do sentido de cada um de seus componentes. É o que ocorre em “girassol”, “amor-perfeito”, “psicologia” etc. Veja, no quadro, o exemplo: Radical Radical = Psic(o)- (alma) -Logia (estudo, tratado) Psicologia Said Ali (1964) explica que uma palavra composta é formada a partir de um enunciado. Por exemplo, as palavras “saca-rolhas”, “beija-flor” e “ganha-pão” formaram-se a partir de expressões como “objeto que saca rolhas”, “ave que beija flor” e “ofício com que se ganha o pão”. O mesmo autor observa que há compostos que se escrevem juntos, como “pontapé”, ligados por hífen, como “latino-americano”, e separados, como “estrada de ferro”. A formação de compostos pode servir a finalidades expressivas, como no exemplo que segue: Ode ao Burguês Eu insulto o burgês! O burguês-níquel, o burguês-burguês! A digestão bem feita de São Paulo! O homem-curva! o homem-nádegas! O homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco-a-pouco! [...] Eu insulto o burguês-funesto! O indigesto feijão com toucinho, dono das tradições! Fora os que algarismam os amanhãs! Olha a vida dos nossos setembros! Fará Sol? Choverá? Arlequinal! Mas à chuva dos rosais o êxtase fará sempre Sol! 8 Unidade: Estilística Morfológica Morte à gordura! Morte às adiposidades cerebrais Morte ao burguês-mensal! ao burguês-cinema! ao burguês-tílburi ! [...] (ANDRADE, Mário de. Poesias Completas. São Paulo: Edusp, 2003.) No texto, encontramos compostos como “burguês- níquel”, que pode ser entendido como uma referência ao apego ao dinheiro. Outros compostos, como “burguês- mensal”, “burguês-cinema”, “burguês-tílburi” podem ser associados aos hábitos da burguesia. Essas formações de compostos permitem sintetizar o conteúdo de toda uma frase numa única palavra, embora o significado do conjunto, às vezes, possa tornar-se obscuro. A respeito da expressividade dos compostos, consulte Bacheschi (2013). Ver em Referências Bibliográficas ao final dessa unidade. Na linguagem oral, a composição tem sido um processo expressivamente produtivo no português, a partir do qual têm surgido palavras como “cracolândia” (< inglês crack + -o- + -lândia), cujo elemento final tem servido, segundo Houaiss (2009: 1720), para a formação de “palavras ad hoc de valor afetivo e pitoresco, como pagolândia, gurilândia, brotolândia, bostolândia etc., pelo menos no Brasil”. Em outros exemplos, ocorre o emprego de elementos de composição do grego, que, por vezes, sofrem mudança do sentido original, como em “fumódromo”, “camelódromo”, “sambódromo”, “brinquedoteca”, “discófilo”, “cinéfilo”, “olhômetro”, “impostômetro” etc. Outro tipo de composição é o cruzamento vocabular (também chamado blend, fusão vocabular, palavra entrecruzada, amálgama etc.), que vem sendo bastante difundido recentemente como forma expressiva de se alcançar um efeito cômico. As palavras formadas por esse processo têm por base semelhanças de sonoridade, como “trêbado”, “apertamento”, “burrocracia”, “lixeratura”, “paitrocínio”, “showmício”, podendo indicar, também, posição intermediária, como “brasiguaio”, “portunhol”, “namorido”, “chafé”, “batatalhau”. Em outros, substitui-se um fragmento por outro que se liga ele pelo significado (de fato ou supostamente), como em “bebemorar” e “carreata”. Esse tipo de composição também pode ser encontrada na literatura. Drummond, por exemplo, criou o termo “agritortura”, com o qual resume a ideia do sofrimento dos trabalhadores agrícolas. Outro exemplo, que reproduzimos a seguir, de Guimarães Rosa, foi colhido de Martins (2008): E, desistindo do elevador, embriagatinhava escada acima (ROSA, João Guimarães. Tutameia. 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. p. 104.) Fo nt e: W ik im ed ia C om m on s 9 Nesse trecho, o autor forma o composto “embriagatinhava”, tendo por base “embriagado” e “gatinhar” (mesmo que “engatinhar”). O objetivo é reunir, na mesma palavra a ideia da ação (engatinhar) e a da sua causa (embriaguez). Para mais exemplos, ver Cardoso (2010). Ver em Referências Bibliográficas ao final dessa unidade. Fo nt e: W ik im ed ia C om m on s Vejamos agora outro processo de formação de palavras: a derivação. Derivação Ao contrário da composição, a derivação consiste na formação de palavras a partir de um único radical e abrange diferentes processos, dos quais o mais comum é a derivação progressiva, que ocorre por meio de acréscimo de afixos, que são elementos que se prendem a um radical. Os afixos, em português, dividem-se em prefixos, que se acrescentam antes do radical e sufixos, que se acrescentam depois dele. Vamos começar por ver os efeitos expressivos na utilização dos sufixos. Derivação sufixal A derivação sufixal, como se disse, consiste no acréscimo de um sufixo ao radical. Vejamos exemplos: Radical Sufixo = Pedr- -eiro Pedreiro Gás -oso Gasoso No primeiro caso, acrescenta-se o sufixo -eiro ao radical pedr- (o mesmo da palavra “pedra”), formando-se “pedreiro”. No segundo caso, acrescenta-se o sufixo -oso ao radical gás, formando- se “gasoso”. 10 Unidade: Estilística Morfológica Martins (2008: 80) observa que “o elemento avaliativo pode ser acrescentado a um lexema por um sufixo ou prefixo” (destaques da autora). Os sufixos aumentativos, por exemplo, podem expressar uma ideia de valorização, como em “carrão” e “golaço” ou de ridículo, como em “dentuço”. Tomando-se, por exemplo, o vocábulo “gente”, nota-se que todos os substantivos formados a partir dele, como “gentalha”, “gentaça”, “gentama”, “gentinha”, “gentarada” e “gentuça”, possuem, em geral, valor pejorativo, sendo equivalentes a “ralé”. Lapa (1975: 106) afirma que a ideia de pequenez “anda ligada geralmente em nosso espírito à ideia de ternura, simpatia, graciosidade”, de modo que, segundo o autor, livrinho “pode não ser um livro pequeno, pode ser um livro com as dimensões vulgares; mas é certamente coisa querida e apreciada”. O significado que se obtém com a combinação do sufixo com o radical, no entanto, pode variar de acordo com o contexto, ou seja, a escolha do termo “livrinho” pode Mattoso Câmara (1978: 61) via os sufixos como “poderosos centros de carga afetiva”, cujo significado “quase só nisso se resume”. Martins (2008: 114) também trata dos sufixos, ressaltando seu valor como elemento avaliativo. Nas palavras de Sandmann (1991: 79), “não resta dúvida de que usar recursos morfológicos para expressar apreço ou desapreço é uma importante função da formação de palavras”. Said Ali (1964) comenta que o sufixo -ice, se fizermos abstração do seu papel em ledice, velhice, meiguice e poucos exemplos mais, revela em geral forte afinidade eletiva por adjetivosque exprimem vícios ou defeitos pessoais, produzindo substantivos denotadores de atos que aberram do procedimento de pessoas sérias ou sensatas: malandrice, sandice, tolice, parvoíce, gatunice, bebedice, patetice, perrice, doudice, rabugice, fanfarrice. Além desse emprego, nos substantivos formados a partir de outros substantivos, acrescenta noção nitidamente pejorativa (gramatiquice, invencionice etc.), que, segundo o mesmo autor (op. cit.), decorre de analogia com os exemplos anteriormente citados. Em termos expressivos, os sufixos aumentativos podem revelar a admiração pela grandeza em “jogão” (ou “jogaço”) ou por certa característica, como em “fortão” e “lindão”; mas, segundo Lapa (1975: 106), como somos “gente apaixonada, e facilmente vamos dum extremo a outro, não é de surpreender que o mesmo sufixo evoque em nós sentimentos depreciativos”. Desse modo, Martins (2008: 115) faz lembrar que o aumentativo, mais frequentemente, tem valor pejorativo, acrescentando ou reforçando um sentido de depreciação, porque aquilo que é de tamanho excessivo é geralmente visto como feio, ridículo, grotesco, desagradável (bestalhão, grandalhudo, cabeção, vozão, vozeirão, mulheraça, bigodarra, gramaticorra, etc.). O sufixo -eco(a) é diminutivo e, a exemplo de outros sufixos, pode ser empregado para a expressão de estima, como em “amoreco”, ou de desprezo, como em “livreco” e “padreco”. O sufixo -inho(a), além de valor de diminutivo, apresenta outros em grande numero, por exemplo, em “à noitinha” e “de manhãzinha”, existe noção de início de processo. Desempenha função de intensificador, como em “rapidinho”, podendo acrescentar ideia depreciativa, como 11 em “nervosinho” e “espertinho”, servir como atenuador em “baixinho”, “gordinho” e “alegrinho” (com sentido de “embriagado”), ou exprimir ausência de dúvida, como em “mortinho”. Segundo Lapa (1975: 111), as manifestações de ternura caracterizam-se por sua intensidade e natural exagero. Era pois inevitável que também se apegasse ao sufixo um efeito superlativante. Os advérbios foram largamente afetados, na linguagem popular, por tal superlativação. Assim o povo diz: “Ela mora pertinho de minha casa” (destaque do autor). Kerbrat-Orecchioni (2006) refere-se a formações com -inho(a), como “me faça um favorzinho”, “me dê uma ajudinha”, “espere um minutinho” etc., denominando-as minimizadores. São formas de amenizar o efeito desagradável de uma ordem ou de um pedido. É o que parece ocorrer na fala da personagem que segue: Ah, disse a moça, você ficou zangado comigo, diga, ficouzinho? bobo, te chamo de bobo como te chamo meu bem, fica nervosinho não, eu agora estou sentindo que o que você falou é uma graça, boca de luar é legal, olha aqui, vou te dar um beijo superluar, você quer? (ANDRADE, Carlos Drummond de. Boca de Luar. Rio de Janeiro: Record, 1984. Destaque nosso.) Nesse exemplo, ocorre um fato raro: o sufixo -inho aparece ligado a um verbo. Vejamos outros exemplos de emprego expressivo de sufixos: O peru de Natal Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos; desde o beijo às escondidas, numa prima, aos dez anos, descoberto por Tia Velha, uma detestável de tia; e principalmente desde as lições que dei ou recebi, não sei, duma criada de parentes: eu consegui, no reformatório do lar e na vasta parentagem, a fama conciliatória de “louco”. [...] – Mas quem falou de convidar ninguém! Essa mania... Quando é que a gente já comeu peru em nossa vida! Peru aqui em casa é prato de festa, vem toda essa parentada do diabo... – Meu filho, não fale assim... – Pois falo, pronto! (ANDRADE, Mário de. O peru de Natal. In: Antologia de Contos Brasileiros. 2. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. Destaques nossos.) Nesse trecho, o autor optou por não utilizar o plural “parentes”, preferindo empregar substantivos derivados de sentido coletivo. Em ambos os casos, há uma avaliação negativa acerca dos parentes; e, para expressá-la, o autor faz escolha de sufixos – -agem e -ado(a) – de sentido frequentemente pejorativo . Note que é comum que se associem julgamentos negativos aos coletivos. 12 Unidade: Estilística Morfológica Provavelmente, isso se deve ao fato de que a sociedade atual valoriza o individual e o exclusivo. Sob esse ponto de vista, as coisas serão mais valorizadas quanto mais raras forem, uma vez que, a partir da revolução industrial, artigos idênticos passaram a ser produzidos, diariamente, em escala mundial. Disso decorre que algo personalizado, ‘customizado’ parece mais merecedor de estima do que algo que se encontra ‘aos punhados’ ou ‘às baciadas’. Por outro lado, também é comum que se associe a ideia de coletivo à de excesso e, por extensão, à de desordem e tumulto (Bacheschi, 2014: 104.). No emprego de “parentada”, a avaliação negativa é reforçada pela expressão “do diabo”. Vejamos outro exemplo: Mas João Teodoro acompanhava com aperto de coração o desaparecimento visível de sua Itaoca. – Isto já foi muito melhor, dizia consigo. Já teve três médicos bem bons – agora só um e bem ruinzote. (MONTEIRO LOBATO, José Bento. Obra Completa. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1950. Destaques nossos.) No trecho, em “ruinzote”, o autor utiliza o sufixo -ote para acentuar a avaliação negativa sobre o médico. Isso também ocorre em palavras que possuem esse mesmo elemento, como “fracote”, “frangote” etc. Apesar de os exemplos anteriores terem sido encontrados em textos literários, eles revelam uma tendência de aproximação com a linguagem oral. Vejamos, agora, outro exemplo, em que o autor procura um rompimento mais radical em relação à norma linguística. Chuvadeira Maria, chuvadonha, chuvinhenta, chuvil, pluvimedonha! Eu lhe gritava: Para! e ela chovendo, poços d’água gelada ia tecendo. (ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.) Nesse trecho, encontram-se várias formas criadas para referir-se à Maria (o nome personifica a própria chuva). Dentre eles, o que nos parece mais “neutro” é “chuvil”, que pode ser entendido simplesmente como “referente à chuva” (assim como em “primaveril”, “infantil” etc.). Nos outros exemplos, temos o sufixo -eiro(a), que pode ter vários significados, possibilitando diversas interpretações. “Chuvadeira” contém a ideia de agente, como em “pedreiro”, que nos leva ao significado de “aquela que ‘chove’ ou traz a chuva”. Por outro lado, temos a ideia de indivíduo que possui certa peculiaridade de comportamento, como em “bagunceiro”, “fofoqueiro”, levando-nos a interpretar a palavra com o sentido de “que produz chuva com frequência ou em grande quantidade”. O sufixo ainda contém a ideia de “admirador”, “entusiasta”, como em “roqueiro”, “pagodeiro”, o que nos sugere o sentido de apego à chuva. Em “chuvadonha”, o sufixo -onho(a) sugere a ideia de abundância de chuva. 13 Já em “chuvinhenta”, o sufixo -ento(a) sugere mais fortemente a noção de repulsa ou aversão à chuva. Note que a maior parte dos adjetivos formados pelo acréscimo de -ento(a), assim como de -lento(a), designa características desagradáveis e, em regra geral, repulsivas. Essa afirmação pode ser fundamentada por uma série de palavras, algumas delas colhidos em Houaiss (2009), a saber: “agoniento”, “agourento”, “arreliento”, “asmento”, “asneirento”, “avarento”, “azarento”, “babento”, “bafiento”, “barrento”, “barulhento”, “bexiguento”, “bichento”, “birrento”, “bolorento”, “borrento”, “catarrento”, “catinguento”, “chulezento”, “fedorento”, “feridento”, “flatulento”, “fuxiquento”, “gordurento”, “gosmento”, “lamacento”, “lazarento”, “lixento”, “modorrento”, “mofento”, “morrinhento”, “muxibento”, “nojento”, “peçonhento”, “perebento”, “rabugento”, “ranhento”, “sardento”, “sarnento”, “trapacento”, “verruguento”, “visguento”, “xexelento”. Ainda em relaçãoà Maria, o autor utiliza o composto “pluvimedonha” (de pluvi-, “chuva” + “medonha”), sintetizando as noções de chuva e do medo que dela decorre. E a seguir, veremos os efeitos expressivos na utilização dos prefixos. Derivação prefixal A derivação prefixal é o processo de formação de palavras por meio do acréscimo de um prefixo, o qual antecede o radical da palavra. Veja o quadro a seguir: Prefixo Radical = Pre- conceito Preconceito Ante- braço Antebraço Do ponto de vista da expressividade, os prefixos fornecem menos material que os sufixos, tendo, de modo geral, valor intelectivo. Ainda assim, há exemplos de escritores que conseguem explorar o potencial expressivo desses elementos de modo original. É o que encontramos, por exemplo, em Guimarães Rosa (2005), que cria o substantivo “despoder”, com o sentido de “incapacidade”. Vejamos como Haroldo de Campos utiliza os prefixos re- e des- no texto que segue Se se nasce morre nasce morre nasce morre renasce remorre renasce remorre renasce remorre re re desnasce desmorre desnasce desmorre desnasce desmorre nascemorrenasce morrenasce morre se (CAMPOS, Augusto de; PIGNATARI, Décio; CAMPOS, Haroldo de. Teoria da poesia concreta. São Paulo: Duas Cidades, 1975. p. 57.) 14 Unidade: Estilística Morfológica Na primeira parte do texto, o prefixo re- é empregado para expressar a ideia de ações que se alternam e se repetem indefinidamente: nasce, morre, renasce, remorre. Na segunda parte, as ações são renomeadas com o emprego do prefixo des-: “desnascer” equivale a “morrer”; e “desmorrer”, a “nascer”. Exemplo igualmente original é o que encontramos no trecho a seguir: Os seres mais estranhos se juntando na mesma aquosa pasta iam clamando contra essa chuva estúpida e mortal catarata (jamais houve outra igual). Anti-petendam cânticos se ouviram. (ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.) O autor combina o prefixo grego anti- (= contra) e uma forma do verbo latino peteo (pedir). O resultado é o sentido de “pedindo o contrário do que está sendo feito”, que, no contexto, equivale a pedir o fim da chuva. Outro exemplo interessante, que colhemos de Martins (2008), é o que apresentamos a seguir: Os sobreviventes Este o subsolo onde moram os subvivos, os sublocatários, mundo sublunar subsolar sub-reptício. Submundo dos dicionários policiais. Já sobre o solo a manga-rosa a mesa lauta, a sobremesa; os sobretudos as sobretaxas mais os sobrados tudo o que sobra de sobrepeso, de sobrecarga, sobre os subvivos do subsolo. (RICARDO, Cassiano. Os Sobreviventes. Rio de Janeiro: José Olympio, 1971.) 15 O autor explora a expressividade dos prefixos sub- e sobre- para denunciar a enorme desigualdade social entre os “subvivos”, que habitam um “submundo” em que não têm acesso aos bens materiais, e os que estão “sobre o solo” e desfrutam das riquezas, da “mesa lauta”, da “sobremesa” etc. Há ainda utra forma de derivação, que pode ser utilizada na criação de efeitos expressivos. Vamos ver? Derivação regressiva A derivação regressiva consiste na formação de palavras por meio de acréscimo de uma vogal temática ao radical. As vogais temáticas, em português, são -a, -e, -o, as quais ocorre, por exemplo, em “ajuda” (de “ajudar”), “corte” (de “cortar”) e “voo” (de “voar”). Radical Vogal Temática = Ajud- -a Ajuda A derivação regressiva, em que se substitui um sufixo real ou suposto por uma vogal temática, é um processo comum na linguagem oral, como em “delega” por “delegado”, “boteco” por “botequim”, “sapata” por “sapatão”, “portuga” por “português”, “japa” por “japonês”, “comuna” por “comunista”, “neura” por “neurose” ou “neurótico”, “estranja” por “estrangeiro”, “profissa” por “profissional”, “reaça” por “reacionário” etc. Há muitas possibilidades de criar efeitos expressivos em nossa língua em nível de análise morfológica, não é mesmo? Nesta unidade, vimos uma das áreas em que se divide a Estilística. Na próxima unidade, trataremos da Semântica e de como essa disciplina se relaciona à Estilística. Para aprofundar seus conhecimentos, não deixe de consultar o material complementar e interagir com seus colegas e seu tutor. Glossário Adjetivo: palavra que se liga a um substantivo para expressar uma característica: “dia quente”. Afixo: morfema que se liga a um radical. Em português, são os prefixos e os sufixos. Prefixo: morfema que antecede o radical, como des- em “desleal”. Radical: morfema que contém o significado básico de uma palavra, como “leal” em “desleal”. Substantivo: palavra que nomeia seres, ações, características, sentimentos etc. Sufixo: morfema que se pospõe ao radical, como -eza em “clareza”. 5 A Semântica e temas fronteiriços • Introdução • A unidade da Semântica: o sema • Relações entre palavras • Sinônimos • Antônimos • Hiperônimos e hipônimos • Polissemia · Compreender as bases de análise da Semântica Lexical, compreender o conceito de sema, reconhecer relações entre palavras do ponto de vista do significado, compreender o fenômeno da polissemia. Iniciamos, agora, mais uma unidade da disciplina Língua Portuguesa – Estilística e Estudos Semânticos, na qual trataremos da Semântica e de como essa disciplina se relaciona com a Estilística. Para obter um bom desempenho, você deve percorrer todos os espaços, materiais e atividades disponibilizadas na unidade. 6 Unidade: A Semântica e temas fronteiriços Contextualização Antes de iniciarmos nossos estudos desta unidade da disciplina Língua Portuguesa – Estilística e Estudos Semânticos, convidamos você a ler o texto que segue, de Vinícius de Moraes: Soneto da separação De repente do riso fez-se o pranto Silencioso e branco como a bruma E das bocas unidas fez-se a espuma E das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento Que dos olhos desfez a última chama E da paixão fez-se o pressentimento E do momento imóvel fez o drama. De repente, não mais que de repente Fez-se de triste o que se fez amante E de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante Fez-se da vida uma aventura errante De repente, não mais que de repente. (Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985. Destaques nossos.) Observe como o autor explora a oposição de sentido das palavras destacadas dando relevância à intencionalidade do poema, que trata da separação. Fique atento(a) a isso, pois, nesta unidade, damos continuidade aos estudos da Semântica a partir das relações entre as palavras. 7 Introdução A Semântica pode ser definida de modo diverso de acordo com a perspectiva de quem a define, logo vamos procurar delimitá-la. Tomemos a lição de Saussure (s/d) sobre o signo linguístico. Ensina o mestre que o signo linguístico é a união do significante e do significado. Signo Linguístico Significante Significado O significante é uma imagem acústica; e o significado, um conceito. Observe que não se trata da reunião de palavra e coisa. O autor adverte-nos de que “os termos implicados no signo linguísticos são ambos psíquicos” (op. cit.: 79). Ao escolher o termo “imagem acústica”, diferencia-se este de “som”. Note-se que, muitas vezes, pensamos numa palavra, sem pronunciá- la. Da mesma forma, “conceito” difere de “coisa”, pois corresponde a uma representação mental que associamos a coisas do mundo natural e cultural. Considerando a divisão proposta por Saussure, notamos que parte dos estudos linguísticos tem como objeto o significante. Podemos estudá-lo segundo sua sonoridade (Fonética e Fonologia), seus elementos constitutivos (Morfologia) e sua disposição e funções no enunciado (Sintaxe)1. Outra abordagem – que interessa à Semântica – é focalizar o significado. Vamos compreender melhor o que isso envolve. Podemosentender a relação entre a língua falada e o mundo de duas maneiras: 1. O mundo está organizado em categorias fixas e pré-estabelecidas, e a linguagem apenas representa essas categorias, ou seja, a linguagem nomeia os seres do mundo. Exemplo: “árvore” é um ser do mundo natural, que possui raízes, tronco, galhos e folhas. 2. A organização do mundo em categorias não é natural. É a linguagem humana que, ao “nomear” o mundo, o organiza de acordo com pontos de vista que variam de acordo com o observador e a época em que a observação ocorre. Fonte: iStock/Getty Images 1 Embora a análise linguística possa centrar-se no significante, o componente semântico não é, de todo, ignorado. 8 Unidade: A Semântica e temas fronteiriços A afirmação contida em (1) parece clara e simples de exemplificar; mas, na verdade, é enganosa e até ingênua. Tomemos o exemplo da palavra citada, “árvore”. A definição parece bem clara, de modo que associamos facilmente (sem necessidade de um estudo aprofundado) a palavra a um ente do mundo natural, certo? Mais ou menos. Pensemos, agora, em “arbusto”. O senso comum indica-nos que “arbusto” é uma árvore de pequeno porte. Aí o que parecia claro já começou a tornar-se nebuloso, pois uma questão se nos impõe: a partir de que momento um “ser do mundo natural, que possui raízes, tronco, galhos e folhas” é grande o bastante para ser considerado “árvore”? Qual seria a altura mínima de uma árvore? Um pé de café seria uma árvore, um arbusto ou uma simples planta? Claro que os estudiosos do assunto, os botânicos, têm definições mais claras sobre esse tema do que podemos concluir com base apenas no senso comum, mas isso não invalida o que afirmamos, pois as definições científicas vêm depois de as palavras fazerem parte da linguagem do dia a dia. Tomemos outro exemplo. Pense nas palavras “córrego”, “regato”, “arroio”, “riacho”, “ribeirão” e “rio”. O senso comum parece indicar-nos que um riacho é maior que um córrego e menor que um ribeirão, e que este último é maior que os anteriores e menor que um rio. Seriam esses recortes naturais e iguais para todos os observadores? Na prática, será que, ao se depararem com um curso d’água, todas as pessoas vão designá-lo da mesma forma? Parece-nos bem mais provável que uma pessoa da cidade chame qualquer curso d’água de rio e, talvez, só o diferencie de córrego. É provável que uma pessoa acostumada à vida do campo seja capaz de fazer um número maior de distinções, e é praticamente inevitável que as designações variem de região para região. Além disso, o critério que adotamos nas comparações é precário, pois qual é a base que estamos considerando ao afirmar que um curso d’água é “maior” que outro? A largura? O comprimento? A profundidade? O volume de água? Isso nos leva a concluir que os recortes são produtos culturais, que fazemos e refazemos, e variam em diferentes culturas (e línguas). Vamos prosseguir? Pensemos em planeta. Até pouco tempo, considerava-se planeta um corpo esférico que girava em torno do Sol2. No início do século XX, havia oito planetas conhecidos; mas alguns astrônomos compartilhavam da ideia de que haveria um nono planeta no Sistema Solar. Em 1930, com a descoberta de Plutão, a questão parecia encerrada; porém foram descobertos, no final do século XX, outros corpos que se assemelhavam a Plutão e tinham características que os diferenciavam dos demais planetas. Somente no início do século atual é que se definiu com clareza o conceito de planeta, e criou-se o conceito de “planeta-anão”, no qual Plutão e outros corpos semelhantes a ele foram incluídos. Isso nos mostra que os recortes que fazemos a respeito do mundo natural não são definitivos, mas variam de tempos em tempos. Fonte: Wikimedia Commons 2 Não se conheciam planetas que giram em torno de outras estrelas até 1995. 9 Esses recortes também variam de acordo com as línguas. Por exemplo, em português, “céu” denomina o espaço em que se movem os astros e, também, o paraíso criado por Deus segundo a Bíblia. Em inglês, sky corresponde ao primeiro significado; e heaven, ao segundo. Da mesma forma, em português, “homem” denomina tanto a espécie humana, como em “o homem é um ser racional”, quanto o macho dessa espécie. Em latim clássico, no entanto, a palavra que deu origem a “homem” (homo) tinha, em princípio, apenas o primeiro significado (a espécie humana). Para o significado de “macho dessa espécie” a palavra correspondente em latim era “vir”, de onde deriva a palavra “viril” em português, significando másculo. Para finalizar essa questão, vamos reproduzir as palavras de Pietroforte e Lopes (2003: 116), os quais narram que: em 1973, o grupo de rock britânico Pink Floyd gravou um dos discos mais célebres da sua longa carreira, intitulado The dark side of the moon. A capa mostrava, contra um fundo negro, um raio de luz branca que vinha do lado esquerdo, atravessava, no centro do quadro, um prisma e saía decomposto, à direita, nas cores do arco-íris. Entre nós, brasileiros, só quem deteve um pouco o olhar se deu conta de que o espectro à direita do prisma compreendia seis cores, em vez das sete que esperaríamos. A razão muito simples para isso é que, em inglês, o arco-íris de fato só conta com seis cores: na região superior do espectro, onde temos em português o roxo e o anilado, a língua inglesa junta tudo em um só purple. Na língua bassa, falada na Libéria, o mesmo conjunto do arco-íris se divide em não mais que duas faixas, uma compreendendo o que conhecemos como cores “frias” e outra, as cores “quentes”. Ninguém imaginaria tratar-se de diferenças nos fenômenos naturais observados, nem tampouco na acuidade visual de uns e outros povos. A estruturação do mundo em classes, ou seja, a maneira de ver é que varia, de uma cultura para outra, sem que se possa apontar quem é que está com a razão nessa história (destaques dos autores). Fonte: Pink Floyd/Harvest, 1973 Agora que esclarecemos essa importante questão a respeito da relação entre a língua falada e o mundo, mostrando a importância dos recortes e da contextualização para a atribuição de sentidos das palavras, objeto de estudo da Semântica, vamos aprofundar ainda mais nossos conhecimentos para compreender como trabalhamos analiticamente nesse campo. Vamos Lá? 10 Unidade: A Semântica e temas fronteiriços A unidade da Semântica: o sema A análise linguística que se desenvolveu no século XIX tinha por base a descrição fonética, ou seja, da sonoridade das línguas faladas. Nesse tipo de análise, podemos decompor uma palavra como “sol” em três fonemas3: [s], [ c], [l]. Esse modelo foi aplicado à Morfologia, estudo da estrutura e dos processos de formação de palavras, em que as palavras podem ser decompostas em morfemas. Era natural que se procurasse seguir o mesmo caminho na Semântica, chegando- se, assim, ao sema ou traço semântico. Vamos a um exemplo. Tomando-se a palavra “homem”, observamos que ela possui os seguintes semas: humano, masculino e adulto. Como os semas são traços distintivos, podemos notar que, comparando-se “homem” e “menino”, há dois traços comuns (humano, masculino), assim como “homem” e “mulher” possuem, também, dois traços comuns (humano, adulto). De acordo com a presença (+) ou ausência (-) de certos semas, podemos formar os campos semânticos. A seguir, apresentamos algumas unidades do campo lexical dos chapéus (adaptado de Pietroforte e Lopes, 2003: 119). com copa com copa alta com abas com abas largas com pala sobre os olhos de matéria flexível masculino boné + - - - + + +/- gorro + - - - - + +/- sombreiro + - + + - + + cartola + + + - - + + boina + - - - - + +/- quepe + - - - + - + coco + - + - - - + O campo lexical permite identificar as características comuns e divergentes de cada elemento. No entanto, à medida que se ampliam oselementos do grupo, é necessário maior número de semas para diferenciá-los. Observe que, nesse quadro, não há semas suficientes para diferenciar “gorro” de “boina”. Outro problema é que, em alguns casos, os traços que diferenciam os elementos não são precisos. Imagine, voltando a um exemplo já mencionado, que fôssemos formar um quadro com o campo lexical “curso d’água”. Estaríamos, novamente, diante da dificuldade de encontrar semas que nos permitissem diferenciar “riacho”, “córrego”, “arroio” etc. Fonte: iStock/Getty Images 3 Consulte o glossário no final desta unidade. Unidade mínima sonora da língua. 11 Como vimos, cada elemento do campo lexical possui traços semânticos (semas) que podem diferenciá-lo dos demais. Ao conjunto desses semas, dá-se o nome de semema. Portanto, se tomarmos, por exemplo, “cartola”, teremos o semema “com copa alta”, “com aba”, “de matéria flexível”, “masculino” etc. O membro mais genérico de um campo lexical é o que chamamos de classema. É o caso de “curso d’água” em relação a “rio”, “córrego”, “riacho”, “ribeirão” etc. Relações entre palavras Até aqui, nossa disciplina parece estar dividida em duas áreas, a Estilística e a Semântica. No entanto, como ambas as áreas estão ligadas à questão do significado, é inevitável que haja questões que sejam comuns a elas, como veremos a seguir. Fonte: iStock/Getty Images Acompanhe, a seguir, alguns processos relativos às palavras e seus significados, matéria de nossa disciplina: Sinônimos São sinônimas palavras que têm, aproximadamente, o mesmo significado. Destacamos o termo “aproximadamente” porque não se pode dizer que haja palavras cujo significado seja totalmente coincidente. Algumas palavras podem ser usadas em lugar de outros em certos contextos, mas isso não ocorre sempre. Pensemos em palavras que podem ser usadas indistintamente num certo contexto, como “jovem” e “novo”. Isso ocorre, por exemplo, nos enunciados: 1. Augusto é um rapaz novo. 2. Augusto é um rapaz jovem. O mesmo não se observa nos enunciados a seguir: 3. Comprei um carro novo. 4. *Comprei um carro jovem4. 4 O asterisco (*) indica que o enunciado não é aceitável em português. 12 Unidade: A Semântica e temas fronteiriços Analisando os enunciados, percebemos que, em 1 e 2, “novo” e “jovem” equivalem a “de pouca idade”. Entretanto, em 3, “carro novo” equivale a “recém-fabricado” ou “recém- adquirido”, significado que não se verifica em “jovem”. Fonte: Thinkstock/Getty Images Além disso, as palavras, muitas vezes, trazem consigo julgamentos, avaliações pessoais. Por exemplo, uma pessoa que se preocupa com o controle de seus gastos pode ser definida como “econômica”, “equilibrada”, “precavida”, “usurária”, “avarenta”, “sovina”, “mão de vaca” etc. Algumas palavras revelam intenção de se expressar de modo mais delicado, como “calvo” em lugar de “careca”, “idoso” em lugar de “velho” ou “senil”, “embriagado” em lugar de “bêbado”. Outras, ao contrário, revelam agressividade como “rábula” em lugar de “advogado”, “bandido” em lugar de “infrator”, “caguetar” em lugar de “denunciar”. Por vezes, entre pares de sinônimos, há um termo mais genérico e outro mais específico, como “assento” e “sofá”, “aeronave” e “avião” ou “helicóptero”, “inseto” e “formiga”. Há casos em que um termo expressa mais intensidade que outro, como “grande” e “enorme”, “frio” e “gélido”, “gastar” e “esbanjar”, “mortandade” e “massacre”. Ocorrem, também, casos em que há oposição entre termos técnicos e populares, como “AVC (acidente vascular cerebral)” e “derrame”, “prurido” e “coceira”, “sutura” e “costura”, “insanidade” e “loucura”, “cefalópode” e “polvo”/ “lula”. Alguns sinônimos opõem-se devido ao fato de uma das palavras ser própria da linguagem coloquial, como “grana” e “dinheiro”, “intolerante” e “rabugento”, “catar” e “captar”, “cascata” e “mentira”. Os sinônimos podem diferenciar-se quando um termo é atual e outro está em desuso (ou em via de cair no desuso), como “chofer” e “motorista”, “retratista” e “fotógrafo”, “murro” e “soco”. Algumas palavras distinguem-se pelo caráter regional, como “macaxeira” por “mandioca”, “guri” por “menino”, “jerimum” por “abóbora”. Para finalizar este tema, vamos às palavras de Lapa (1975: 26), segundo as quais “compreende- se que um dos principais geradores de sinônimos seja a variedade de emprego da mesma coisa, segundo os diferentes meios sociais”. Vamos ilustrar com um exemplo do mesmo autor (op. cit.). Tomando-se as palavras “barriga”, “abdômen”, “ventre” e “pança”, notamos que “barriga” é a palavra de uso mais geral, aquela que nos vem à mente de imediato e a primeira a fazer parte do nosso vocabulário. É o que o autor chama de termo identificador. “Abdômen” é um termo que associamos à linguagem científica. Já “ventre”, longe de fazer parte da linguagem cotidiana, soa aos nossos ouvidos como termo literário, enquanto “pança” é termo próprio da linguagem coloquial, carregado de um tom cômico ou pejorativo. 13 O que se conclui a partir das diferenças que observamos entre sinônimos é que não temos necessidade de palavras que tenham o mesmo significado, mas é conveniente que haja palavras com significados semelhantes para que possamos escolher aquela que se mostrar mais adequada de acordo com a situação. Lembremos, ainda, que o estilo é determinado pelas escolhas que fazemos. Antônimos Antônimos são palavras que têm sentidos opostos, como “cedo” e “tarde”, “claro” e “escuro”, “belo” e “feio”. Os antônimos apresentam diferentes tipos de relações, como movimentos em sentido contrário: “subir” e “descer”, “entrar” e “sair”, “abrir” e “fechar”, podem referir-se a ações que se complementam como “comprar” e “vender”, “receber” e “entregar” ou a diferentes momentos de um processo, como “nascer” e “morrer”, “começar” e “terminar” etc. Observe que o emprego de antônimos não implica, necessariamente, situações de incompatibilidade, como se percebe no trecho a seguir, da carta de suicídio do ex-presidente Getúlio Vargas: Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. (Disponível em http://www2.uol.com.br/historiaviva/artigos/as_duas_cartas_de_getulio_vargas.html acesso em 13 jan. 2015. Destaques nossos.) Observe que termos como “escuridão” e “luz” são incompatíveis, uma vez que, quando dizemos que há escuridão em um ambiente, estamos afirmando que a luz está ausente dele. O mesmo, no entanto, não ocorre com palavras como “vida” e “morte”. Quando afirmamos que não há vida na Lua, não estamos declarando que há morte na Lua. Palavras que, em geral, não são antônimas podem adquirir sentidos opostos de acordo com o contexto. É o que se percebe no trecho a seguir, de Machado de Assis: Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. MACHADO DE ASSIS, Joaquim Mara. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d. Destaques nossos.) Observe que, no trecho, “campa” (sepultura) e “berço”, palavras às quais não costumamos associar a antônimos, adquirem sentidos opostos de “fim” e “início”. Getúlio Vargas Machado de Assis 14 Unidade: A Semântica e temas fronteiriços Assim como afirmamos que não há sinônimos perfeitos, o mesmo pode ser dito dos antônimos. Isso ocorre devido à propriedade das palavras de possuírem vários significados. Vamos refletir sobre os exemplos a seguir: 5. No sonho, manifestam-se conteúdos presos no inconsciente. 6. Vera vive no mundo dos sonhos. No exemplo 5, “sonho” opõe-se a “vigília” (estado de quemestá desperto), enquanto, no exemplo 6, “sonho” opõe-se a “realidade”. Muitos autores, sobretudo do período barroco, exploraram o emprego de antônimos, que constitui uma figura de linguagem chamada antítese. Observe o trecho que segue, de Gregório de Matos: Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, Depois da Luz se segue a noite escura, Em tristes sombras morre a formosura, Em contínuas tristezas a alegria.” (MATOS, Gregório de. Obra Poética. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1992. Destaques nossos.) Agora vejamos outros processos relativos às palavras e seus significados. Hiperônimos e Hipônimos Vimos que as palavras podem ter significados mais amplos ou mais restritos. Se considerarmos os campos semânticos de que tratamos há pouco, veremos que eles são formados por uma palavra cujo significado abrange as demais (que chamamos classema). Lembremos: “curso d’água” abrange “rio”, “córrego”, “arroio”, “riacho”, “ribeirão” etc., logo, em relação a estas últimas temos que a primeira (curso d’água) é um hiperônimo; e as demais (rio, córrego, arroio, riacho, ribeirão) são hipônimos. Vamos a outro exemplo? “Astro” é um hiperônimo em relação a “planeta”, “estrela”, “satélite”, “meteoro”, “cometa” etc., os quais, em relação ao primeiro, são hipônimos. Como a hiperonímia e a hiponímia são relações estabelecidas entre palavras, o mesmo termo pode ser hiperônimo em relação a uma palavra e hipônimo em relação a outra. Um bom exemplo para compreendermos isso são os seres vivos, pois podem ser subdivididos em várias ordens e subordens. Assim, “vertebrado” é hipônimo em relação a “animal”, mas é hiperônimo em relação a “mamífero”, “ave”, “réptil” etc. Da mesma forma, “mamífero” é hipônimo em relação a vertebrado, mas é hiperônimo em relação a “marsupial” e “placentário”. Este último, placentário é hipônimo em relação a “mamífero”, mas é hiperônimo em relação a “canídeo”, que é hiperônimo em relação a “lobo”, “cão” e “raposa”. Finalmente, “cão” é hipônimo em relação a “canídeo”, mas é hiperônimo em relação a “boxer”, “buldogue”, “vira-lata”, “poodle”, “pastor-alemão”, “perdigueiro” etc. Gregório de Matos 15 Os hipônimos e hiperônimos são frequentemente utilizados como estratégias de referenciação, ou seja, servem como referências a outros termos dentro de um texto. Veja o exemplo a seguir, observando as palavras em destaque: O tubarão-baleia (Rhincodon typus) é a única espécie da família Rhincodontidae, vive em oceanos quentes e de clima tropical, além de ser a maior das espécies de tubarão, é o maior peixe conhecido, podendo atingir de 18 a 20 m, mas raramente passa dos 12 metros e pesar mais de 13 toneladas. O animal é completamente inofensivo ao homem e alimenta-se de plâncton por filtração. (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Tubar%C3%A3o-baleia Acesso em 14 jan. 2015. Destaques do autor.) No trecho, o termo “tubarão-baleia” é retomado, no segundo parágrafo, por meio de um hiperônimo, “animal”. Por meio desse recurso, o autor evita a repetição de palavras. Fonte: iStock/Getty Images Há ainda mais processos, acompanhe... Polissemia Observe os seguintes enunciados: 7. O tubarão-baleia tem uma boca enorme. 8. Comprei um fogão com seis bocas. 9. Osvaldo tem seis bocas para alimentar. 10. Aquele bar é uma boca de fumo. 11. Cheguei na boca da noite. 12. O atacante estava na boca do gol. 13. O Chico arrumou uma boca para trabalhar na obra. 16 Unidade: A Semântica e temas fronteiriços Nesses enunciados, percebemos como a mesma palavra pode ter diferentes significados, a saber: (7) abertura por meio da qual o animal se alimenta, (8) saída de gás, (9) dependentes, (10) ponto de venda e consumo de drogas, (11) início, (12) frente, (13) vaga. A essa propriedade das palavras dá-se o nome de polissemia. Fonte: iStock/Getty Images Na verdade, são raras as palavras que têm um único significado. Isso ocorre porque há vários processos que implicam a alteração do significado. Entre eles, podemos citar a analogia. Ela ocorre quando um significante adquire novo significado por semelhança. Por exemplo, a partir do significado inicial, “boca” passa a designar qualquer tipo de abertura, como “boca da garrafa”. Outro processo é a extensão, que ocorre quando uma palavra passa a ter um significado mais abrangente que o original. Por exemplo, “chá” é o nome de um arbusto (chá-da-índia). Como as folhas desse arbusto servem de base para o preparo de uma bebida, esta adquiriu também esse nome. A partir daí, bebidas preparadas de modo semelhante a partir de outros ingredientes passaram a ser chamadas também de chá (chá-mate, chá de erva doce, chá de maçã etc.), assim como as reuniões sociais em que se bebe chá (e outras bebidas) também adquiriram essa designação (chá de bebê, chá de cozinha etc.). Fonte: iStock/Getty Images Há ainda importantes processos como a metáfora e a metonímia, que são bastante comuns e de que trataremos na próxima unidade. Nesta unidade, estudamos alguns conceitos de Semântica que se relacionam ao estudo da Estilística. Na próxima unidade, voltaremos a tratar da Estilística, com enfoque no nível lexical. Para aprofundar seus conhecimentos, não deixe de consultar o material complementar e interagir com seus colegas e seu tutor. Até lá. 17 Glossário antônimos: palavras que possuem significados opostos. campo semântico: grupo de palavras estruturadas de acordo com seus traços semânticos. classema: membro mais genérico de um campo lexical. fonema: unidade mínima sonora da língua. Na palavra “pá”, são a consoante [p] e a vogal [a]. hiperônimo: palavra de significado mais abrangente em relação a outra, como “peixe” em relação a “tubarão”. hipônimo: palavra de significado mais restrito em relação a outra, como “caminhão” em relação a “veículo”. morfema: unidade mínima significativa da língua. Em “meninas”, o radical ou base menin-, a desinência de gênero -a, que indica feminino e a desinência de número -s, que indica o plural. polissemia: propriedade das palavras de possuírem vários significados. sema: traço semântico. Por exemplo, no campo “bebidas”, “vinho” distingue-se de “refrigerante” porque possui o sema “alcoólico”. semema: conjunto de semas de um vocábulo. sinônimos: palavras que possuem, aproximadamente, o mesmo significado. 5 Iniciamos, agora, mais uma unidade da disciplina Língua Portuguesa – Estilística e Estudos Semânticos. Nela, trataremos das palavras evocativas, da metáfora e da metonímia. Para obter um bom desempenho, você deve percorrer todos os espaços, materiais e atividades disponibilizadas na unidade. Comece seus estudos pela leitura do Conteúdo Teórico. Nele, você encontrará o material principal de estudos na forma de texto escrito. Depois, assista à Apresentação Narrada e à Videoaula, que sintetizam e ampliam conceitos importantes sobre o tema da unidade. Só depois realize as atividades propostas. Por fim, consulte as indicações sugeridas em Material Complementar e Referências Bibliográficas para aprofundar e ampliar seus conhecimentos. Lembramos a você da importância de realizar todas as leituras e as atividades propostas dentro do prazo estabelecido para cada unidade, no cronograma da disciplina. Para isso, organize uma rotina de trabalho e evite acumular conteúdos e realizar atividades no último minuto. Em caso de dúvidas, utilize a ferramenta “Mensagens” ou “Fórum de dúvidas” para entrar em contato com o tutor. É muito importante que você exerça a sua autonomia de estudante para construir novos conhecimentos. · Reconhecer a potencialidade expressiva do léxico e os efeitos alcançados por meio do emprego de palavras evocativas. Identificar os processos de metáfora e metonímia e compreender sua importância, sobretudo no texto literário. Estilística lexical • Estilística lexical •A gíria • Linguagem figurada 6 Unidade: Estilística lexical Contextualização Antes de iniciarmos nossos estudos desta unidade da disciplina Língua Portuguesa – Estilística e Estudos Semânticos, convidamos você a ler o texto Procura da poesia, de Carlos Drummond de Andrade: Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que lhe deres: Trouxeste a chave? (Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.) Nesta unidade, estudaremos as palavras do ponto de vista da Estilística e procuraremos a chave para compreender um pouco de suas “mil faces secretas”. 7 Estilística lexical Nesta unidade, estudaremos a questão da linguagem afetiva, tendo como foco as palavras. Na verdade, estamos prosseguindo os estudos das unidades III e IV, nas quais estudamos as palavras do ponto de vista de sua formação e significação. Então, vamos adiante. Palavras lexicais e palavras gramaticais Observe o enunciado a seguir: Passava pelo vilarejo um rio de águas cristalinas. Podemos dividir as palavras que compõem esse enunciado em dois grupos. Por um lado, temos palavras que associamos ao mundo natural e cultural (passava, vilarejo, rio, águas, cristalinas); e, por outro, palavras que não têm significação extralinguística, estabelecendo relações entre as outras palavras ou servindo de determinantes delas. As primeiras são palavras lexicais (ou plenas), as quais, mesmo isoladas, nos remetem a seres, características ou fatos fora do campo da linguagem falada (significação externa). As demais são palavras gramaticais (ou vazias), que não possuem significação extralinguística (significação interna). Léxico Palavras Lexicais (Significação Externa) Palavras Gramaticais (Significação Interna) As palavras lexicais existem em maior número e constituem um inventário que se renova constantemente. As palavras gramaticais constituem um conjunto mais reduzido e estável. Esses grupos, no entanto, não são isolados, de modo que um elemento pode passar a exercer função própria do outro. O processo de passagem de uma palavra gramatical a palavra lexical chama- se lexicalização. É o que ocorre no trecho a seguir: Seu trabalho está bom, mas há um porém. Observe que a palavra “porém” tem a função de estabelecer relação entre orações; mas, nesse trecho, ela passa a figurar como um substantivo1, equivalendo a “problema”, “aspecto negativo”, portanto dizemos que a palavra se lexicalizou. De modo diverso, as palavras lexicais podem passar a ter função de palavras gramaticais. Esse processo é conhecido como gramaticalização. Observe o exemplo que segue: O acusado foi solto mediante pagamento de fiança. Note que a palavra “mediante” se liga morfologicamente ao verbo “mediar”, significando, portanto, “que medeia ou está mediando (algo)”. No exemplo que vimos, contudo, a palavra está estabelecendo relação entre palavras lexicais, ou seja, está exercendo um papel próprio de uma preposição, que é uma palavra gramatical. 1 Consulte o glossário ao final da unidade. 8 Unidade: Estilística lexical As palavras gramaticais, ainda que “vazias”, apresentam potencial expressivo, como se nota no exemplo a seguir: – Mas você é orgulhosa. – Decerto que sou. – Mas por quê? – É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? – Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? (MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Contos Consagrados. Rio de Janeiro: Ediouro, s./d. Destaque nosso.) No trecho, o advérbio “muito” figura de modo incomum, ligado ao pronome “eu”. Com esse desvio, o autor demonstra a convicção da personagem, que enfatiza sua autoria da ação e contesta a afirmação contrária. Explore Para ler o texto completo, acesse http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf. Palavras evocativas Bally propõe-se a estudar valores afetivos das palavras, dividindo-os em efeitos naturais e efeitos por evocação. Os efeitos naturais são propriedades de certas palavras. No exemplo de Guiraud (1970: 77), “‘sombre’ (sombrio, escuro, triste, lôbrego), por exemplo, é uma palavra naturalmente própria a expressar a ideia de escuridão”. Os efeitos por evocação advêm de associações. Como observa o mesmo autor, “uma expressão é vulgar porque foi criada ou adotada por gente vulgar”, pois “é o emprego mais ou menos generalizado de uma expressão por tal ou qual categoria que cria seu valor estilístico”. Nessa mesma linha, Lapa (1975: 26), esclarece que “as palavras evocam os meios sociais em que são geralmente empregadas” e sintetiza: as palavras “são um espelho da sociedade: também se dividem em classes” (op. cit.: 27). A seguir, trataremos das palavras evocativas, as quais dividimos em grupos. A gíria A gíria, certamente, deve estar presente na linguagem que você, aluno, utiliza todos os dias, de modo espontâneo. Ela, no entanto, constitui um fato complexo da linguagem urbana, além de estar impregnada de rico conteúdo afetivo. 9 Embora não seja desprezada pela literatura, a gíria é um fenômeno típico da linguagem falada. Preti (1996: 139-140) divide a gíria em gíria de grupo e gíria comum. A gíria de grupo é aquela utilizada pelo falante dentro de um grupo social específico e composta por vocábulos cujo significado foge à compreensão dos indivíduos que não pertencem ao grupo no qual ela é falada, ou seja, é um signo de grupo, um índice que serve para diferenciar um grupo social dos demais. Em oposição à gíria de grupo, a gíria comum é aquela que, originária de um determinado grupo, por meio da interação social, passa a fazer parte do repertório de falantes que não fazem parte do grupo do qual ela se originou. Por exemplo, a expressão “saia justa” origina-se da gíria dos frequentadores de danceterias. Como uma saia apertada dificulta os movimentos de quem pretende dançar, a expressão ganhou o sentido de “situação incômoda”. Com a interação social, a expressão ultrapassou os limites do grupo, sendo divulgada, inclusive, pela imprensa (Cf. Preti, 2003). Thinkstock/Getty Images Guiraud (1956) divide os termos da gíria em expressivos e técnicos. Os primeiros são formados por mecanismos comuns na língua como a extensão de sentido, a metáfora, a metonímia (de que trataremos a seguir); os segundos são simples signos criptológicos, por vezes, meras letras e siglas; não têm função expressiva, são simples componentes de um código. Naturalmente, apenas as palavras do primeiro grupo, pelo colorido especial que dão à linguagem, podem migrar do grupo social para o vocabulário geral. Dessa forma, termos originários da gíria dos marginais, como “xis nove” (delator), “berro” (revólver) e “xadrez” (prisão, cela) são conhecidos atualmente por pessoas que não pertencem a esse grupo. Alguns autores exploram o emprego de palavras da gíria como recurso literário para caracterizar as personagens por meio de sua linguagem. É o que faz João Antônio, nos trechos a seguir: Bem. Engraxando lá nas beiradas da Estação Júlio Prestes. Era um na fileira lateral dos caras. Entre velhos fracassados em outras virações e moleques como eu e até melhores, gente que tinha pai e mãe e que chegava lá da Barra Funda, da Luz, do Bom Retiro... Porque isso de engraxar é uma viração muito direitinha. Não é frescura não. A gente vai lá, ao trambique da graxa e do pano, porque anda a faminta apertando. [...] Descidos dos trens. Marmiteiros ou trabalhadores do comércio, das lojas, gente do escritório da estrada de ferro, todo esse povo de gravata que ganha mal. Mas que me largava o carvão, o mocó, a gordura, o maldito, o tutu, o pororó, o mango, o vento, a granuncha. A seda, a gaita, a grana, a gaitolina, o capim, o concreto,o abre-caminho, o cobre, a nota, a manteiga, o agrião, o pinhão. O positivo, o algum, o dinheiro. Aquele um de que precisava para me aguentar nas pernas sujas, almoçando banana, pastéis, sanduíche. (FERREIRA FILHO, João Antônio. Leão de Chácara. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.) 10 Unidade: Estilística lexical Explore Para acessar o texto completo, consult http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2010/10/08/760354/ especial-tem-livros-vestibular-baixar.html. No trecho, o narrador, na condição de menino de rua, conta seu dia a dia na “viração” (ocupação) de engraxate e o esforço constante pela obtenção de dinheiro. A supervalorização do ganho diário na luta pela sobrevivência sobressai pelo uso de grande número de palavras da gíria, como “gaita”, “grana”, “gaitolina”, “capim”, “cobre” etc. As palavras da gíria são, em geral, de caráter transitório, pois caem rapidamente em desuso, deixando, portanto, de serem compreendidas por quem não compartilhou a época em que eram empregadas. Além disso, geralmente, constituem um vocabulário de significação muito ampla. Esses fatores são um empecilho ao uso de gírias em textos literários. O estrangeirismo Os empréstimos linguísticos (aquisição de palavras estrangeiras) estão longe de ser um fenômeno recente não só em relação ao português. No século XIX, a França era o grande centro irradiador de cultura do mundo. No Brasil, os escritores franceses alcançavam grande sucesso (considerando o pequeno público leitor brasileiro), e tudo que fosse francês era tido como moderno e progressista (cf. Hallewell, 1985: 129). Em consequência, muitas palavras francesas foram integradas ao português, como “abajur”, “batom”, “menu”, “garçom” etc. No século XX, a chegada do futebol ao país trouxe consigo vários empréstimos, como “gol” (< inglês goal), além do próprio nome do esporte (< inglês football), mas a maioria deles caiu em desuso. A incorporação de um estrangeirismo pode gerar quatro processos diferentes: 1 - a conservação da forma original, como em pizza; 2 - a adaptação ao português, como em “hambúrguer” (plural “hambúrgueres”); 3 - a tradução do termo (calco), como “centroavante” (inglês center-forward); 4 - a criação de palavra substituta, como “escanteio” (inglês corner kick) e “cardápio” (francês menu). Thinkstock/Getty Images Hambúrguer – inglês hamburguer, ‘idem’ < alemão Hamburguer, do topônimo alemão Hamburg. (Houaiss, 2009) 11 Os empréstimos são largamente usados por certos grupos ligados à tecnologia, à economia, à moda, seja como linguagem técnica, seja por causar no falante certa sensação de prestígio. Essa sensação parece influenciar a fala do galanteador Basílio, personagem de Eça de Queirós (recém-chegado de Paris), no trecho de um diálogo com a prima Luísa, alvo de seu desejo: – É muito simples – acrescentou ele. – Tu vais-me encontrar a qualquer parte, longe daqui, está claro. Eu estou à espera de ti com uma carruagem, tu saltas para dentro e fouette, cocher!2 (QUEIRÓS, Eça de. O Primo Basílio. São Paulo: Nova Cultural, s/d. Destaques nossos.) O estrangeirismo pode, também, evocar uma atmosfera local, ou transmitir legitimidade em relação ao conhecimento de temas pertinentes a culturas diversas. É o que se nota no trecho a seguir: – D. Raposo, nós temos sido bons amigos... Pode pois afiançar à senhora sua tia, da parte de um homem que a Alemanha escuta em questões de crítica arqueológica, que o galho que lhe levar daqui, arranjado em coroa, foi... – Foi? – berrei ansioso. – Foi o mesmo que ensanguentou a fronte do Rabi Jeschoua Natzarieh, a quem os latinos chamam Jesus de Nazaré, e outros também chamam o Cristo!... (QUEIRÓS, Eça de. A Relíquia. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d. Destaques nossos.) Nesse trecho, a personagem Topsius – um historiador – para conferir maior credibilidade à sua afirmação, emprega o termo “rabi” (do hebraico, “mestre”), além de referir-se a Jesus pelo nome hebreu. Em sua linguagem, são abundantes palavras e expressões em latim, que servem também como comprovação de sua erudição. Eça de Queirós Wikimedia Commons Você provavelmente já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa vinda de uma região diferente da sua e deve ter notado que ela usava palavras e expressões estranhas para você. Isso ocorre porque a linguagem de cada região apresenta características próprias. É o que se chama variação regional (ou diatópica). O termo “regionalismo” é empregado tanto em referência à literatura que retrata elementos típicos de determinada região quanto em relação às características linguísticas regionais (sentido em que o utilizaremos). As expressões regionais dão tom pitoresco à linguagem, evocando a atmosfera do local de onde elas se originam. 2 Acelere, cocheiro. 12 Unidade: Estilística lexical Em algumas obras narrativas, os regionalismos integram todo o texto, enquanto, em outras, são empregados para caracterizar as falas das personagens, como se percebe no trecho que segue: – Vassuncê não acredita! protesta então com calor. Pois encilhe o seu bicho e caminhe como eu lhe disser. Mas assunte bem, que no terceiro dia de viagem ficará decidido quem é cavoqueiro e embromador. Uma coisa é maniar à toa, outra andar com tento por estes mundos de Cristo. (TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle. Inocência. São Paulo: Melhoramentos, s/d. Destaques nossos.) Nesse trecho, o autor procura caracterizar a personagem por meio da linguagem rural, que se nota em “vassuncê” (forma arcaica de “você”), “encilhar” (pôr arreio em), “cavouqueiro” (inapto) “embromador” (que usa de meios para não realizar uma tarefa) e “maniar” (vagar). No trecho a seguir, o autor exalta a gente da sua terra, caracterizando a voz que se expressa poeticamente por meio de uma expressão própria do sertanejo nordestino: Eu sou de uma terra que o povo padece Mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida, que a linda cabocla De riso na boca zomba no sofrer Não nego meu sangue, não nego meu nome Olho para a fome, pergunto o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, Sou cabra da Peste, sou do Ceará. (ASSARÈ, Patativa do. Eu e o Sertão. Petrópolis: Vozes, 1982. Destaque nosso.) Ilustração do poeta Patativa do Assaré O arcaísmo Você já percebeu, ao conversar com uma pessoa mais velha, ou lendo um texto antigo, o uso de palavras e expressões que lhe soaram antiquadas? Já notou, também, em uma situação como essas, a presença de palavras usadas em sentido diferente do que elas têm hoje? 13 Assim como há palavras novas que passam a integrar o léxico de uma língua, outras deixam de ser usadas ou adquirem sentidos novos. O arcaísmo lexical é o emprego de uma palavra que caiu em desuso, enquanto o arcaísmo semântico é o emprego de uma palavra ainda em uso com sentido que ela possuía no passado, mas que já não existe na língua atual. Na verdade, como as línguas mudam em todos os níveis, há arcaísmos e todos eles. Os arcaísmos se percebem não só em textos antigos, que exemplificam a língua da época em que foram escritos, mas também em textos mais recentes, em que o escritor emprega intencionalmente uma linguagem antiquada, para evocar o passado, trazendo-nos o clima de épocas remotas. É o que faz Drummond na crônica da qual reproduzimos um trecho a seguir: Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam, antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantospaus se faz uma canoa. O que não impedia que, nesse entrementes, esse ou aquele embarcasse em canoa furada. (DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. Poesia e Prosa. Ri de Janeiro, Nova Aguilar, 1979.) Explore Para ler essa crônica na íntegra, acesse http://intervox.nce.ufrj.br/~jobis/carlos.htm. Entre outras expressões, temos “fazer pé de alferes” e “arrastar a asa” (cortejar), “janota” (que se veste com aprumo), “levar tábua” (ser rejeitado), “tirar o cavalo da chuva” (desistir). O acúmulo proposital de arcaísmos é responsável pelo tom humorístico do texto. O indigenismo O indigenismo faz parte, sobretudo, da obra de escritores nacionalistas e dos períodos em que esse sentimento foi mais cultuado. O índio, representando o mais autêntico elemento étnico brasileiro, foi retratado de modo heroico no período romântico (1836-1881); e sua figura foi retomada posteriormente, na chamada fase heroica do Modernismo (1922-1930). O emprego de termos em tupi, além de ser um diferencial do português brasileiro em relação ao europeu, evoca o ambiente cultural do aborígine e, muitas vezes, dá contorno poético à narrativa, como na obra indianista de José de Alencar. 14 Unidade: Estilística lexical Leia, a seguir, um trecho da Canção do Tamoio, de Gonçalves Dias: Um dia vivemos! O homem que é forte Não teme da morte; Só teme fugir; No arco que entesa Tem certa uma presa, Quer seja tapuia3, Condor ou tapir4. (GONÇALVES DIAS, Antônio. Obras Poéticas. São Paulo: Nacional, 1944.) No trecho, o autor exalta as qualidades de guerreiro, que, ao preparar o arco para o disparo, está certo de que atingirá a caça ou o inimgo. Gonçalves Dias Wikimedia Commons Linguagem figurada Segundo Martins (2008: 119), “o mais importante fator de afetividade é certamente o emprego da linguagem figurada”. Ela consiste no deslocamento das palavras de seu significado primário e é um dos meios pelos quais as palavras se tornam polissêmicas. A seguir, trataremos das principais figuras de palavras. 3 Indivíduo pertencente à tribo de mesmo nome, inimiga dos tamoios. 4 Mesmo que “anta”. 15 Metáfora A metáfora é o emprego de um termo que se associa a outro por semelhança. Para ilustrar a definição, vamos ler a famosa estrofe de Casimiro de Abreu: Oh! dias de minha infância! Oh! meu céu de primavera! Que doce a vida não era Nessa risonha manhã! Em vez das mágoas de agora, Eu tinha nessas delícias De minha mãe as carícias E beijos de minha irmã! (ABREU, Casimiro de. Poesias Completas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1954. Destaques nossos.) Ao afirmar que a vida é doce, o autor está empregando o termo “doce” de modo metafórico, porque esse termo está deslocado de seu significado primitivo (ligado ao paladar). Por meio desse deslocamento de significado, ele é associado à vida com base em uma semelhança: 1 - a vida é agradável; 2 - o doce é agradável (ao paladar); 3 - logo, vida é doce. Podemos sintetizar a constituição dessa figura da seguinte forma: há um termo que serve de base (doravante TB – termo base), o qual, nesse exemplo, é “vida”, um termo metafórico (doravante TM), “doce”, que se associa à vida (TB), e um elemento mediador (doravante EM), “agradável”, por meio do qual se associam os termos anteriores. Assim, temos: TB – VIDA TM – DOCEEM – AGRADÁVEL No mesmo trecho, temos outra metáfora. Em “que doce a vida não era nessa risonha manhã”, o termo “manhã” refere-se metaforicamente à infância, dado que a manhã é o início do dia, assim como a infância é o início da vida. Portanto, temos: TB – INFÂNCIA TM – MANHÃEM – INÍCIO Observe que o termo “infância” não está explícito nesse enunciado, mas subentendido, o que ocorre em muitos exemplos de metáfora. 16 Unidade: Estilística lexical Casimiro de Abreu Vejamos outro exemplo, na estrofe extraída da obra do poeta Augusto dos Anjos: Vês! Ninguém assistiu ao formidável Enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão – esta pantera – Foi tua companheira inseparável! (ANJOS, Augusto de. Eu e Outras Poesias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982. Destaque nosso.) Neste passo, a análise exige um pouco mais de reflexão. Primeiramente, “quimera” (ser mitológico, inexistente na realidade) associa-se à última esperança ou ilusão perdida (enterrada) daquele a quem a poesia se dirige. Isto nos leva ao seguinte quadro: TB – ESPERANÇA, ILUSÃO TM – QUIMERA EM – AUSÊNCIA DE REALIDADE No mesmo trecho, percebe-se a associação entre a “ingratidão” e “pantera”, dado que, ao final das esperanças e ilusões, permaneceu apenas a ingratidão, demonstrando-se tenaz com uma pantera que persegue a sua presa. Dessa forma, a análise nos leva ao quadro que segue: TB – INGRATIDÃO TM – PANTERAEM – TENACIDADE 17 Algumas metáforas, sobretudo as mais desgastadas pelo uso recorrente, perdem o poder expressivo, devido à obviedade de interpretação, como em “André é uma raposa”, em que o EM é, evidentemente, a esperteza. Nesses casos, podemos dizer que se trata de uma “metáfora fechada”, pois há consenso a respeito de qual é o EM. Em outros casos, esse recurso se apresenta de modo tão original e inusitado, que o EM não se apresenta de modo patente, ou seja, é possível que se levantem várias hipóteses possíveis sobre ele. Vejamos um exemplo: Eu não sou eu nem sou o outro, Sou qualquer coisa de intermédio: Pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o Outro. (SÁ-CARNEIRO, Mário de. Indícios de Oiro. Porto: Presença, 1937. Destaque nosso) TB – EU TM – PILAR DA PONTE DE TÉDIO EM – ? A essas metáforas, que permitem diferentes interpretações, podemos chamar “metáforas abertas”. Metonímia A metonímia consiste na substituição de um termo por outro que se liga ao primeiro por algum tipo de relação. Destacamos a palavra “substituição”, porque ela nos permite diferenciar a metonímia da metáfora. Tomemos um exemplo, como “adoro os pratos da cozinha italiana”. Nesse enunciado, a palavra “prato” (o que contém [algo]) substitui aquilo que está contido nele (a iguaria, como a pizza, a lasanha, o nhoque etc.), que é o que, de fato, se come. Dessa forma, podemos descrever a relação estabelecida pela metonímia como continente-conteúdo, ou seja, o que contém (prato) substitui o que está contido (iguaria). Isso nos leva ao quadro em que temos um termo base (TB), um termo substituto ou metonímico (TS) e um tipo de relação (TR). Vejamos: TS – PRATO TB – IGUARIATR – CONTINENTE- CONTEÚDO Alguns autores distinguem esse tipo de metonímia dos demais, chamando-lhe sinédoque. A metonímia, como a metáfora, pode ser um recurso ad hoc, ou seja, moldado para uma ocasião. Para compreender essa afirmação, vamos ler e analisar um trecho da obra de Machado de Assis, que segue: Daí a pouco demos com uma briga de cães; fato que aos olhos de um homem vulgar não teria valor. Quincas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram dois. Notou que ao pé deles estava um osso, motivo da guerra, e não deixou de chamar a minha atenção para a circunstância de que o osso não tinha carne. Um simples osso nu. Os cães mordiam-se, rosnavam, com o furor nos olhos... Quincas Borba meteu a bengala debaixo do braço, e parecia em êxtase. 18 Unidade: Estilística lexical – Que belo que isto é! dizia ele de quando em quando. Quis arrancá-lo dali, mas não pude; ele estava arraigado ao chão, e só continuou a andar, quando a briga cessou inteiramente, e um dos cães, mordido e vencido, foi levar a sua fome a outra parte. (MACHADO DE ASSIS, Joaquim Mara. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d. Destaque nosso.) Nesse trecho, quando o autor escreve “foi levar a sua fome a outra parte”, entendemos que o cão derrotado levou a si mesmo daquele local a outro, ou seja, Machado emprega “fome” (a sensação) em substituição ao cão (o que sente fome, digamos,o “sensitivo”). Essa metonímia pode ser representada pelo quadro que segue: TS – FOME TB – CÃOTR – SENSAÇÃO- “SENSITIVO” Nesta unidade, estudamos as palavras evocativas, a metáfora e a metonímia. Na próxima unidade, trataremos da Estilística Sintática. Para aprofundar seus conhecimentos, não deixe de consultar o material complementar e interagir com seus colegas e seu tutor. Até lá. Glossário advérbio: palavra que modifica um verbo (acordar cedo), um adjetivo (bastante claro) ou outro advérbio (muito perto). conjunção: palavra invariável que estabelece ligação entre orações ou termos da mesma oração. palavra gramatical: palavra sem significação extralinguística que estabelece relações entre outras palavras, palavra vazia. palavra lexical: palavra cuja significação remete ao mundo natural ou cultural, palavra plena. preposição: palavra invariável que liga termos da mesma oração. pronome: palavra que representa um nome. substantivo: palavra que nomeia seres, ações, características, sentimentos etc. 5 · Introdução · Ordem Direta ou Canônica · Inversão · Anacoluto · Objeto Pleonástico · Pleonasmo · Emprego de Vozes Verbais · Concordância Nominal e Concordância Verbal · Glossário · Compreender os processos estilísticos ligados à estruturação da frase, reconhecer alguns dos recursos expressivos relacionados a processos sintáticos. Nesta unidade da disciplina de Língua Portuguesa – Estilística e Estudos Semânticos, trataremos da Estilística Sintática. Para um bom aproveitamento na disciplina, é muito importante a interação e o compartilhamento de ideias para a construção de novos conhecimentos. Estilística Sintática 6 Unidade: Estilística Sintática Contextualização Antes de iniciarmos nossos estudos desta unidade da disciplina Língua Portuguesa – Estilística e Estudos Semânticos, convidamos você a ler uma famosa passagem de nossa literatura, que segue: Temos à escolha um ou outro dos hemisférios cerebrais; mas vamos por este, que é onde nascem os substantivos. Os adjetivos nascem no da esquerda. Descoberta minha, que, ainda assim, não é a principal, mas a base dela, como se vai ver. Sim, meu senhor, os adjetivos nascem de um lado, e os substantivos de outro, e toda a sorte de vocábulos está assim dividida por motivo da diferença sexual... – Sexual? Sim, minha senhora, sexual. As palavras têm sexo. Estou acabando a minha grande memória psico-léxico-lógica, em que exponho e demonstro esta descoberta. Palavra tem sexo. – Mas, então, amam-se umas às outras? Amam-se umas às outras. E casam-se. O casamento delas é o que chamamos estilo. (MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Os Melhores Contos de Machado de Assis. São Paulo: Global, 1986. Destaque nosso.) Observe como o narrador “dialoga” com o leitor, explicando-lhe a importância da relação entre as palavras de um texto. Alegoricamente, narra-se, no texto, o “casamento” entre um substantivo e um adjetivo. Nesta unidade, estudaremos a frase, seus constituintes e sua ordem e procuraremos compreender um pouco sobre o “casamento” das palavras na frase, a que Machado de Assis nomeia, Estilo. Leia o texto completo de Machado de Assis em: http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf 7 Introdução Estudaremos a questão da linguagem afetiva, tendo como foco a sintaxe. A sintaxe trata da ordem das palavras e das relações entre elas como elementos constituintes de uma frase. A frase é uma estrutura com sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. Em português, dispomos de certa liberdade em relação à estruturação da frase, o que nos permite optar por diferentes organizações sintáticas, as quais produzem efeitos diversos aos que nos ouvem ou leem. A seguir vamos tratar, brevemente, de algumas dessas possibilidades que a língua põe à nossa disposição. Ordem Direta ou Canônica A ordem mais usual das palavras em língua portuguesa é chamada de ordem direta ou canônica: sujeito1 + verbo + objeto direto (ou objeto indireto), como em Verônica colheu margaridas. Como a maioria dos verbos da nossa língua são transitivos diretos, a primeira opção é a mais comum. Para termos uma noção de como a ordem pode ser decisiva na interpretação da frase, vejamos os exemplos a seguir: 1. Eles compraram um apartamento caro, mas espaçoso. 2. Eles compraram um apartamento espaçoso, mas caro. Notamos que, nesses enunciados, a característica mencionada por último ganha maior relevo, de modo que, em (1), a avaliação sobre o apartamento é predominantemente positiva, enquanto, em (2), é predominantemente negativa. A ordem direta, sendo a mais corriqueira, é expressivamente neutra. Assim, quando se busca pôr em evidência o aspecto afetivo da linguagem, ela é frequentemente evitada, optando-se pela inversão. 1 Consulte o glossário ao final da unidade. 8 Unidade: Estilística Sintática Inversão O termo inversão refere-se genericamente a frases que não se encontram na ordem direta ou canônica. A Retórica classifica as inversões em diferentes grupos de “figuras de construção”, os quais se confundem comumente, de modo que, na medida do possível, evitaremos tais classificações, uma vez que nosso interesse principal não está na nomenclatura. Tomemos um exemplo de inversão. Em frases imperativas, em que se expressam, sobretudo, ordens, os gramáticos prescrevem que os pronomes sejam colocados depois do verbo, como em “Traga-me os documentos”. Ocorre, porém, que essa colocação do pronome utilizada no português do Brasil, expressa uma forma extremamente “seca” e até agressiva. Note que essa colocação é a preferida em frases de conteúdo ofensivo, como “cale-se” e “ponha-se daqui para fora”. A colocação do pronome antes do verbo, no entanto, dá à frase um tom mais delicado, de modo que, quando dizemos “me sirva um café”, fazemos com que a frase soe de forma polida, ao passo que “sirva-me um café” faz sobressair na frase toda a carga de uma ordem. Essa sutileza da expressão motivou o seguinte poema de Oswald de Andrade: Pronominais Dê-me um cigarro Diz a gramática Do professor e do aluno E do mulato sabido Mas o bom negro e o bom branco Da Nação Brasileira Dizem todos os dias Deixa disso camarada Me dá um cigarro. (Obras Completas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972.) Vejamos, agora, outro exemplo de inversão.Desde as primeiras lições de gramática, ouvirmos dizer que, em português, o adjetivo pode ser empregado antes ou depois do substantivo. Essa afirmação é, na melhor das hipóteses, meia verdade. Vamos observar alguns exemplos? Adjetivos de valor puramente intelectivo não admitem a posição inicial. Daí, dizermos “biblioteca nacional”, mas não “*nacional biblioteca”2 e “Marcos mora naquela casa amarela”, mas não “*Marcos mora naquela amarela casa”. A colocação do adjetivo antes do substantivo ocorre quando há um componente emocional na frase. Nas palavras de Lapa (1975: 141), “nas exclamações, nas crises de afetividade, em que se exprime a admiração, o êxtase, a mágoa, etc., o adjetivo se coloca, por via de regra, antes do substantivo”. Podemos confirmar isso na frase: “A equipe de emergência tranquilizou a desesperada mãe do menino atropelado.” 2 O asterisco (*) indica que a construção é inexistente. 9 O mesmo autor observa que o “poeta dirá de preferência ‘o verde prado’, porque alude não à verdura em si própria, mas às emoções e ao prazer que lhe suscita a verdura do prado” (op. cit.: 140). Para ilustrar as afirmações, notemos o quanto estão carregados de afetividade os seguintes versos: O tempo cobre o chão de verde manto, Que já coberto foi de neve fria, E em mim coverte em choro o doce canto. E, afora este mudar-se cada dia, Outra mudança faz de mor3 espanto, Que não se muda já como soía. (CAMÔES, LuísVaz de. Sonetos de Camões. São Paulo: Núcleo, 1991.) Uma das outras formas de inversão é a topicalização, em que um elemento da frase é deslocado para o início, de modo a destacá-lo. É o que se observa em frases como “essa piada todo o mundo já conhece”, na qual se atrai a atenção para o objeto direto “essa piada”. Apesar de parecer um recurso banal, como nessa frase – cuja estrutura é comum na língua oral –, a topicalização pode ser um processo extraordinariamente expressivo, como nos demonstram os célebres versos de Camões, que seguem: As armas e os barões assinalados Que, da Ocidental praia Lusitana, Por mares nunca dantes navegados Passaram ainda além da Taprobana, Em perigos e guerras esforçados, Mais do que prometia a força humana, E entre gente remota edificaram Novo Reino, que tanto sublimaram; E também as memórias gloriosas Daqueles Reis que foram dilatando A Fé, o Império, e as terras viciosas De África e de Ásia andaram devastando, E aqueles que por obras valerosas Se vão da lei da Morte libertando: Cantando espalharei por toda parte Se a tanto me ajudar o engenho e arte. (CAMÔES, Luís Vaz de. Os Lusíadas. 5. ed. Porto: Porto, 1947.) Note que as duas estrofes contêm uma única frase. Dada a complexidade da estrutura sintática desse trecho, vamos eliminar alguns elementos intercalados para facilitar a compreensão: 3 Maior. 10 Unidade: Estilística Sintática As armas e os barões assinalados [...] e também as memórias gloriosas daqueles reis [...] e aqueles [...] cantando espalharei por toda parte. Vale a pena deter um pouco mais nossa atenção na sofisticada elaboração desses versos, ricos em inversões. O poeta inicia a frase com a topicalização do objeto direto – “as armas e os barões (homens notáveis) assinalados”–, que se liga a outros dois núcleos – “memórias (gloriosas daqueles reis)” e “aqueles (que realizaram proezas inesquecíveis)”. Cada um desses três núcleos está intercalado pela narração de seus feitos – os primeiros navegaram pelos mares desconhecidos e fundaram um novo reino, os demais devastaram as terras de África e Ásia, expandindo a fé católica e o império português, os últimos libertaram-se da lei da morte devido a suas obras grandiosas. Todo esse trecho estende-se ao sexto verso da segunda estrofe, de tal forma que o leitor, até aí, está na expectativa de saber o que o autor vai declarar sobre esses homens que havia citado. Até que, somente na penúltima estrofe, aparece o verbo da oração principal – “espalharei”. Por meio desse recurso, o poeta consegue manter o interesse do leitor até as últimas palavras da frase. Para fazermos uma comparação, veja como seria insípida a frase sem as inversões: Espalharei por toda parte, cantando, as armas e os barões assinalados [...] e também as memórias gloriosas daqueles reis [...] e aqueles [...]. Passaremos agora a outros procedimentos de topicalização: o anacoluto e o objeto pleonástico. Nomes difíceis, mas procedimentos fáceis de perceber. 11 Anacoluto O anacoluto é um procedimento que se assemelha à topicalização, uma vez que envolve a colocação de um elemento em uma posição de destaque. Ele se diferencia, contudo, pois o membro destacado, a rigor, não é um elemento frasal, dado que não se relaciona com o restante da frase. Depois desse termo, há uma ruptura da sequência lógica. Por esse motivo, o anacoluto também é conhecido como “frase quebrada”. Repare na estrutura da seguinte estrofe, de um famoso poema de Gonçalves Dias: O forte, o cobarde Seus feitos inveja De o ver na peleja Garboso e feroz; E os tímidos velhos Nos graves conselhos, Curvadas as frontes, Escutam-lhe a voz! (GONÇALVES DIAS, Antônio. Obras Poéticas. São Paulo: Nacional, 1944. Destaque nosso.) No início do primeiro verso da estrofe, parece-nos que o termo “o forte” exercerá a função de sujeito. Ele, porém, é “abandonado”; e a construção é retomada, tendo, como sujeito, “o cobarde” (com o qual concorda a forma verbal “inveja”). Se colocarmos esse verso numa ordem direta e canônica teremos: “O cobarde inveja os feitos do forte”. Talvez, seja mais compreensível, no entanto, perde-se a força do verso, não é mesmo? Releia o poema para conferir. 12 Unidade: Estilística Sintática Objeto pleonástico O objeto pleonástico é uma forma de topicalização em que o termo deslocado é retomado por um pronome oblíquo. Como esse pronome se torna redundante, ele é chamado “pleonástico”. Observe o trecho a seguir, de de Machado de Assis: Os frutos de uma laranjeira, se ninguém os gostar, valem tanto como as urzes e plantas bravias, e, se ninguém os vir, não valem nada; ou, por outras palavras mais enérgicas, não há espetáculo sem espectador. (Os melhores contos de Machado de Assis. São Paulo: Global, 1986. Destaques nossos.) A leitura permite-nos entender que o objeto direto dos verbos “gostar” e “ver” é o termo “os frutos da laranjeira”. Esse termo é retomado pelo pronome oblíquo “os”. Como esse termo retoma um termo já expresso, ele é chamado “pleonástico”. Observe que, nessa construção, “gostar os frutos” significa “sentir seu gosto”. Veremos a seguir outros procedimentos em relação à sintaxe da língua que permitem evidenciar o aspecto afetivo da linguagem, criando diferentes efeitos de sentido e conferindo expressividade aos enunciados. São eles: pleonasmo, emprego de vozes verbais e da concordância verbal e nominal. 13 Pleonasmo O pleonasmo consiste na repetição de uma ideia já expressa com objetivo de enfatizá-la. É o que se observa em construções como “esta é a verdade verdadeira” (incontestável) e “viveu uma vida digna”. O pleonasmo é uma forma de tornar a expressão mais viva, mais nítida e evidente aos sentidos. Vejamos um exemplo: Uma tal pedra, com tais quilates de luz, não existiu nunca, e ninguém jamais a viu; mas muita gente crê que existe e mais de um dirá que a viu com os seus próprios olhos. (MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Os Melhores Contos de Machado de Assis. São Paulo: Global, 1986. Destaques nossos.) Uma espécie de pleonasmo, que põe em relevo uma qualidade intrínseca do ser, é o epíteto de natureza, como em “neve fria” (essa expressão está presente no primeiro exemplo de um soneto de Camões,citado anteriormente, em que falávamos sobre a ordem dos adjetivos). A seguir, reproduzimos um exemplo bastante conhecido desse recurso utilizado por um dos maiores poetas da língua portuguesa, Fernando Pessoa: Ó mar salgado, quanto do teu sal São lágrimas de Portugal! (PESSOA, Fernando. Obras Poéticas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1960. Destaque nosso.) O autor menciona uma característica inerente ao mar (conter sal), para explicar que ela se origina das lágrimas de portugueses que perderam pessoas próximas em naufrágios. 14 Unidade: Estilística Sintática Emprego de Vozes Verbais As frases a seguir foram construídas com base em diferentes estruturas sintáticas, devido à mudança da voz do verbo. Sabemos que em português o verbo varia em voz ativa e voz passiva. Na primeira, temos a estrutura: sujeito + verbo + objeto direto; e na segunda, sujeito + verbo (verbo ser + verbo no particípio)+ agente da passiva. Observe, a seguir, as frases 3 e 4. Ao analisá-las, vamos procurar compreender em que medida as diferenças estruturais, ocorridas devido à mudança da voz do verbo, acarretam efeitos de sentido diversos: 3. O policial multou o motorista. 4. O motorista foi multado pelo policial. Nessas frases, temos, respectivamente, a voz ativa (3), em que o sujeito – o policial – é agente da ação expressa pelo verbo “multar”, e a voz passiva (4), em que o sujeito – o motorista – é paciente da ação expressa pelo verbo “multar”. As gramáticas tradicionais costumam tratar essas frases como “equivalentes” entre si, mas não é necessário muito esforço para compreender que, entreelas, há, no máximo, uma aparente equivalência. Vejamos, então. Em (3), destaca-se o policial como agente, e isso nos sugere que a ação ocorreu por iniciativa dele, que, intencionalmente, aplicou a multa sobre o motorista, que nada pôde fazer a respeito. Em (4), entendemos que a presença do motorista (praticando uma infração) desencadeou a ação, não restando alternativa ao policial, senão multá-lo. Na linguagem oral, essa diferença expressiva entre as frases é explorada, quando se diz, por exemplo, “não foi o ministro que saiu do cargo; ele, na verdade, foi saído”. Isto é, o ministro não saiu do cargo por sua vontade, mas foi demitido, por razões que não devem ser expressas. Outra construção, que se apresenta sensivelmente “menos equivalente” às anteriores, é a voz passiva pronominal, que tem a estrutura: verbo na 3ª os + pronome oblíquo “se” + sujeito, conforme a frase 5, a seguir: 5. Multou-se o motorista. Neste caso, parece que a ação se dá inopinadamente, como se a multa sucedesse espontaneamente, sem a intervenção de nenhum agente, quase uma obra de acaso. Há, ainda, a voz reflexiva, em que a ação é praticada pelo sujeito e recai sobre ele mesmo, como em “o paraquedista lançou-se do avião”. No caso de alguns verbos, esse tipo de construção pode constituir um desvio, em que se evidencia a espontaneidade do agente, como no conhecido verso (veja a inversão do adjetivo “conhecido”, aqui utilizada, destacando-o) de Manuel Bandeira: 15 Vou-me embora pra Pasárgada. (BANDEIRA, Manuel. Libertinagem e Estrela da Manhã. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. Destaque nosso.) Nesse caso, o uso sem desvios seria: “Eu vou embora para Pasárgada”. Muito menos expressivo, concorda? Nos exemplos a seguir, versos de Camões e Alphonsus Guimarens, em que a ideia de espontaneidade parece não se aplicar, pode-se entender a presença do pronome como um recurso que visa a suavizar a expressão (Lapa, 1975). Vamos a eles: Alma minha gentil, que te partiste Tão cedo desta vida, descontente, Repousa lá no céu eternamente E viva eu cá na Terra sempre triste. (CAMÔES, Luís Vaz de. Sonetos de Camões. São Paulo: Núcleo, 1991. Destaque nosso.) As estrelas dirão: – “Ai! nada somos, Pois ela se morreu silente e fria...” (GUIMARAENS, Alphonsus de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1960. Destaque nosso.) 16 Unidade: Estilística Sintática Concordância Nominal e Concordância Verbal A concordância é um fenômeno sintático em que duas ou mais palavras se harmonizam em suas flexões. Por exemplo, em “os escritores românticos”, “os” e “românticos” apresentam-se em relação de concordância com o substantivo “escritores”. Essa concordância (nominal) se dá em gênero (masculino) e número (plural). A concordância verbal é a harmonização do verbo com o núcleo do sujeito em pessoa (1ª, 2ª ou 3ª) e número (singular ou plural). Na verdade, essa explicação é apenas parcial e não dá conta da complexidade do fato. Como comprovação basta consultar, numa gramática, os capítulos sobre concordância, que, em geral, são bastante longos. A concordância, no entanto, pode ultrapassar o âmbito estritamente gramatical, para abranger conteúdos afetivos. Para ilustrar, imagine a seguinte pergunta de um médico a seu paciente: Como estamos hoje, seu Orlando? A pergunta, certamente, não se refere também a quem a formula; mas o emprego da primeira pessoa do plural (estamos), nesse caso, é uma forma de o falante demonstrar interesse pelo interlocutor. De modo semelhante, Machado de Assis utiliza a primeira pessoa em vez da terceira no trecho que segue: Todos somos os fios do tecido que a mão do tecelão vai compondo, para servir aos olhos vindouros, com os seus vários aspectos morais e políticos. (In: MAGALHÃES JR., R. [org.]. Diálogos e Reflexões de um Relojoeiro. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d. Destaque nosso.) A preferência de “todos somos” por “todos são” é uma maneira de o escritor unir-se aos leitores, incluindo-se no que deve ser entendido como “todos”. Essa concordância, em que a flexão de pessoa do verbo não se harmoniza gramaticalmente com o sujeito, é um caso de silepse de pessoa. Outro exemplo ocorre em “os brasileiros somos patriotas”, em que o falante se inclui entre os brasileiros. Segundo Martins (2008: 226), esse tipo de concordância “é bastante carregado de afetividade, visto que o falante força sua integração no sujeito gramatical”. Há, também, a silepse de gênero, que é a concordância de masculino com feminino ou vice-versa, que se observa no trecho a seguir, de Mário de Andrade: – Está vendo! Faz necessidade é prata só! Ajuntando a gente fica riquíssimo! Barato pra você! (Macunaíma. In Obras completas de Mario de Andrade III. São Paulo: Livraria Martins, 1955. Destaque nosso.) 17 Note que um adjetivo masculino (riquíssimo) está referindo-se a um substantivo feminino (gente). Esse fato, comum na linguagem coloquial, revela que a expressão nominal “a gente”, em posição de sujeito, já não é sentida como tal, ou seja, como nome feminino; mas, sim, como um pronome pessoal (sinônimo de “nós”). Como os pronomes pessoais não se flexionam em gênero (exceto os de terceira pessoa: ele / ela), “a gente” passa a receber esse mesmo tratamento. Isso se comprova no trecho a seguir, também de Mário de Andrade, em que, para retomar “a gente”, o autor utiliza o pronome “nos” (e não “lhe”, que seria a concordância gramatical): Por isso que existe a expressão “Tá solto!” indicando que a gente não faz mesmo o que nos pedem. (Idem) A concordância na primeira pessoa do plural pode, também, expressar uma exortação. Pensemos na seguinte fala, dirigida a uma criança pela mãe: Está com fome, meu filho? Vamos comer tudo? Ao empregar o plural (“vamos” por “vai”), a intenção do falante é incentivar seu interlocutor a aceitar o que lhe foi proposto. Por vezes, os escritores transgridem as regras de concordância para refletir, na fala de uma personagem ou do narrador-personagem, sua condição socioeconômica e grau de escolaridade. Com esse objetivo, Guimarães Rosa optou pela forma “viemos”, 1ª ps. do plural, em vez de “veio”, 3ª os do singular, no trecho que segue: A gente viemos do inferno – nós todos – compadre meu Quelemém instrui. (ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 19 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. Destaques nossos.) A esse tipo de concordância chama-se silepse de número. Ela é mais comum em frases nas quais o verbo aparece afastado do sujeito. Observe: Toda a gente se sarapantou com o sucedido e desconfiaram do herói. (Macunaíma. In Obras completas de Mario de Andrade III. São Paulo: Livraria Martins, 1955. Destaque nosso.) Nesse caso, perde-se a noção do grupo, entendido como um todo (a gente), e adota-se a noção de plural (as pessoas), que determina a flexão do verbo. Vejamos outro exemplo, colhido da obra de Machado de Assis: Foi a princípio um casal de borboletas que brincavam no ar. (Os melhores contos de Machado de Assis. São Paulo: Global, 1986. Destaques nossos.) 18 Unidade: Estilística Sintática Aqui, a presença de um termo periférico (de borboletas) sobrepõe-se ao termo nuclear (casal), motivando a forma plural do verbo. Para finalizar estas palavras, vamos retomar um exemplo muito interessante de concordância estilística, que utilizamos como um dos nossos primeiros exemplos de desvio estilístico 4: Nós, o pistoleiro, não devemos ter piedade Nós somos um terrível pistoleiro. Estamos num bar de uma pequena cidade do Texas. O ano é 1880. (SCLIAR, Moacyr. Folha de São Paulo, 1 jul. 1973.) Nesse trecho (e ao longo do conto), o autor utiliza o plural “nós” em referência a uma personagem “o pistoleiro”, de modo a incluir o leitor como participante dos fatos narrados, compartilhando as emoções dessa personagem. Caro(a) aluno(a), nessa unidade,tratamos da Estilística Sintática, mostrando como a expressividade e a linguagem afetiva dependem da forma como utilizamos as estruturas da língua, a sua sintaxe. Não deixe de consultar o Material Complementar. 4 Veja o texto completo na unidade 1. 19 Glossário • adjetivo: palavra que se liga a um substantivo para expressar uma característica: “dia quente”. • objeto direto: termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto, ligando-se diretamente a ele. • objeto indireto: termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, ligando- se a ele por meio de preposição. • preposição: palavra invariável que liga termos da mesma oração. • pronome: palavra que representa um nome. • pronome oblíquo: pronome que exerce função de objeto direto ou objeto indireto. Os pronomes oblíquos átonos são me, te, lhe, se, nos, vos, lhes; os tônicos são mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, eles, elas; formas contratas comigo, contigo, consigo, conosco, conosco. • pronome pessoal: pronome que substituem as pessoas do discurso: a pessoa que fala (eu, nós), a pessoa com quem se fala (tu, vós), a pessoa de quem se fala (ele, ela, eles, elas). • substantivo: palavra que nomeia seres, ações, características, sentimentos etc. • sujeito: termo que se encontra em relação de concordância com o verbo, como “as férias” em “começaram as férias”. • verbo: palavra variável em tempo, modo, número e pessoa. Semanticamente, expressa um fato (ação, estado). • verbo transitivo direto: verbo que necessita de um complemento que se liga diretamente a ele (objeto direto) para formar uma frase com sentido completo. • voz ativa: voz do verbo em que o sujeito pratica a ação • voz passiva: voz do verbo na qual o sujeito é paciente da oração. • voz reflexiva: voz do verbo em que o sujeito é agente e paciente da ação.



