
Revista científica dos profissionais de fisioterapia
Ano 11 - Nº 4 - out / nov / dez - 2016
Fundamentação teórica para
®
criolipólise polar ys convencional,
reper fusão e contraste
Influência do Método Pilates nas
alterações pulmonar, postural e
psicossocial obser vadas na asma
As consequências da mastectomia:
enfoque físico e psicológico
Distância percor rida no teste de
caminhada de seis minutos como
preditora de óbito em cardiopatas:
um estudo retrospectivo
Fisioterapia oculomotora no tratamento
da presbiopia
Modificações de função pulmonar
mediante treinamento físico
Percepções pessoais da protetização e
o impacto na qualidade de vida e na
independência funcional de pacientes
com amputação transfemural unilateral

181
Fisioterapia Ser • vol. 11 - nº 4 • 2016
SUMÁRIO
181
Fisioterapia Ser • vol. 11 - nº 4 • 2016
ARTIGOS ORIGINAIS
Influência do Método Pilates nas alterações pulmonar, postural e psicossocial observadas na asma ............................... 183
Keila Soares da Silva, Anna Victória Ribeiro Porras, Charles da Cunha Costa, Rondinele de Jesus Barros, Alba Barros Souza Fernandes
As consequências da mastectomia: enfoque físico e psicológico ..................................................................................... 188
Marcela Rufino Araujo, Clícia Guilherme de Oliveira Paiva Araújo, Ana Vanessa Araujo Pedrosa, David Jonathan Nogueira Martins,
Thiago Brasileiro de Vasconcelos, Vasco Pinheiro Diógenes Bastos
Distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos como preditora de óbito em cardiopatas:
um estudo retrospectivo .................................................................................................................................................. 195
Joédson da Silva, Vanessa do Carmo Correia, Júlio Marins de Castro, Patrícia dos S.V. de Abreu, Marco Orsini, Tiago Batista da Costa Xavier,
Mauricio de Sant Anna Jr, Dominique Babini Lapa de Albuquerque, Nathielly Carolina Silva Gonçalves, Paulo Henrique de Melo
Fisioterapia oculomotora no tratamento da presbiopia ................................................................................................... 199
Dominique Babini Lapa de Albuquerque, Nathielly Carolina Silva Gonçalves, Paulo Henrique de Melo
Modificações de função pulmonar mediante treinamento físico ...................................................................................... 203
M. S. Pinto, K. Marques, Araújo L.D., P. M. Sá
Percepções pessoais da protetização e o impacto na qualidade de vida e na independência funcional de
pacientes com amputação transfemural unilateral ........................................................................................................... 206
Angelina Maria dos Santos Oeby, Rebeca Andrade de Freitas, Monique Opuszcka Campos, Leandro Dias de Araujo
REVISÕES
Características anatomofisiológicas da articulação temporomandibular .......................................................................... 213
Aureliano da Silva Guedes, Antônio José da Silva Nogueira, Aureliano da Silva Guedes II
O uso da corrente russa na flacidez abdominal em mulheres no puerpério ..................................................................... 218
Izabel Cristina Melo de Oliveira, Maria dos Prazeres Carneiro Cardoso, Maykon Felipe Pereira da Silva, Francisca Maria Aleudinelia Monte Cunha
Prevenção de lesões em atletas no uso de protocolos: uma revisão integrativa ............................................................... 221
Maykon Felipe Pereira da Silva, Francisca Maria Aleudinelia Monte Cunha
Fundamentação teórica para criolipólise polarys® convencional, reperfusão e contraste .................................................. 224
Estela Sant’Ana
RESUMOS .................................................................................................................................................................... 232
AGENDA ...................................................................................................................................................................... 239
NORMAS ..................................................................................................................................................................... 240
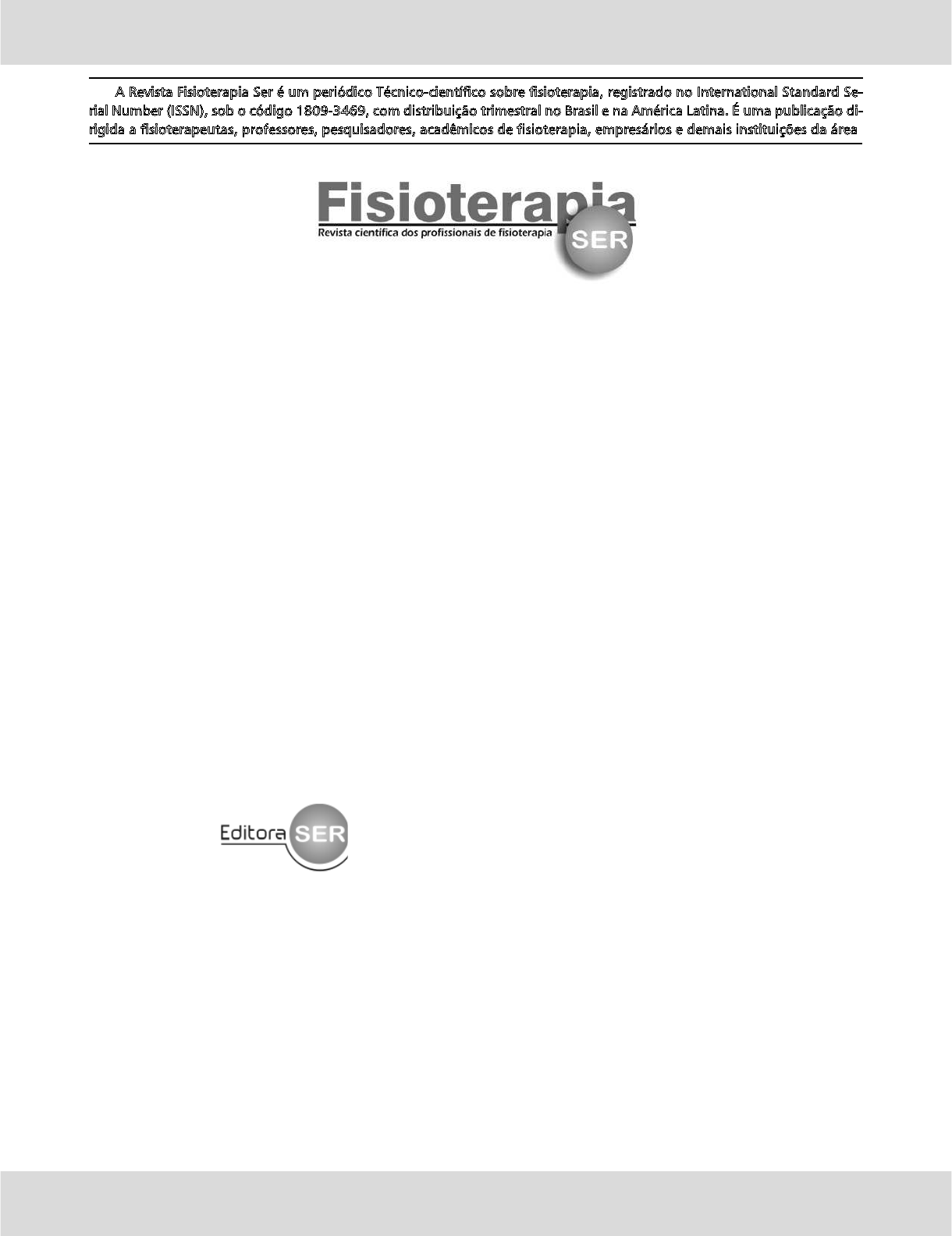
Fisioterapia Ser • vol. 11 - nº 4 • 2016
182
A Revista Fisioterapia Ser é um periódico Técnico-científico sobre fisioterapia, registrado no International Standard Se-
rial Number (ISSN), sob o código 1809-3469, com distribuição trimestral no Brasil e na América Latina. É uma publicação di-
rigida a fisioterapeutas, professores, pesquisadores, acadêmicos de fisioterapia, empresários e demais instituições da área.
Stevenson Edições e Recursos - Editora Ser - É proibida a reprodução total ou parcial dos artigos publicados, sejam
quais forem os meios empregados (mimiografia, fotocópia, datilografia, gravação, reprodução em discos ou fitas), sem
permissão por escrito da Editora Ser. Aos infratores aplicam-se as sanções previstas nos artigos 122 e 130 da lei 5.988 de
14/12/83. Os conteúdos dos anúncios veiculados são de total responsabilidade dos anunciantes. As opiniões em artigos
assinados não são necessariamente compartilhadas pelos editores.
Conselho Científico
Alessandro dos Santos Pin (UFAM - Coari/AM)
Anke Bergmann (UNISUAM - Rio de Janeiro/RJ)
Aureliano da Silva Guedes (UFPA - Belém/PA)
Beatriz Helena de S. Brandão (HSE - Rio de Janeiro/RJ)
Elhane Glass Morari-Cassol (UFSM - Santa Maria/RS)
Fábio Oliveira Maciel (UFAM - Coari/AM)
Fernanda Luisi (UFCSPA - RS)
Geraldo Magella Teixeira (UNCISAL - Maceió/AL)
Jones Eduardo Agne (UFSM - RS)
Júlio Guilherme Silva (UNISUAM - Rio de Janeiro/RJ)
Maria Goretti Fernandes (UFS - SE)
Mário Bernardo Filho (UERJ - Rio de Janeiro/RJ)
Marta Lúcia Guimarães Resende Adorno (CEULP - Palmas/TO)
Mauricio de Sant´Anna Junior (IFRJ - Rio de Janeiro/RJ)
Nadja de Souza Ferreira (FRASCE - Rio de Janeiro/RJ)
Sérgio Nogueira Nemer (HCN - Niterói/RJ)
Silmar Silva Teixeira (UFPI - Parnaíba/PI)
Vasco Pinheiro Diógenes Bastos (CUEC/FIC - Fortaleza/CE)
Victor Hugo do Vale Bastos (UFPI - Parnaíba/PI)
Wilma Costa Souza (UCB - Rio de Janeiro/RJ)
Assessores
Alessandro Júlio de Jesus Viterbo de Oliveira (Avante - RS)
Alexandre Gomes Sancho (UNIGRANRIO - RJ)
Alexsander Evangelista Roberto (Rio de Janeiro/RJ)
Blair José Rosa Filho (UNIVERSO - Niterói/RJ)
Camila Costa de Araújo (UENP - PR)
Danúbia da Cunha de Sá Caputo (Rio de Janeiro/RJ)
Fábio dos Santos Borges (UNESA - Rio de Janeiro/RJ)
Fábio Marcelo Teixeira de Souza (Rio de Janeiro/RJ)
Hélia Pinheiro Rodrigues Corrêa (IFRJ - Rio de Janeiro/RJ)
Hélio Santos Pio (Rio de Janeiro/RJ)
Henrique Baumgarth (ABCROCH - Rio de Janeiro/RJ)
Jefferson Braga Caldeira (UNIGRANRIO - Rio de Janeiro/RJ)
José da Rocha Cunha (UNESA - Rio de Janeiro/RJ)
José Tadeu Madeira de Oliveira (IBC - Rio de Janeiro/RJ)
Kátia Maria Marques de Oliveira (UCB - Rio de Janeiro/RJ)
Leandro Azeredo (IACES - Rio de Janeiro/RJ)
Leandro Gomes Barbieri (INTA - Sobral/CE)
Ludmila Bonelli Cruz (UNIVERSO - MG)
Márcia Maria Peixoto Leite (UFBA - Salvador/BA)
Nílton Petrone Vilardi Jr. (Rio de Janeiro/RJ)
Palmiro Torrieri (Rio de Janeiro/RJ)
Odir de Souza Carmo (Rio de Janeiro/RJ)
Wagner Teixeira dos Santos (UCB - Rio de Janeiro/RJ)
Wellington Pinheiro de Oliveira (CESUPA - PA)
Esta revista é indexada pela CAPES com média QUALIS
B4 em Engenharia III, Interdisciplinar, Medicina II, Edu-
cação e Saúde Coletiva.
Assinaturas:
Anual – 4 números – R$ 168,00
Bianual – 8 números – R$ 252,00
Endereço:
Rua Adriano, 300 - Bl.: 19 / 204
Méier - Cep 20735-060 – Rio de Janeiro – RJ
Tel./Fax.: (21) 98661-2711 e 98014-2927
www.editoraser.com.br
Stevenson Gusmão
Diretor / Editor Executivo
Aline Figueiredo
Projeto Gráfico / Dir. Arte
Luana Menezes
Colaboradora de redação

183
Fisioterapia Ser • vol. 11 - nº 4 • 2016
Artigo Original
Influência do Método Pilates
nas alterações pulmonar, postural e psicossocial
observadas na asma
Influence of pilates method in pulmonary,
postural and psychosocial changes observed in asthma
Keila Soares da Silva1, Anna Victória Ribeiro Porras2, Charles da Cunha Costa3,
Rondinele de Jesus Barros4, Alba Barros Souza Fernandes5
Resumo
Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica, associada à hiperres-
ponsividade das vias aéreas e episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão
torácica e tosse. Em função do recrutamento excessivo da musculatura acessória
da respiração, indivíduos asmáticos podem apresentar alterações posturais, além
do comprometimento pulmonar. Portanto, o objetivo desse estudo foi analisar os
efeitos de exercícios do Método Pilates na função pulmonar e nas alterações postu-
rais e psicossociais na asma. Metodologia: Voluntários com asma foram avaliados
com relação à força muscular respiratória, pico de fluxo expiratório, mobilidade
torácica, tolerância ao exercício, alterações posturais e qualidade de vida antes
e após serem submetidos a um protocolo de tratamento com o Método Pilates.
Resultados: O Método Pilates foi eficaz em aumentar a pressão expiratória máxi-
ma em 23,38% (p = 0,02) e a distância percorrida em seis minutos em 13,20% (p
= 0,00), além de influenciar a qualidade de vida nos domínios global (p = 0,02),
sintomas (p = 0,01) e limitação de atividade (p < 0,00). Conclusões: O Método
Pilates aumentou a força dos músculos expiratórios e a tolerância ao exercício em
asmáticos, além de melhorar a qualidade de vida.
Palavras-chave: asma, pilates, fisioterapia.
Abstract
Introduction: Asthma is a chronic inflammatory disease associated with ai-
rway hyperresponsiveness and recurrent episodes of wheezing, breathlessness,
chest tightness and coughing. The excessive accessory muscles of respiration
recruitment leads to postural changes, in addition to lung function impairment.
Therefore, the aim of this study was to analyze the effects of Pilates exercises on
lung function and the postural and psychosocial changes in asthma. Methodology:
Volunteers with asthma were evaluated for respiratory muscle strength, peak expi-
ratory flow, thoracic mobility, exercise tolerance, postural changes and quality of
life before and after undergoing a treatment protocol with the Pilates Method. Re-
sults: The Pilates Method was effective in increasing maximal expiratory pressure
in 23.88% (p = 0.02) and the six minutes distance walked in 13.26% (p = 0.00),
besides influencing in domains global (p = 0.02), symptoms (p = 0.01) and limita-
tion of activity (p < 0.00). Conclusions: The Pilates Method increased the strength
of the expiratory muscles and exercise tolerance in asthmatic, besides favoring the
improvement in quality of life.
Keywords: asthma, pilates, physiotherapy.
1. Fisioterapeuta, Graduada pelo Centro Univer-
sitário Serra dos Órgãos - UNIFESO, Teresó-
polis, RJ, Brasil.
2. Discente do Curso de Graduação em Fisiote-
rapia do UNIFESO.
3. Fisioterapeuta, Graduado pelo UNIFESO.
4. Fisioterapeuta, Especialista em Fisiologia do
Exercício, Docente do Curso de Graduação
em Fisioterapia do UNIFESO.
5. Fisioterapeuta, Doutora em Ciências, Docen-
te do Curso de Graduação em Fisioterapia do
UNIFESO.
Endereço para correspondência: Alba Barros
Souza Fernandes – Clínica-Escola de Fisiote-
rapia – Centro de Ciências da Saúde – Cen-
tro Universitário Serra dos Órgãos – Estrada
Wenceslau José de Medeiros, 1045, Prata –
CEP 25976-345 – Teresópolis, RJ – Brasil –
Telefone: (21) 2743-5311
E-mail: alba.fernandes@gmail.com
Recebido para publicação em 26/08/2016 e acei-
to em 30/09/2016, após revisão.

Fisioterapia Ser • vol. 11 - nº 4 • 2016
184
Introdução
A asma é uma doença inflamatória crônica, que está
associada à hiperresponsividade das vias aéreas, levando a
episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão torácica
e tosse, principalmente à noite ou pela manhã ao despertar.
Esses episódios são uma consequência da obstrução variá-
vel ao fluxo aéreo, que pode ser reversível espontaneamen-
te ou com tratamento. As exacerbações são decorrentes da
interação entre genética, exposição ambiental a alérgenos e
irritantes, além de outros fatores que contribuem para o de-
senvolvimento e manutenção dos sintomas1.
Indivíduos asmáticos apresentam consideráveis res-
trições físicas, que quando não controladas devidamente,
geram limitações nas atividades de vida diária e atividades
de lazer, além de também apresentarem alterações sociais e
emocionais2,3. Segundo Marcelino4, a hiperinsuflação oca-
sionada pelo aumento da resistência das vias aéreas altera a
posição dos músculos respiratórios, incluindo o diafragma,
diminuindo a sua eficiência mecânica.
Além disso, é comum pacientes com asma desenvolve-
rem alguns tipos de alterações posturais, devido ao compro-
metimento da mecânica respiratória. Os episódios de crises,
o aumento do volume residual e o uso excessivo da muscu-
latura acessória da respiração contribuem para uma restrição
na mobilidade do tórax e podem causar assimetrias, proble-
mas musculoesqueléticos e movimentos compensatórios5,6,3.
Além das alterações posturais, pacientes com doença
respiratória crônica tendem a apresentar menor tolerância ao
exercício físico em função de diversos fatores, incluindo difi-
culdade respiratória, restrição a atividades ou mesmo falta de
atividades fisicomotoras
7. Essas limitações levam ao descon-
dicionamento do sistema cardiorrespiratório, gerando dimi-
nuição da força muscular de membros superiores e inferiores2.
O Método Pilates vem se destacando como importante
ferramenta, principalmente nas correções de alterações pos-
turais, pois tem a função de fortalecer, alongar e melhorar a
postura. Os diferentes tipos de exercícios realizados no Pila-
tes possibilitam a melhora do condicionamento cardiorrespi-
ratório e muscular. Além disso, a prática do Pilates apresenta
um diferencial em relação às outras atividades físicas, pois
uma de suas importantes características é o controle da res-
piração, que enfatiza a importância de manter os níveis de
oxigenação da circulação sanguínea8.
Nesse contexto, o Pilates, em virtude do fortalecimento
do centro corporal e pelo alongamento da musculatura da re-
gião torácica e da musculatura acessória da respiração9, pode
ser eficaz na asma, visando à correção das alterações pos-
turais e, consequentemente, a melhora da função pulmonar.
Metodologia
O presente estudo foi realizado no setor de Pilates da
Clínica-Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Ser-
ra dos Órgãos (UNIFESO). Foram incluídos indivíduos com
diagnóstico clínico de asma, de ambos os sexos, independen-
temente do estágio da doença, clinicamente estáveis. Foram
excluídos indivíduos com incapacidade cognitiva, que impos-
sibilitasse a compreensão/realização das avaliações, com limi-
tação da amplitude de movimento da articulação de ombro e
de joelhos; voluntários obesos; com história de infecções res-
piratórias em um período inferior a 30 dias, cirurgias recentes
e indivíduos acima de 60 anos. O protocolo de pesquisa estava
em consonância com a Resolução 466/12 e foi encaminhado
ao Comitê de Ética e Pesquisa do UNIFESO – CEPq, via Pla-
taforma Brasil, e aprovado em 03/07/2014 sob o parecer de
número 712.954. Todos os integrantes da pesquisa assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Os sinais vitais, incluindo ausculta pulmonar (AP), pres-
são arterial (PA), frequência cardíaca (FC), frequência respi-
ratória (FR) e saturação periférica de oxigênio (SpO2) foram
verificados anteriormente e posteriormente à intervenção,
com os participantes respirando em ar ambiente e em repou-
so. Também foram observados os níveis de fadiga e dispneia,
através da Escala Subjetiva de Borg.
A avaliação da força da musculatura respiratória foi
obtida por meio das medidas de pressão inspiratória máxi-
ma (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx)10. Três
medidas de cada uma das pressões foram executadas com
um manovacuômetro, sendo considerado para o estudo a de
maior valor11. O Pico de Fluxo Expiratório (PFE) foi ana-
lisado a partir da Capacidade Pulmonar Total, através de
três medidas em um medidor de pico de fluxo expiratório.
O maior valor obtido foi usado para quantificar o grau de
obstrução das vias aéreas.
A mobilidade torácica foi verificada através da cirtome-
tria torácica, utilizando-se uma fita métrica escalonada em
centímetros (cm) e posicionada horizontalmente em quatro
níveis: axilar, xifoidiano, últimas costelas e linha umbilical.
Entretanto, para análise dos dados, foi considerado o maior
valor obtido das três medidas realizadas e calculado o Índice
de Amplitude (IA), com a finalidade de atenuar as diferentes
dimensões de tórax e abdômen12.
A análise postural foi realizada através da fotogrametria
computadorizada (biofotogrametria). O procedimento para ob-
tenção das imagens foi padronizado com a determinação de dis-
tâncias fixas entre a câmera fotográfica e o solo e entre a câmera
e o voluntário, posicionando a câmera sobre um tripé nivelado
e colocado paralelamente ao solo, com uma distância de 3,0 m
do indivíduo avaliado. Os indivíduos se posicionaram com os
pés descalços a uma distância de 15,0 cm de um pé ao outro e a
30,0 cm do calcanhar à parede para um melhor equilíbrio corpo-
ral. Os membros superiores permaneceram na posição neutra.
Foram retiradas três imagens de cada participante em cada uma
das quatro posições em ortostatismo: vista anterior, posterior,
lateral direita e lateral esquerda. Não foi utilizado zoom para
evitar distorções. Todas as fotografias foram realizadas pelo
mesmo examinador. Os pontos anatômicos utilizados para aná-
lise das imagens foram previamente marcados nos voluntários
por marcadores de isopor brancos. A todos os voluntários foi
solicitado o uso de um short ou calça de lycra e de um top, para
que os pontos anatômicos ficassem expostos. Na vista anterior,
foram marcadas as articulações acrômio-claviculares, apêndi-
ce xifoide e incisura jugular. Na vista posterior, os processos
espinhosos da sétima vértebra cervical (C7), décima segunda
vértebra torácica (T12) e quinta vértebra lombar (L5), ângulos
inferiores e superiores das escápulas e espinhas ilíacas poste-
rossuperiores (EIPS). As imagens capturadas foram analisadas
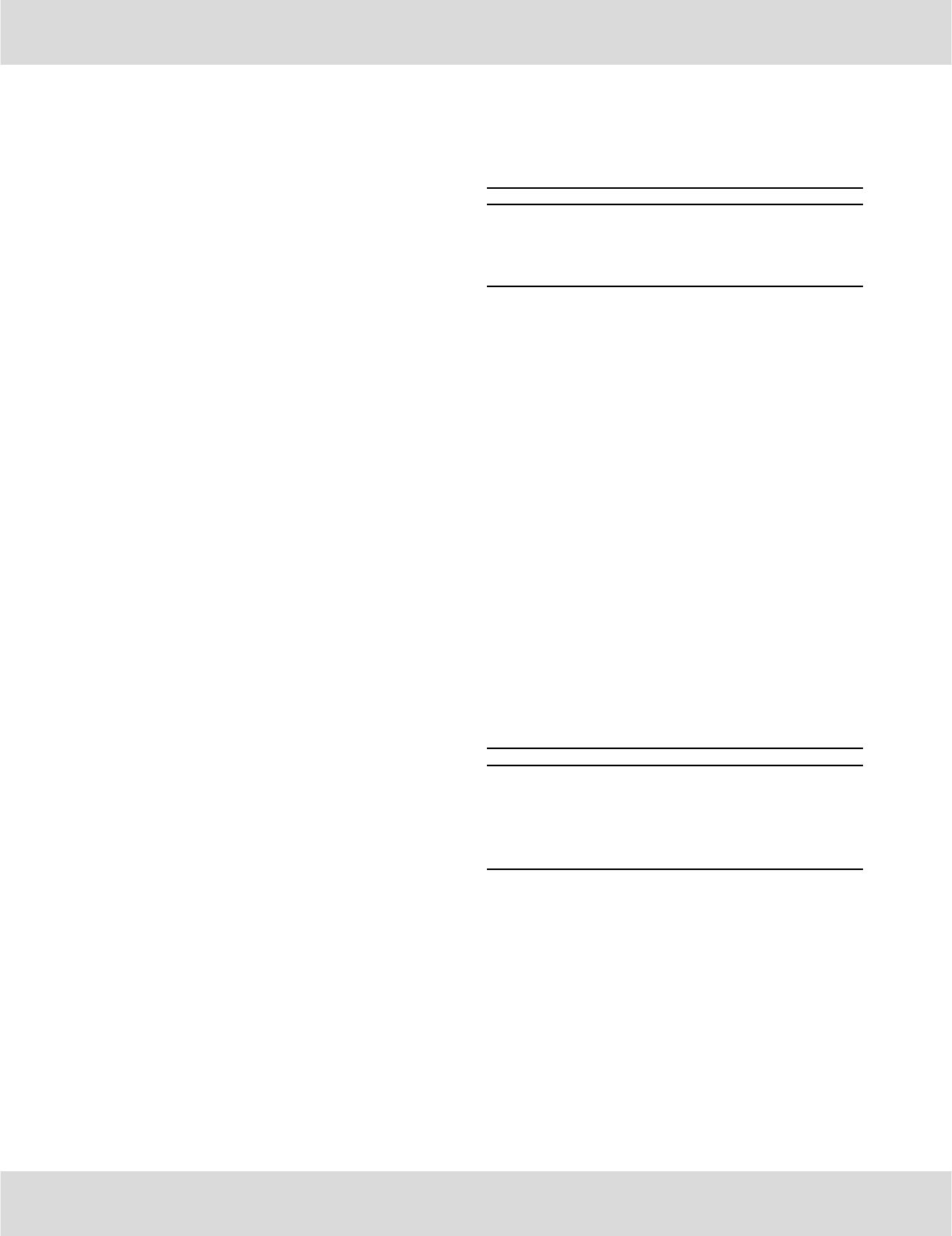
185
Fisioterapia Ser • vol. 11 - nº 4 • 2016
pelo software ALCimagem
®
, que mede os ângulos formados
pelas linhas traçadas a partir dos pontos anatômicos, a fim de
identificar e quantificar possíveis assimetrias
6,13,14,15,16.
O instrumento utilizado para avaliar a qualidade de vida
dos indivíduos asmáticos foi o Questionário sobre Qualida-
de de Vida em Asma com Atividades Padronizadas (AQLQ
(S)), que é um questionário específico de medição de quali-
dade de vida de pessoas com asma, constituído por 32 itens,
sendo doze itens relativos aos sintomas, onze relativos a li-
mitações de atividades, cinco relativos à função emocional
e quatro relativos à exposição ambiental. Foi solicitado aos
indivíduos que recordassem as experiências das duas últimas
semanas e que respondessem a cada questão em uma escala
de sete pontos (de “totalmente limitado” a “nada limitado”).
A pontuação global do AQLQ (S) foi obtida através da média
das 32 respostas, e a pontuação individual de cada domínio
também foi obtida a partir da média dos itens que constituem
cada domínio. Valores menores que quatro indicam aumen-
to da gravidade e valores maiores que quatro indicam menor
comprometimento
17,18. O questionário foi aplicado sob a for-
ma de entrevista, em um ambiente silencioso e isolado, e os
participantes responderam às questões sem interferência. Para
interrogar os participantes, o entrevistador leu as questões e as
alternativas de resposta em voz alta, sem explicações
A tolerância ao exercício foi avaliada através do Teste de
Caminhada de Seis Minutos (TC6M), que é um teste de esforço
submáximo que engloba e integra diversos sistemas envolvidos
durante a atividade física, sendo indicado principalmente para
avaliar a capacidade funcional
19
. É um método simples para se
observar a melhora do desempenho nas provas de tolerância ao
exercício, de fácil aplicabilidade, bem tolerado pelos pacientes
e o que melhor reproduz as atividades de vida diária
20
. Na re-
alização do teste, os participantes caminharam em um terreno
plano, nivelado, sem obstáculos e sem trânsito de pessoas, per-
fazendo a distância entre dois cones separados por 30 metros, a
uma velocidade auto imposta pelo próprio voluntário.
Os dados obtidos foram comparados estatisticamente ao
nível de 5% de probabilidade, através do software SigmaStat
3.5 (Systat Software, Inc., 2006). Para a aplicabilidade da cor-
relação linear simples e comparação entre os grupos, foi testada
a normalidade dos dados pelo Teste de Normalidade Kolmo-
gorov-Smirnov. Em seguida, foi aplicado o teste da mediana
de Levene para verificar a homogeneidade das variâncias. Os
dados paramétricos foram comparados pelo Paired t-test e os
dados não paramétricos pelo Wilcoxon Signed Rank Test.
Resultados
No presente estudo, foram avaliados oito indivíduos
asmáticos clinicamente estáveis, com idade mediana de 56
anos (21,50-57,50). Todos os participantes completaram o
tratamento e, quando houve falta, a sessão de tratamento foi
reposta na mesma semana.
Os resultados deste estudo estão apresentados em tabe-
las, com formatação padronizada no intuito de facilitar a in-
terpretação dos dados. A segui r, e st ão d esc rit as, na t ab ela 1,
as cara cte rís tic as dos indi víd uos as mát ic os anali sad os an tes
e apó s ter em sido subm eti do s ao tr ata men to pelo Méto do
Pil ate s. Ne nhu m dos parâm et ros aval iad os apr es ent ou dif e-
ren ça est at íst ica ap ós o tra tam ent o.
Tabela 1: Características da amostra. Valores expressos como
mediana (1º e 3º quartis) de oito indivíduos com asma, que
foram submetidos ao tratamento com o Método Pilates. IMC:
índice de massa corpórea; PAS: pressão arterial sistólica; PAD:
pressão arterial diastólica; FC: frequência cardíaca; FR: frequ-
ência respiratória; SpO
2: saturação periférica de oxigênio.
Antes Após P
IMC (kg/m2) 28,90 (25,68-33,75) 28,90 (25,68-33,75) 1,00
PAS (mmHg) 121,00 (118,00-139,00) 121,00 (120,00-132,00) 1,00
PAD (mmHg) 81,00 (77,00-88,00) 80,00 (80,00-84,00) 1,00
FC (bpm) 77,00 (63,50-91,50) 81,50 (66,50-82,50) 1,00
FR (irpm) 17,50 (16,50-19,00) 17,00 (13,50-18,50) 0,62
SpO2 (%) 95,00 (94,00-96,00) 95,00 (94,00-97,00) 0,50
Na análise da função pulmonar, foram avaliados os pa-
râmetros de força dos músculos respiratórios e pico de fluxo
expiratório antes e após o tratamento. Observou-se que ape-
nas a pressão expiratória máxima foi influenciada pelo Mé-
todo Pilates, aumentando em 23,88% (p = 0,02). A mobili-
dade do tórax foi avaliada através da cirtometria torácica em
quatro níveis: linha axilar, apêndice xifoide, últimas costelas
e linha umbilical, obtendo-se o índice de amplitude (IA) em
cada um desses níveis. Após o tratamento, não foi observa-
da diferença estatística em nenhum dos níveis avaliados. A
tolerância ao exercício foi analisada através da distância per-
corrida no teste de caminhada de seis minutos (DP6M). Ao
comparar esses valores antes e após a aplicação do protocolo
de tratamento, foi possível observar um aumento de 13,20%
nesse último parâmetro (p = 0,00) (tabela 2).
Tabela 2: Análise da função pulmonar, cirtometria torácica
e teste de caminhada de seis minutos. Dados expressos em
média ± desvio padrão de oito indivíduos com asma, que
foram submetidos ao tratamento com o Método Pilates. PI-
máx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expira-
tória máxima; PFE: pico de fluxo expiratório; IA: índice de
amplitude, DP6M: distância percorrida em seis minutos.
*Estatisticamente diferente dos parâmetros observados antes do
protocolo de tratamento.
Antes Após P
PImáx (cmH2O) -94,00 ± 31,78 -106,50 ± 26,78 0,13
PEmáx (cmH2O) 90,00 ± 22,82 111,50 ± 10,78 0,02*
PFE (L/min) 307,50 ± 123,60 335,00 ± 81,59 0,33
IA axilar 2,47 ± 2,52 1,96 ± 3,08 0,47
IA apêndice xifoide 2,63 ± 1,85 2,85 ± 2,06 0,51
IA últimas costelas 2,44 ± 3,74 2,63 ± 2,54 0,76
IA linha umbilical -1,55 ± 2,81 1,00 ± 1,77 0,07
DP6M 490,25 ± 85,31 555,00 ± 89,61 0,00*
A análise postural dos indivíduos envolvidos no estu-
do foi realizada no programa ALCimagem. Foram coletadas
três imagens de cada indivíduo nas posições anterior, pos-
terior e perfil direito. Cada um dos ângulos foi medido três
vezes e foi calculada uma média, a fim de minimizar os erros
de análise e medição.
Na posição anterior, foram calculados quatro ângulos:
A1 - ombro esquerdo; A2 - ombro direito, A3 - pelve esquer-
da; A4 - pelve direita. Os ângulos A1 e A2 foram obtidos
através das marcações: incisura jugular; articulação acrô-
mio-clavicular e processo xifoide. Os ângulos A3 e A4 foram
obtidos através das marcações: cicatriz onfálica e espinhas
ilíacas anterossuperiores. Ao comparar os ângulos A1 e A2,
verificou-se que o ombro mais elevado foi o que apresentou
menor valor. Ao comparar os ângulos A3 e A4, verificou-se
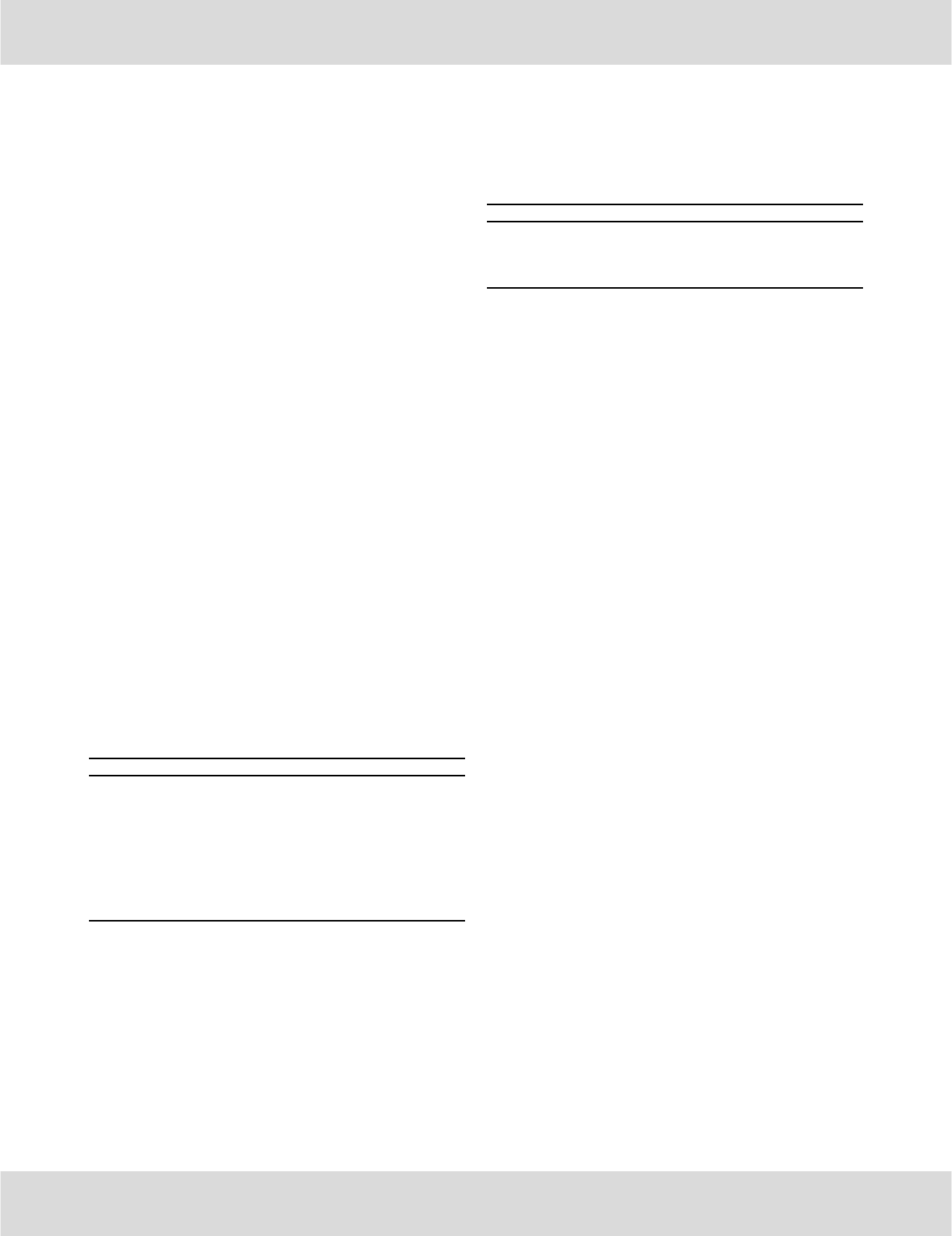
Fisioterapia Ser • vol. 11 - nº 4 • 2016
186
que a pelve mais elevada foi a que apresentou maior valor.
Após a intervenção, não houve diferença estatisticamente
significativa na angulação dos ombros e das pelves.
Na posição posterior, foram calculados quatro ângulos:
A1 - ombro direito; A2 - ombro esquerdo, A3 - pelve es-
querda; A4 - pelve direita. Os ângulos A1 e A2 foram ob-
tidos através das marcações: processo espinhoso da sétima
vértebra cervical (C7) e ângulos superiores das escápulas.
Os ângulos A3 e A4 foram obtidos através das marcações:
espinhas ilíacas posterossuperiores e quinta vértebra lom-
bar (L5). Ao comparar os ângulos A1 e A2, verificou-se que
o ombro e/ou escápula mais elevado foi o que apresentou
maior valor. Após a interversão, não houve diferença signifi-
cativa na angulação dos ombros e/ou escápulas.
Na posição perfil direito, foram calculados dois ângulos:
A1 - posição de cabeça; A2 - curvatura torácica. O ângulo A1
foi obtido através das marcações: processo espinhoso de C7;
incisura jugular e mento. O ângulo A2 foi obtido através das
marcações: processo espinhoso de C7; processo espinhoso
da quarta vértebra torácica (T4) ou ponto mais proeminente
da cifose e processo espinhoso da décima segunda vértebra
torácica (T12). Verificou-se que quanto maior o ângulo A1,
maior a anteriorização da cabeça; e quanto menor o ângulo
A2, maior a cifose torácica. Após a intervenção, não houve
diferença significativa tanto na posição da cabeça quanto na
curvatura torácica. Os valores das medianas das angulações
obtidas na análise postural estão citados na tabela 3.
Tabela 3: Análise postural. Valores expressos como mediana
(1º e 3º quartis) de oito indivíduos com asma, que foram sub-
metidos ao tratamento com o Método Pilates. AP.A1: angula-
ção do ombro direito; AP.A2: angulação do ombro esquerdo;
AP.A3: angulação da pelve direita; AP.A4: angulação da pelve
esquerda; PA.A1: angulação do ombro direito; PA.A2: angula-
ção do ombro esquerdo; PA.A3: angulação do ombro direito;
PA.A4: angulação do ombro esquerdo; PERFIL A1: ângulo da
posição da cabeça; PERFIL A2: angulação do tórax.
Antes Após P
AP.A1 45,24 (40,41-49,17) 46,22 (40,87-54,10) 0,07
AP.A2 46,00 (42,23-51,82) 47,33 (44,06-54,00) 0,64
AP.A3 14,48 (9,97-21,08) 16,09 (12,54-22,27) 0,38
AP.A4 14,17 (10,26-24,46) 14,72 (13,71-25,46) 0,31
PA.A1 66,76 (64,46-70,29) 66,69 (63,44-68,71) 0,46
PA.A2 64,84 (59,90-68,54) 65,60 (60,42-69,87) 0.31
PA.A3 14,76 (11,61-16,27) 14,57 (12,58-18,50) 0,29
PA.A4 13,59 (12,17-17,00) 14,62 (13,49-19,14) 0,84
Per! l.A1 102,34 (98,21-105,33) 103,26 (96,09-106,37) 1,00
Per! l.A2 199,61 (197,04-205,24) 200,53 (195,84-202,90) 0,25
A qualidade de vida foi avaliada através do Questionário
sobre Qualidade de Vida em Asma com Atividades Padroni-
zadas (AQLQ (S)). Os valores das medianas do AQLQ (S)
nos domínios “global”, “sintomas”, “limitação de atividade”,
“função emocional” e “estímulo ambiental” estão dispostos na
tabela 4. A pontuação quatro indica grau de comprometimento
moderado; valores acima de quatro indicam menor compro-
metimento; e valores abaixo de quatro indicam um aumento
da gravidade. Ao comparar esses valores antes e após a aplica-
ção do protocolo de tratamento, foi possível observar uma me-
lhora estatisticamente significativa nos domínios global (p =
0,02), sintomas (p = 0,01) e limitação de atividade (p < 0,00).
Tabela 4: Questionário sobre Qualidade de Vida em Asma
com Atividades Padronizadas. Valores expressos como me-
diana (1º e 3º quartis) de oito indivíduos com asma, que fo-
ram submetidos ao tratamento com o Método Pilates. AQLQ
(S): Questionário sobre Qualidade de Vida em Asma com
Atividades Padronizadas. *Estatisticamente diferente dos
parâmetros observados antes do protocolo de tratamento.
Domínio AQLQ (S) Antes Após P
Global 5,85 (4,75-6,45) 6,55 (6,05-6,75) 0,02*
Sintomas 5,30 (4,10-6,55) 6,50 (6,15-6,90) 0,01*
Limitação de Atividade 5,00 (4,30-5,55) 6,05 (5,75-6,70) < 0,00*
Função Emocional 6,20 (4,70-7,00) 7,00 (6,90-7,00) 0,09
Estímulo Ambiental 5,35 (3,60-6,35) 6,85 (6,10-7,00) 0,07
Discussão
O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos
do Método Pilates nas alterações pulmonares, posturais e na
qualidade de vida de indivíduos asmáticos.
O Método Pilates contribui para a melhoria na qualidade
de vida, pois, através da prática de exercícios físicos espe-
cíficos, promove bem-estar e saúde, proporcionando maior
agilidade, mobilidade e equilíbrio21. Durante a realização
dos exercícios, são ativados diversos músculos que estão en-
volvidos na respiração, principalmente os responsáveis pela
expiração, visto que os mesmos se encontram contraídos du-
rante as fases de inspiração e expiração22.
No presente estudo, foi possível observar uma melho-
ra significativa da força muscular expiratória. Essa melhora
ocorreu, possivelmente, devido ao trabalho dos músculos
respiratórios, especificamente dos músculos abdominais, e
dos exercícios de alongamento da musculatura acessória da
respiração. Esses resultados se assemelham aos achados de
Lima23 e Dourado24, que também mostraram uma melhora da
PEmax, através de exercícios que visavam ao fortalecimento
direto da musculatura abdominal. A ativação desses múscu-
los, durante a realização dos exercícios do Método Pilates,
principalmente do músculo reto abdominal, justifica o au-
mento da força muscular expiratória.
Costa et al.25 realizaram um estudo com 10 indivíduos
asmáticos, de ambos os sexos, utilizando como protocolo de
tratamento o método kinetic Control, associado ao alonga-
mento da musculatura acessória da respiração. Esses autores
observaram melhora na força dos músculos respiratórios,
tanto inspiratórios quanto expiratórios. Apesar desse estudo
utilizar um outro método de tratamento, os autores também
mostraram que a melhora da função pulmonar pode ser obti-
da pelo tratamento das alterações posturais.
De acordo com Fonseca
26
, o PFE representa o fluxo má-
ximo gerado durante uma expiração forçada, realizada com
grande intensidade e partindo de um nível elevado de insufla-
ção pulmonar, ou seja, da capacidade pulmonar total. Portanto,
esse índice é considerado um indicador indireto da obstrução
das vias aéreas, sendo influenciado pelo grau de insuflação pul-
monar, complacência torácica, musculatura abdominal e força
muscular inspiratória gerada pelo paciente. No presente estudo,
não foi observado uma modificação no PFE após o tratamento
com o Método Pilates. Esse resultado pode ter ocorrido pelo
fato de não termos observado uma alteração na PImax. De acor-
do com o estudo de Carter
27
, ao melhorar a força muscular res-
piratória (PImáx e PEmáx) é possível diminuir a resistência das

187
Fisioterapia Ser • vol. 11 - nº 4 • 2016
vias aéreas e melhorar o PFE. O presente estudo mostrou que o
protocolo de exercícios proposto influenciou apenas a PEmax.
Durante a crise de asma, ocorre estreitamento da via
aérea, levando ao aumento da resistência ao fluxo de ar, re-
sultando em uso excessivo da musculatura acessória da ins-
piração e um padrão respiratório apical. De acordo com o
a evolução da doença e com o aumento das crises, ocorre
encurtamento da musculatura acessória da respiração, levan-
do a uma alteração postural da caixa torácica. Os pacientes
passam a adotar um p adrão apical e pode ocorrer uma hipe-
rinflação, prejudicando a mecânica do músculo diafragma e
o posicionamento da coluna cervical e da cintura escapular,
com redução da mobilidade torácica28.
No presente estudo, verificou-se que a mobilidade to-
rácica não foi influenciada pelos exercícios propostos. Esse
resultado contradiz os achados observados no estudo de Kaki-
zaki29. Esses autores obtiveram melhora da mobilidade toráci-
ca após realizarem exercícios de alongamento da musculatura
acessória da respiração. Similarmente, Lozano
30, ao utilizarem
como protocolo de tratamento o alongamento da musculatura
acessória da respiração em indivíduos com Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica a partir do método de Reeducação Postural
Global (RPG), observaram melhora significativa da mobili-
dade torácica. Os resultados do presente estudo podem estar
relacionados devido ao tempo, sendo insuficiente para que
houvesse uma melhora durante o tratamento.
O encurtamento muscular observado nos pacientes as-
máticos leva à compensação das estruturas envolvidas, pro-
movendo alterações posturais e prejudicando ainda mais a
mecânica respiratória31. Quadros e Furlanetto8, em seu es-
tudo, analisaram quatro mulheres sedentárias e observaram,
após 20 sessões de Pilates, uma melhora estatisticamente
significativa na postura, o que contradiz os resultados encon-
trados no presente estudo, visto que o protocolo de tratamen-
to aqui empregado não resultou em modificação na análise
postural. Esses resultados possivelmente podem estar rela-
cionados com o número de sessões realizadas.
Devido ao nível de obstrução das vias aéreas, indivíduos
asmáticos tendem a apresentar menor tolerância ao exercício,
quando comparados com indivíduos comuns, pois apresentam
limitações durante a prática de atividade física. O exercício in-
duz a ocorrência de broncoespasmos, gerando diminuição da ca-
pacidade ventilatória e aumento da dispneia, o que contribui para
que o indivíduo reduza a prática de atividades físicas e adote,
consequentemente, um estilo de vida sedentário
32
.
Fonseca33 realizou um estudo com seis pacientes asmáti-
cos adultos, que foram submetidos a 12 semanas de tratamen-
to através de um programa de exercícios físicos domiciliares.
Esses indivíduos realizaram a espirometria e o TC6M antes e
após o início do programa. Pode-se observar, através da espi-
rometria, a melhora da Capacidade Vital Forçada (CVF) e do
Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1).
Os autores também mostraram, através do TC6M, que cinco
dos seis pacientes aumentaram a distância percorrida após
12 semanas de tratamento. Tais p acientes relataram melhora
da sensação de dispneia e da fadiga durante a atividade de
vida diária. Ao comparar com o presente estudo, também ob-
servamos um aumento significativo da distância percorrida
após a aplicação do protocolo de tratamento com o Método
Pilates, evidenciando que a prática de um programa de exer-
cícios beneficia uma melhor tolerância ao exercício.
De acordo com Souza
34
, pacientes com asma apresentam di-
minuição da qualidade de vida independentemente da gravidade
da asma, nos domínios psicológicos, físicos e sociais, gerando
restrições durante a vida. Em nosso estudo, ao comparar a quali-
dade de vida antes e após o protocolo de tratamento, observou-se
uma melhora significativa nos domínios “Global”, “Sintomas” e
“Limitação de Atividade” do questionário aplicado.
Conclusão
Pode-se dizer que, no presente estudo, apesar de não ter-
mos observado uma alteração na avaliação postural, o pro-
tocolo de exercícios proposto determinou uma melhora na
função pulmonar em relação a força muscular expiratória e
tolerância ao exercício.
Portanto, o Método Pilates pode ser uma opção para o
tratamento de indivíduos asmáticos em função de melhorar
as alterações pulmonares, o condicionamento cardiorrespira-
tório e a qualidade de vida. Dessa forma, o Pilates pode atuar
em conjunto com a Fisioterapia Respiratória Convencional,
a fim de fornecer um tratamento mais ampliado para a asma.
Referências
1. Diretrizes da sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia pra o manejo da asma. Jornal brasileiro de pneumologia
2012; V.38: n.1, p.1- 46.
2. Silva TLP. Efeitos de um programa de treinamento físico em mulheres asmáticas. [dissertação de mestrado] na área de concen-
tração: respiratória. Universidade federal de são carlos; São paulo 2006; 21.
3. Furtado NC, Silva DML, Vianna GMM, Fernandes ABS. Função pulmonar e análise postural de pacientes asmáticos atendi-
dos na clínica escola de ! sioterapia do unifeso. Movimento & saúde: revista inspirar 2012;4:1-7.
4. Marcelino AMFC, Cunha DA, Cunha RA. Força muscular respiratória em crianças asmáticas. Int arch otorhinolaryngo.
São paulo, Dez.2012; p. 492-493.
5. Azevedo VMGO, Rocha PMC, Casaes GPE, Lopes RB, Carneiro RP. Alterações posturais em crianças asmáticas.
Revista paulista de pediatria 2005; v. 23: n. 3, p. 103-105.
6. Rodrigues B. Assimetria Postural de Adolescentes Asmáticos. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisiote-
rapia) - Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2006.
7. Contreira AR, Salles SN, Silva MP, Antes DL, Katzer JI, Corazza ST. O efeito da prática regular de exercícios físicos no
estilo de vida e desempenho motor de crianças e Adolescentes Asmáticos. Pensar a Prática 2010; v.13: n.1,p.1 16,jan.
8. Quadros DLT, Furlanetto MP. Efeitos da intervenção do pilates sobre a postura e a " exibilidade em mulheres sedentá-
rias. Revista Brasileira de Fisioterapia. 2002;2(8):34-38.
9. Torri BG. Análise da função pulmonar de portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica submetidos a exercícios
com método pilates. 2013. 66 f. Monogra! a (Graduação) - Curso de Fisioterapia, Centro Universitário Serra dos Ór-
gãos, Teresópolis.
10. Black LF, Hyatt RE. Maximal respiratory pressures: normal values and relationship to age and sex. Am Rev Respir Dis
1969;99(5):696-702.
11. Neder JA, Andreoni S, Lerario MC, Nery LE. Reference values for lung function tests. II. Maximal respiratory pressure
and voluntary ventilation. Braz J Med Biol Res. 1999; (32): 719-27.
12. Jamami M, Pires VA, Oishi J, Costa D. Efeitos da intervenção ! sioterápica na reabilitação pulmonar de pacientes com doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Rev Fisioter Univ São Paulo 1999;6(2):140-53.
13. Paizante GO. Análise dos fatores de risco da coluna lombar em costureiras de uma fábrica de confecção de moda íntima
masculina no município de Muriaé - MG [Dissertação]. Minas Gerais: Centro Universitário de Caratinga, Minas Gerais, 2006.
14. Ricieri DV, Costa JR, Filho NAR. Impacto da asma sobre a postura corporal de crianças entre 8 e 14 anos analisada pela
biofotogrametria. Acta Fisiatr 2008;15(4):214-9.
15. Belli JFC, Chaves TC, Oliveira AS, Grossi DB. Analysis of body posture in children with mild to moderate asthma.
European Journal of Pediatrics 2009;168(10):1207-16.
16. Iunes DH, Cecílio MBB, Dozza MA, Almeida PR. Análise quantitativa do tratamento da escoliose idiopática com o
método klapp por meio da biofotogrametria computadorizada. Rev Bras Fisioter 2010;14(2):133-40.
17. Juniper E. Questionário de Qualidade de Vida com Atividade Padronizadas, 2000. Disponível em: http://www.asma-
bronquica.com.br Acesso em: 07. 2014.
18. Ferreira LN, Brito U, Ferreira PL. Qualidade de vida em doentes com asma. Revista Portuguesa de Pneumologia jan.
2010; v. 16, n. 1: p. 23-55.
19. Figueiredo PHS, Guimarães FS. A velocidade média do teste de caminhada incentivada de seis minutos como determinante
da intensidade de treinamento para recondicionamento físico de pneumopatas crônicos. Acta Fisiatr 2009; v.16 (4): 156-161.
20. Vilaró J, Resqueti VR & Fregonezi GAF. Avaliação clínica da capacidade do exercício em pacientes com doença pulmonar obstrutiva
crônica. Revista Brasileira de Fisioterapia, São Carlos 2008; v. 12: n. 4, p. 249-59.
21. Vaz RA, Liberali R, Cruz TMF, Netto MIA. O método Pilates na melhora da " exibilidade - Revisão sistemática. Revista
Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício Issn 1981-9900 Versão Eletrônica fev. 2012, São Paulo; v. 6: n. 31, p.25-31.
Periódico do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício.
22. Gualdi FR, Tumelero S. Asma e os benefícios da atividade física. Revista Digital, Buenos Aires maio 2010; v. 1, n. 72, p.1-1.
23. Lima EVNCL, Lima WL, Nobre A, Santos AM, Brito LMO, Costa MRSR. Treinamento muscular inspiratório e exer-
cícios respiratórios em crianças asmáticas. J. Bras. Pneumol. São Paulo dez. 2008; p. 552-558.
24. Dourado VZ, Tanni S, Vale SA, Faganello MM, Sanchez FF, Godoy I. Manifestações sistêmicas na Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica. Jornal Bras de Pneumologia, São Paulo 2006; 32 (2): 161-71.
25. Costa CC, Rosa GMMV, Fernandes ABS. Efetividade do método kinect control sobre a alteração postural e função pulmonar
de asmáticos. Fisioterapia Ser out. 2014, Teresópolis; v. 9: n. 4, p.213-218.
26. Fonseca ACCF, Fonseca MTM, Rodrigues MESM, Lasmar LMLBF, Camargo PAM. Pico do " uxo expiratório no
acompanhamento de crianças asmáticas. J. Pediatr. (Rio J.) ago. 2006 ; Porto Alegre, p. 465-469.
27. Carter R, et al. Exercise conditioning in the rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Arch
Phys Med Rehabil 1988;69:118-22.
28. Basso RP, Regueiro EMG, Jamami M, Di Lorenzo VAP, Costa D. Relação da medida da amplitude tóraco-abdominal
de adolescentes asmáticos e saudáveis com seu desempenho físico. Fisioter Mov 2011;24(1):107-14.
29. Kakizaki F, et al. Preliminary report on the effects of respiratory muscle stretch gymnastics on chest wall mobility in
patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respir Care 1999;44:409-14.
30. Lozano RA. Efeitos da reeducação postural global na pimax, mobilidade torácica e Qualidade de vida de pacientes
portadores de doença pulmonar obstrutiva Crônica. Revista Eletrônica Novo Enfoque. 2010, 10(10): 101-112.
31. Almeida VP, Guimarães FS, Moço VJR, Menezes SLS, Mafort TT, Lopes AJ. Correlação entre função pulmonar, postura e compo-
sição corporal em pacientes com asma. Rev Port Pneumol 2013;19(5):204-10.
32. Mendes AG, Carreteiro AM, Mascotti L, Cardoso M, Gomes E, Cappellazzo R. Correlação entre teste de caminhada
de 6 minutos e qualidade de vida em indivíduos asmáticos após a realização do condicionamento físico e estratégia
preventivas. Paraná: Editora Cesumar, 2013. 4 p.
33. Fonseca CD, et al. Efeito de um Programa de Exercícios Físicos Adaptados Para Pacientes Asmáticos: Estudo de Caso.
Contexto Saúde dez. 2012, Ijuí; v. 12: n. 23, p.59-66.
34. Souza PG, Sant’anna CC, March MFBP. Qualidade de vi
da na asma pediátrica: revisão da literatura. Rev. Paul.
Pediatr 2011; Rio de Janeiro; v. 4, n. 29, p.640-4.

Fisioterapia Ser • vol. 11 - nº 4 • 2016
188
Artigo Original
As consequências da mastectomia:
enfoque físico e psicológico
The consequences of mastec tomy:
physical and psychological focus
Marcela R ufino A raujo
1
, Clícia Guilher me de O liveir a Paiva Araújo
2,
Ana Vanessa A raujo Pe dros a
2, David Jonathan Nog ueira Mar tins2, Thiago Brasi leir o de Vasconcelos3,
Vasco Pinh eiro D ióg enes Bas tos4
Resumo
O carcinoma mamário manifesta-se por um nódulo indolor que tem a preva-
lência pelo quadrante superior externo do lado esquerdo da mama, podendo atingir
em casos mais graves os linfonodos axilares e supraclaviculares, sendo considerada
como uma das doenças mais comuns nas mulheres. As sequelas pós-cirúrgicas são
as aderências na parede torácica, fraqueza do membro superior envolvido, alterações
posturais e restrições na mobilidade do ombro, hipostesia do membro acometido,
dor e linfedema. O estudo objetiva analisar as consequências da mastectomia com
enfoque físico e psicológico. O tipo de estudo é de caráter descritivo, observacional
e transversal com estratégia de análise quantitativa dos resultados, a pesquisa foi
realizada no Programa de Assistência à Mulher Mastectomizada (PROAMMA) do
Centro Universitário Estácio do Ceará. A amostra foi composta por mulheres faixa
etária de 40 a 70 anos de idade participantes do projeto. O perfil demográfico das
entrevistadas é caracterizado por 55,56% (n= 5) de casadas; 88,89% (n=8) são mães;
88,89% (n=8) foram submetidas à mastectomia radical; 33,33% (n=3) fizeram op-
ção pela reconstrução mamária; 100% (n=9) realizou radioterapia; 55,56% (n=5)
apresentavam linfedema no braço homolateral ao procedimento; 77,78% (n=7)
mantiveram o trofismo normal; 100% (n=9) afirmaram que tiveram o apoio da fa-
mília; 22,22% (n=2) mencionaram que sofreram rejeição e 77,78% (n=7) não exerce
mais suas funções no trabalho ou em casa. Concluímos nesse estudo que o impacto
físico ficou mais evidente nesse estudo que o psicológico, e toda essa repercussão
está diretamente associada ao prejuízo apresentado nos resultados da analise de qua-
lidade de vida dessas mulheres. É relevante o inicio precoce de tratamento fisioterá-
pico na prevenção sequelas e de disfunções relacionadas à retirada da mama, como
no tratamento de distúrbios já instalados.
Pa l a v r a s - c h a v e : m as t ec t o mi a , câ nc e r d e m am a , as pe c t os fí s ic o s e as p ec t os
ps i c o l ó g i c o s .
1. Fisioterapeuta pelo Centro Universitário Estácio
do Ceará.
2. Discente do Curso de Fisioterapia do centro
Universitário Estácio do Ceará.
3. Fisioterapeuta. Mestre em Farmacologia.
4. Fisioterapeuta. Doutor em Farmacologia. Do-
cente do Centro Universitário Estácio do Ceará.
Endereço para correspondência:
E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
Recebido para publicação em 11/09/2016 e acei-
to em 13/11/2016, após revisão.
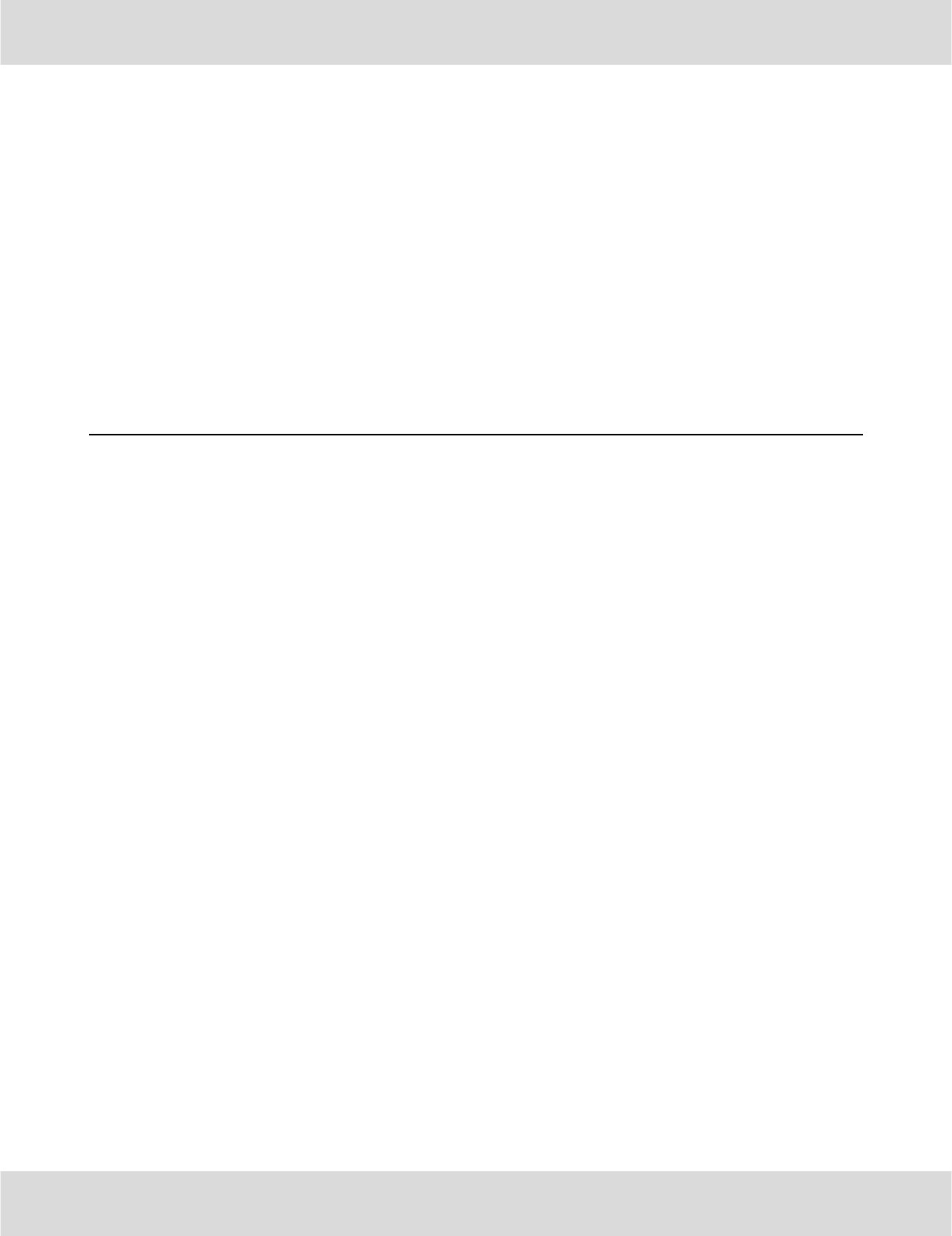
189
Fisioterapia Ser • vol. 11 - nº 4 • 2016
Abstract
Breast carcinoma manifests as a painless nodule that has the prevalence at upper outer quadrant of the left breast, rea-
ching in more severe cases the axillary and supraclavicular lymph nodes, being regarded as one of the most common diseases
in women. The postoperative sequelae are adhesions in the chest wall, upper limb weakness involved, postural changes and
restrictions on the mobility of the shoulder, hypoesthesia of the affected limb, pain and lymphedema. The study aims to
analyze the consequences of mastectomy with physical and psychological approach. The type of study is a descriptive, obser-
vational, cross-sectional nature with quantitative analysis of the results strategy, carried out in the Programme of Assistance
to Women Mastectomized (PROAMMA) University Center Estácio of Ceará. The sample consisted of women aged 40-70
years of age participating in the project. The demographic profile of respondents is characterized by 55.56% (n=5) married,
88.89% (n=8) mothers, 88.89% (n=8) underwent radical mastectomy, 33.33% (n=3) did opt for breast reconstruction, 100%
(n=9) realized radiotherapy, 55.56% (n=5) had lymphedema of the arm ipsilateral to the procedure, 77,78% (n=7) maintained
normal tropism, 100% (n=9) said they had family support, 22.22% (n=2) mentioned that suffered rejection and 77.78% (n=7)
has no more duties at work or at home. We conclude that the physical impact was most evident in this study that the psycho-
logical, and all this effect is directly related to the loss reported in the results of the analysis of quality of life of these women.
We also describe the importance of early onset of sequelae in physical therapy and prevention of disorders related to the re-
moval of the breast, and the treatment of disorders that are already installed. It is relevant early initiation of physical therapy
in preventing sequelae and dysfunctions related to the removal of the breast, as in the treatment of disorders already installed.
Keywords: mastectomy, breast cancer, physical aspects and psychological aspects.
Introdução
O carcinoma mamário manifesta-se por um nódulo in-
dolor que tem a prevalência pelo quadrante superior externo
do lado esquerdo da mama, podendo atingir em casos mais
graves os linfonodos axilares e supraclaviculares, sendo con-
siderado como uma das doenças mais comuns nas mulheres1.
As células cancerosas apresentam a capacidade de in-
vadir o tecido normal e de disseminar para locais distantes.
Essa característica é responsável, em última análise, pela
morte da paciente, pois o tumor primário é geralmente sus-
cetível à extirpação cirúrgica. É uma doença complexa e
heterogênea com formas de evolução lenta ou rapidamente
progressivas, dependendo do tempo de duplicação celular e
outras características biológicas de progressão2.
O câncer mamário é o segundo tipo de câncer mais fre-
quente no mundo e o mais comum entre as mulheres. Possui
taxas de mortalidade elevadas, muito provavelmente porque a
doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. Acima
dos 35 anos, sua incidência cresce rápida e progressivamente.
Estima-se 53 mil novos casos de câncer de mama no país3-5.
Os fatores de ricos para o câncer de mama começam
com a idade. É raro um tumor maligno de mama antes dos
35 anos, mas aos 50 anos o risco é muito grande; aos 65
anos, o risco é 100 vezes maior que aos 30. A mulher branca
apresenta um índice global maior de incidência do que as
mulheres negras, sendo esta diferença significante somente
após a menopausa. Em seguida, vem a história familiar que
pode aumentar em 85% o risco de contrair a doença, tendo
maior risco de câncer de mama a mulher cuja mãe, tia, irmã
ou avó foram acometidos pela doença6-8.
É de suma importância a detecção do câncer de mama,
como forma de prevenção, através do autoexame, consultas
médicas, mamografias periódicas. Esse é um importante
fator que tem contribuído para o aumento da sobrevida das
mulheres com câncer de mama, além dos avanços da me-
dicina. Através da mamografia pode-se detectar lesões não
palpáveis, antes mesmo que elas se tornem evidentes9,10.
A escolha do tratamento depende da avaliação indivi-
dual de cada caso, levando em conta as características do
tumor, da paciente e da fase da doença. O retardo no diagnós-
tico ocasiona tratamentos mais agressivos e menos efetivos,
aumenta o comprometimento físico e emocional da mulher
e toda sua família o que, consequentemente, eleva os índices
de mortalidade por esse tipo de câncer. A cirurgia constitui
uma das fases mais importantes no tratamento do câncer, in-
cluindo a remoção do tumor e dos tecidos adjacentes e, quase
sempre, o esvaziamento axilar6,11-13.
O esclarecimento sobre a natureza e os objetivos dos
procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, é
um direito do paciente, bem como de ser informado sobre
sua invasibilidade, duração do tratamento, seus benefícios e
prováveis desconfortos, e dos possíveis riscos físicos, psico-
lógicos, econômicos e sociais por que possa vir a passar14.
A técnica de tumorectomia consiste na remoção de todo
o tumor com margens livres e, após o tratamento da mama,
é realizado o esvaziamento axilar. Como em toda cirurgia
conservadora, a radioterapia é parte integrante do tratamen-
to. Na quadrantectomia, ocorre a retirada do quadrante ma-
mário onde se localiza o tumor, com margens de segurança,
juntamente com boa parte de pele e fáscia muscular, sendo
complementada pelo esvaziamento axilar e radioterapia pós-
-operatória. Para eleição do tratamento conservador os tumo-
res não devem ultrapassar 3 cm, a menos que a mama seja
bastante volumosa, permitindo bom resultado estético12.
Den tre o utr as fo rma s de tr ata me nto d est aca m-s e as
mas tec tom ia s:
• A mastectomia modificada, do tipo Patey é menos radical.
São removidas a glândula mamária e o músculo pequeno
peitoral de suas inserções na apófise coracóide, terceiro,
quarto e quinto espaços intercostais em monobloco com
esvaziamento axilar radical, linfonodos interpeitorais, apo-
neurose anterior e posterior do músculo grande peitoral2.
• A mastectomia radical, do tipo Halsted, consiste na extir-
pação da mama, músculo grande e pequeno peitoral, e es-
Prévia do material em texto
<p>Revista científica dos profissionais de fisioterapia</p><p>Ano 11 - Nº 4 - out / nov / dez - 2016</p><p>Fundamentação teórica para</p><p>®criolipólise polarys convencional,</p><p>reperfusão e contraste</p><p>Influência do Método Pilates nas</p><p>alterações pulmonar, postural e</p><p>psicossocial observadas na asma</p><p>As consequências da mastectomia:</p><p>enfoque físico e psicológico</p><p>Distância percorrida no teste de</p><p>caminhada de seis minutos como</p><p>preditora de óbito em cardiopatas:</p><p>um estudo retrospectivo</p><p>Fisioterapia oculomotora no tratamento</p><p>da presbiopia</p><p>Modificações de função pulmonar</p><p>mediante treinamento físico</p><p>Percepções pessoais da protetização e</p><p>o impacto na qualidade de vida e na</p><p>independência funcional de pacientes</p><p>com amputação transfemural unilateral</p><p>181</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>SUMÁRIO</p><p>181</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>ARTIGOS ORIGINAIS</p><p>Influência do Método Pilates nas alterações pulmonar, postural e psicossocial observadas na asma ............................... 183</p><p>Keila Soares da Silva, Anna Victória Ribeiro Porras, Charles da Cunha Costa, Rondinele de Jesus Barros, Alba Barros Souza Fernandes</p><p>As consequências da mastectomia: enfoque físico e psicológico ..................................................................................... 188</p><p>Marcela Rufino Araujo, Clícia Guilherme de Oliveira Paiva Araújo, Ana Vanessa Araujo Pedrosa, David Jonathan Nogueira Martins,</p><p>Thiago Brasileiro de Vasconcelos, Vasco Pinheiro Diógenes Bastos</p><p>Distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos como preditora de óbito em cardiopatas:</p><p>um estudo retrospectivo .................................................................................................................................................. 195</p><p>Joédson da Silva, Vanessa do Carmo Correia, Júlio Marins de Castro, Patrícia dos S.V. de Abreu, Marco Orsini, Tiago Batista da Costa Xavier,</p><p>Mauricio de Sant Anna Jr, Dominique Babini Lapa de Albuquerque, Nathielly Carolina Silva Gonçalves, Paulo Henrique de Melo</p><p>Fisioterapia oculomotora no tratamento da presbiopia ................................................................................................... 199</p><p>Dominique Babini Lapa de Albuquerque, Nathielly Carolina Silva Gonçalves, Paulo Henrique de Melo</p><p>Modificações de função pulmonar mediante treinamento físico ...................................................................................... 203</p><p>M. S. Pinto, K. Marques, Araújo L.D., P. M. Sá</p><p>Percepções pessoais da protetização e o impacto na qualidade de vida e na independência funcional de</p><p>pacientes com amputação transfemural unilateral ........................................................................................................... 206</p><p>Angelina Maria dos Santos Oeby, Rebeca Andrade de Freitas, Monique Opuszcka Campos, Leandro Dias de Araujo</p><p>REVISÕES</p><p>Características anatomofisiológicas da articulação temporomandibular .......................................................................... 213</p><p>Aureliano da Silva Guedes, Antônio José da Silva Nogueira, Aureliano da Silva Guedes II</p><p>O uso da corrente russa na flacidez abdominal em mulheres no puerpério ..................................................................... 218</p><p>Izabel Cristina Melo de Oliveira, Maria dos Prazeres Carneiro Cardoso, Maykon Felipe Pereira da Silva, Francisca Maria Aleudinelia Monte Cunha</p><p>Prevenção de lesões em atletas no uso de protocolos: uma revisão integrativa ............................................................... 221</p><p>Maykon Felipe Pereira da Silva, Francisca Maria Aleudinelia Monte Cunha</p><p>Fundamentação teórica para criolipólise polarys® convencional, reperfusão e contraste .................................................. 224</p><p>Estela Sant�Ana</p><p>RESUMOS ....................................................................................................................................................................232</p><p>AGENDA ......................................................................................................................................................................239</p><p>NORMAS .....................................................................................................................................................................240</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>182</p><p>A Revista Fisioterapia Ser é um periódico Técnico-científico sobre fisioterapia, registrado no International Standard Se-</p><p>rial Number (ISSN), sob o código 1809-3469, com distribuição trimestral no Brasil e na América Latina. É uma publicação di-</p><p>rigida a fisioterapeutas, professores, pesquisadores, acadêmicos de fisioterapia, empresários e demais instituições da área.</p><p>Stevenson Edições e Recursos - Editora Ser - É proibida a reprodução total ou parcial dos artigos publicados, sejam</p><p>quais forem os meios empregados (mimiografia, fotocópia, datilografia, gravação, reprodução em discos ou fitas), sem</p><p>permissão por escrito da Editora Ser. Aos infratores aplicam-se as sanções previstas nos artigos 122 e 130 da lei 5.988 de</p><p>14/12/83. Os conteúdos dos anúncios veiculados são de total responsabilidade dos anunciantes. As opiniões em artigos</p><p>assinados não são necessariamente compartilhadas pelos editores.</p><p>Conselho Científico</p><p>Alessandro dos Santos Pin (UFAM - Coari/AM)</p><p>Anke Bergmann (UNISUAM - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Aureliano da Silva Guedes (UFPA - Belém/PA)</p><p>Beatriz Helena de S. Brandão (HSE - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Elhane Glass Morari-Cassol (UFSM - Santa Maria/RS)</p><p>Fábio Oliveira Maciel (UFAM - Coari/AM)</p><p>Fernanda Luisi (UFCSPA - RS)</p><p>Geraldo Magella Teixeira (UNCISAL - Maceió/AL)</p><p>Jones Eduardo Agne (UFSM - RS)</p><p>Júlio Guilherme Silva (UNISUAM - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Maria Goretti Fernandes (UFS - SE)</p><p>Mário Bernardo Filho (UERJ - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Marta Lúcia Guimarães Resende Adorno (CEULP - Palmas/TO)</p><p>Mauricio de Sant´Anna Junior (IFRJ - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Nadja de Souza Ferreira (FRASCE - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Sérgio Nogueira Nemer (HCN - Niterói/RJ)</p><p>Silmar Silva Teixeira (UFPI - Parnaíba/PI)</p><p>Vasco Pinheiro Diógenes Bastos (CUEC/FIC - Fortaleza/CE)</p><p>Victor Hugo do Vale Bastos (UFPI - Parnaíba/PI)</p><p>Wilma Costa Souza (UCB - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Assessores</p><p>Alessandro Júlio de Jesus Viterbo de Oliveira (Avante - RS)</p><p>Alexandre Gomes Sancho (UNIGRANRIO - RJ)</p><p>Alexsander Evangelista Roberto (Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Blair José Rosa Filho (UNIVERSO - Niterói/RJ)</p><p>Camila Costa de Araújo (UENP - PR)</p><p>Danúbia da Cunha de Sá Caputo (Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Fábio dos Santos Borges (UNESA - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Fábio Marcelo Teixeira de Souza (Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Hélia Pinheiro Rodrigues Corrêa (IFRJ - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Hélio Santos Pio (Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Henrique Baumgarth (ABCROCH - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Jefferson Braga Caldeira (UNIGRANRIO - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>José da Rocha Cunha (UNESA - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>José Tadeu Madeira de Oliveira (IBC - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Kátia Maria Marques de Oliveira (UCB - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Leandro Azeredo (IACES - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Leandro Gomes Barbieri (INTA - Sobral/CE)</p><p>Ludmila Bonelli Cruz (UNIVERSO - MG)</p><p>Márcia Maria Peixoto Leite (UFBA - Salvador/BA)</p><p>Nílton Petrone Vilardi Jr. (Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Palmiro Torrieri (Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Odir de Souza Carmo (Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Wagner Teixeira dos Santos (UCB - Rio de Janeiro/RJ)</p><p>Wellington Pinheiro de Oliveira (CESUPA - PA)</p><p>Esta revista é indexada pela CAPES com média QUALIS</p><p>B4 em Engenharia III, Interdisciplinar, Medicina II, Edu-</p><p>cação e Saúde Coletiva.</p><p>Assinaturas:</p><p>Anual � 4 números � R$ 168,00</p><p>Bianual � 8 números � R$ 252,00</p><p>Endereço:</p><p>Rua Adriano, 300 - Bl.: 19 / 204</p><p>Méier - Cep 20735-060 � Rio de Janeiro � RJ</p><p>Tel./Fax.: (21) 98661-2711 e 98014-2927</p><p>www.editoraser.com.br</p><p>Stevenson Gusmão</p><p>Diretor / Editor Executivo</p><p>Aline Figueiredo</p><p>Projeto Gráfico / Dir. Arte</p><p>Luana Menezes</p><p>Colaboradora de redação</p><p>183</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Artigo Original</p><p>Influência do Método Pilates</p><p>nas alterações pulmonar, postural e psicossocial</p><p>observadas na asma</p><p>Influence of pilates method</p><p>à cirurgia, o que pode ser explicado por Picaro,</p><p>Pelório21 em seu estudo, destacando que a reabilitação física</p><p>torna-se primordial, por apresentar um conjunto de possibi-</p><p>lidades terapêuticas suscetíveis de serem empregadas, desde</p><p>a fase mais precoce da recuperação funcional do membro</p><p>superior e cintura escapular até a profilaxia e tratamento de</p><p>sequelas, como aderências cicatriciais e linfedema.</p><p>Ao compararmos a ocupação anterior com a ocupação atu-</p><p>al das entrevistadas, houve um aumento no numero de mulheres</p><p>que se dizem donas de casa de 22,22% para 55,56% o que con-</p><p>firma Fernandes, Mamede27 a restrição das suas atividades pela</p><p>ocorrência da doença faz com que estas se sintam inúteis, e na</p><p>maioria das vezes chegam até deixarem seus empregos.</p><p>Silva e Rodrigues28 apontam, em seu estudo que o relacio-</p><p>namento familiar pode, na maioria das vezes, fortalecer, assim</p><p>como os laços afetivos e de intimidade com seus familiares</p><p>quando há o acometimento de uma patologia como o câncer</p><p>de mama, o que foi verificado no nosso estudo que, 100% das</p><p>entrevistadas afirmaram que tiveram o apoio da família, não</p><p>havendo nenhum relato de abandono por parte do companhei-</p><p>ro, o que fica claro na comparação entre os dados do estado ci-</p><p>vil, antes e após a mastectomia, onde 55% das mulheres eram</p><p>casadas e assim permaneceram após o procedimento e 88,89%</p><p>disseram sentir-se bem após a cirurgia.</p><p>O estudo de Fernandes, Mamede27 demonstra que o es-</p><p>tilo de vida atual no qual a individualidade é buscada em</p><p>detrimento do convívio social deve ser repensado. Dentre as</p><p>possibilidades de ajuda para enfrentamento das dificuldades</p><p>temos as associações, os serviços de saúde, os grupos e a</p><p>família, essa convivência faz com que as mulheres elevem</p><p>a autoestima e busquem se conscientizar de sua condição e</p><p>aprender a lidar com ela. O que pode justificar o fato de que</p><p>entre as entrevistadas do grupo 44,44% definem sua saúde</p><p>como boa e 33,33% como muito boa; 66,66% optaram por</p><p>não fazer uso de prótese mamária e 88,89% afirmaram que</p><p>não tiveram nenhum tipo de sentimento de revolta por terem</p><p>sido diagnosticadas com o câncer.</p><p>O câncer de mama e a mastectomia estão associados a</p><p>sofrimento, mutilação, perda da sexualidade e, a depender do</p><p>relacionamento existente entre a mulher mastectomizada e seu</p><p>parceiro, a qualidade de vida de ambos pode sofrer alteração.</p><p>No presente estudo as pesquisadas permaneceram com seus</p><p>parceiros após a retirada da mama. Estudo de Conde et al.29,</p><p>destacam que os companheiros de mulheres com câncer de</p><p>mama podem ser fontes de estresse ou de suporte emocional e</p><p>podem interferir ou contribuir na qualidade de vida das mes-</p><p>mas, pois, segundo pesquisa, mulheres satisfeitas com seus</p><p>parceiros referem estar bem psicológica e sexualmente.</p><p>Quanto ao questionário SF-36, se for feito um parale-</p><p>lo do que foi discutido até então com os resultados obtidos</p><p>na análise dos domínios do questionário, pode-se verificar</p><p>que os mais prejudicados foram o Aspecto Físico com escore</p><p>(2,78) e o Aspecto Emocional pontuando (40,40). Isso por-</p><p>que uma vez descoberta a doença, realizada a mastectomia e</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>194</p><p>o tratamento complementar, acarreta consequências em sua</p><p>saúde física e emocional, ocasionadas pela diminuição na</p><p>quantidade de tempo dedicado ao trabalho e a outras ativida-</p><p>des, realização de menos tarefas do que gostaria e dificulda-</p><p>des para fazer seu trabalho anterior, ou mesmo em casa. Nos</p><p>quesitos Aspectos Sociais (78,83) e Saúde Mental (74,67)</p><p>observou-se os melhores resultados entre os analisados pelo</p><p>questionário. Constatou-se através desses dados, que a inter-</p><p>venção cirúrgica e as suas complicações afetam diretamente</p><p>na qualidade de vida das mulheres diagnosticadas com cân-</p><p>cer de mama.</p><p>Conclusão</p><p>Concluímos que o impacto físico ficou mais evidente e</p><p>interfere diretamente na atividade dessas mulheres, que antes</p><p>exerciam suas profissões e atualmente estão impossibilitadas</p><p>de realiza-las. É relevante o inicio precoce de tratamento fisio-</p><p>terápico na prevenção sequelas e de disfunções relacionadas à</p><p>retirada da mama, como no tratamento de distúrbios já insta-</p><p>lados bem como a importância de uma abordagem multidis-</p><p>ciplinar dessas pacientes, considerando não apenas o quadro</p><p>patológico, mas também a reabilitação física, psicológica, so-</p><p>cial e profissional. No aspecto psicológico o suporte e apoio</p><p>familiar, bem como o convívio com um grupo social fazem</p><p>com que, emocionalmente, elas estejam mais preparadas para</p><p>lidar com a sua nova realidade. E toda essa repercussão está</p><p>diretamente associada ao prejuízo apresentado nos resultados</p><p>na analise de qualidade de vida dessas mulheres.</p><p>Referências</p><p>1. Guirro E, Guirro RI. Fisioterapia dermato-funcional: fundamentos, recursos, pato-</p><p>logias. São Paulo: Manole; 2002.</p><p>2. Camargo, M, Marx ÂG. Reabilitação física no câncer de mama. São Paulo: Roca; 2000.</p><p>3. Alves PC, Silva APS, Santos MCL, Fernandes AFC, Conhecimento e expectativas</p><p>de mulheres no pré-operatório da mastectomia. Revista da escola de enfermagem</p><p>da USP. 2010;44(4):989-995.</p><p>4. Facina T. Estimativa 2012 � Incidência de Câncer no Brasil. [Artigo de internet].</p><p>Disponível em: <http://www.inca.gov.br/rbc/n_57/v04/pdf/13_resenha_estimati-</p><p>va2012_incidencia_de_cancer_no_brasil.pdf>. Acesso em 12 de abril de 2013.</p><p>5. Instituto Nacional Do Câncer (Brasil). [Artigo de internet]. Disponível em: <http://</p><p>www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/></p><p>Acesso em 15 de março de 2013.</p><p>6. Sabbi A R, Câncer: conheça o inimigo. Rio de Janeiro: Revinter; 2000.</p><p>7. Zelmanowicz AM. Câncer de Mama. ABC da Saúde. [Artigo de internet]. Dis-</p><p>ponível em: < http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?611.> Acesso em: 07 de</p><p>março de 2013.</p><p>8. Moura FMJSP, Silva MG, Oliveira SC, Moura LJSP. Os sentimentos das mulheres</p><p>pós-mastectomizadas. Escola de Anna Nery, 2010;14(3):477-484.</p><p>9. Venâncio JR. Importância da Atuação do Psicólogo no Tratamento de Mulheres</p><p>com Câncer de Mama. Revista Brasileira de Cancerologia, 2004;01(50):55-63.</p><p>10. Oliveira C, Ribeiro L, Leite RC. Câncer de mama prevenção e ratamento. São</p><p>Paulo: Ediouro; 2002.</p><p>11. Menke CH, Biazus JV, Xavier NL, Cavalheiro JA, Rabin EG, Bittelbrunn A, Ceri-</p><p>catto R. Rotinas em Mastologia.. Porto Alegre: Artmed; 2006.</p><p>12. Baracho E. Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia, Uroginecologia e Aspectos de</p><p>Mastologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2007.</p><p>13. Panobianco MS, Pimentel AV, Almeida AM, Oliveira ISB. Mulheres com Diag-</p><p>nóstico Avançado do Câncer do Colo do Útero: Enfrentando a Doença e o Tra-</p><p>tamento. Escola de enfermagem de ribeirão Preto da universidade de São Paulo.</p><p>2010. [Artigo de internet]. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/rbc//n_58/v03/</p><p>pdf/22_artigo_mulheres_diagnostico_avan%C3%A7ado_cancer_colo_utero_en-</p><p>frentando_doenca_tratamento.pdf>. Acesso em 10 de abril de 2013.</p><p>14. Arantes SL, Mamede MV. A participação das mulheres com câncer de mama na</p><p>escolha do tratamento um direito a ser conquistado. Rev. Latino-Am. Enfermagem,</p><p>2003;11(1):49-58.</p><p>15. Veronesi U. Mastologia Oncológica. Rio de Janeiro: Editora Medsi; 2002.</p><p>16. BRASIL. Ministério da Saúde. Normas e recomendações - Controle do Cân-</p><p>cer de Mama. Documento de Consenso. Revista Brasileira de Cancerologia</p><p>2004;50(2):77-90.</p><p>17. Pinheiro CPO, Silva RM, Mamede MV, Fernandes AFC. Participação em grupo de</p><p>apoio: experiência de mulheres com câncer de mama. Revista Latino-am Enferma-</p><p>gem,2008;16(4):733-738.</p><p>18. Manganiello, A. Sexualidade e qualidade de vida da mulher submetida a mastecto-</p><p>mia. [Dissertação de Mestrado] São Paulo: Escola de Enfermagem da Universida-</p><p>de de São Paulo. 2008.</p><p>19. COFFITO. Conselho Federal De Fisioterapia E Terapia Ocupacional -. Resolução</p><p>COFFITO-10, de 3 de julho de 1978. Aprova o código de ética pro! ssional de</p><p>Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Brasília: Diário O! cial da União. p. 5 265-5</p><p>268. 22 set. 1978. Seção I. parte II.</p><p>20. BRASIL. Ministério</p><p>da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de</p><p>Atenção Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério</p><p>da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. � 2.</p><p>ed. � Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013.</p><p>21. Picaró P, Perloiro F. Evidência da Intervenção Precoce da Fisioterapia em Mulheres</p><p>Mastectomizadas: Estudo Comparativo. [Artigo de Internet]. Disponível em: < http://</p><p>www.pnfchi.com/fotos/literatura/1233837612.pdf>. Acesso em 12 de abril de 2012.</p><p>22. Silva LC. Câncer de mama e sofrimento psicológico: aspectos relacionados ao</p><p>feminino. Psicologia em Estudo, Maringá: 2008;13(2):231-237.</p><p>23. Stephenson RG, O�Connor LJ. Fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia.</p><p>São Paulo: Manole; 2004.</p><p>24. Lotti RCB, Barra AA, Dias RC, Makluf ASD. Impacto do tratamento do câncer de</p><p>mama na qualidade de vida. Revista Brasileira de Cancerologia 2008;54(4):367-371.</p><p>25. Batiston, A. P.; Santiago, S. M. Fisioterapia e complicações físico-funcionais após</p><p>tratamento cirúrgico do câncer de mama. Fisioterapia e Pesquisa 2005;12(3):30-35.</p><p>26. BRASIL. Resolução CNS n.º 196, de 10 de outubro de 1996. Aprovam diretrizes</p><p>e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Diário O! cial</p><p>da União. Brasília. n. 201. p. 21 082. 16 out. 1996. Seção 1.</p><p>27. Fernandes AFC, Mamede MV. Câncer de mama: mulheres que sobreviveram. For-</p><p>taleza: UFC, 2003.</p><p>28. Silva EL, Rodrigues RA. O cotidiano da mulher mastectomizada. Congresso Bra-</p><p>sileiro de Enfermagem. Rio Grande de Sul, 2004.</p><p>29. Conde DM, Pinto-Neto AM, Freitas Júnior R, Aldrighi JM. Qualidade de vida de</p><p>mulheres com câncer de mama. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2006;28(3):195-204</p><p>30. Magalhães G. Introdução à metodologia cientí! ca: caminhos da ciência e tecnolo-</p><p>gia. São Paulo: Ática; 2005.</p><p>31. Turato ER. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: de! nições, dife-</p><p>renças e seus objetos de pesquisa. Rev. Saúde Pública, 2005;39(3):507-514.</p><p>195</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Artigo Original</p><p>Distância percorrida no teste de caminhada</p><p>de seis minutos como preditora de óbito em</p><p>cardiopatas: um estudo retrospectivo</p><p>Distance on the six minutes walk test as predictor</p><p>of cardiac death in: a retrospective study</p><p>Joédson da Silva1, Vanessa do Carmo Correia2, Júlio Marins de Castro3, Patrícia dos S.V. de Abreu3,</p><p>Marco Orsini4, Tiago Batista da Costa Xavier5, Mauricio de Sant Anna Jr5</p><p>1. Serviço de Fisioterapia do Hospital Universi-</p><p>tário Clementino Fraga Filho � Universidade</p><p>Federal do Rio de Janeiro (HUCFF-UFRJ) /</p><p>Preceptor de Estágio e Residência Multipro� s-</p><p>sional do HUCFF, Rio de Janeiro / Serviço de</p><p>Fisioterapia do Hospital Icaraí, Rio de Janeiro.</p><p>2. Coordenadora e Docente do Curso de Fisiote-</p><p>rapia do Centro Universitário Anhanguera de</p><p>Niterói (UNIAN), Niterói, Rio de Janeiro.</p><p>3. Fisioterapeuta pelo Centro Universitário Anhan-</p><p>guera de Niterói � Niterói, Rio de Janeiro.</p><p>4. Doutor Professor do programa de doutorado</p><p>em Neurologia � UFF / Professor do Curso de</p><p>Mestrado em Urgência e Emergência Médica</p><p>� Universidade Severino Sombra (USS),</p><p>5. Professor do Curso de Fisioterapia do Instituto</p><p>Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do</p><p>Rio de Janeiro (IFRJ) / Grupo de Estudos em</p><p>Reabilitação na Alta Complexidade (GERAC)</p><p>/ Serviço de Fisioterapia Hospital Federal dos</p><p>Servidores do Estado (HFSE).</p><p>Endereço para correspondência: Prof. PhD.</p><p>Mauricio de Sant� Anna Jr. Instituto Federal</p><p>de Educação � Ciência e Tecnologia do Rio</p><p>de Janeiro (IFRJ) � Campus Realengo � Rua</p><p>Professor Carlos Wenceslau, 343 � Realengo</p><p>� Rio de Janeiro � CEP 21715-000 � Brasil �</p><p>Tel.: (+55.21) 3463-4497.</p><p>E-mail: mauricio.junior@ifrj.edu.br</p><p>Recebido para publicação em 13/10/2016 e acei-</p><p>to em 28/11/2016, após revisão.</p><p>Resumo</p><p>O objetivo do presente estudo foi realizar uma análise retrospectiva quanto à exis-</p><p>tência de óbito em pacientes cardiopatas que realizaram teste de caminhada de seis</p><p>minutos (TC6M) ambulatorialmente. Foi realizado contato telefônico, em horário co-</p><p>mercial, em dias úteis, onde foram feitos questionamentos sobre a condição atual do</p><p>paciente (clínica e físico-funcional), além do verificação de possíveis reinternações e</p><p>óbito no período. Posteriormente os resultados foram tabulados em planilha específica</p><p>e analisados. Para análise dos resultados foi utilizado o teste t student para comparação</p><p>entre a distância prevista e a obtida no TC6M sendo adotado o nível de significân-</p><p>cia p<0,05. Após serem aplicados os critérios de inclusão e exclusão a amostra foi</p><p>composta por 19 prontuários de pacientes de ambos os sexo com media de idade de</p><p>55,4±16,0 onde a distância média percorrida no TC6M foi de 451,7±166,2 metros.</p><p>Cinco indivíduos evoluíram com óbito no período de 4,1 anos sendo eles os indivíduos</p><p>que caminharam as menores distâncias no TC6M (300,0±119,6 metros equivalente</p><p>a 59,9% do previsto). Observamos que para a amostra avaliada o TC6M foi capaz</p><p>de estratificar o risco de óbito em pacientes cardiopatas que percorreram distâncias</p><p>inferiores à 300 metros estando de acordo com as evidências previamente apontadas</p><p>na literatura. Sugerimos que o TC6M seja realizado como rotina de follow up em pa-</p><p>cientes cardiopatas em acompanhamento ambulatorial.</p><p>Palavras-chave: capacidade funcional, estratificação de risco, prognóstico.</p><p>Abstract</p><p>The objective of the present study was to conduct a retrospective analysis of the</p><p>existence of death in patients with heart disease who underwent six-minute walk test</p><p>(6MWT) in the outpatient setting. A telephone contact was made during business</p><p>hours, on working days, where questions were asked about the patient�s current condi-</p><p>tion (clinical and physical-functional), as well as verification of possible readmissions</p><p>and death in the period. Subsequently the results were tabulated in a specific worksheet</p><p>and analyzed. For the analysis of the results, the student�s t test was used to compare</p><p>the predicted and obtained distance in the 6MWT. The level of significance was adop-</p><p>ted p <0.05. After applying the inclusion and exclusion criteria, the sample consisted</p><p>of 19 medical records of patients of both sex with mean age of 55.4±16.0, where the</p><p>mean distance walked on the 6MWT was 451.7±166.2 meters. Five individuals died in</p><p>the 4.1-year period, and they were the individuals who walked the shortest distances in</p><p>the 6MWT (300.0±119.6 meters equivalent to 59.9% of predicted). We observed that</p><p>for the sample evaluated the 6MWT was able to stratify the risk of death in patients</p><p>with heart disease who traveled distances of less than 300 meters, according to the</p><p>evidence previously mentioned in the literature. We suggest that the 6MWT should be</p><p>performed as a follow-up routine in patients undergoing ambulatory follow-up.</p><p>Keywords: risk stratification, function capacity, prognostic.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>196</p><p>Introdução</p><p>As doenças que acometem o sistema cardiovascular</p><p>apresentam grande incidência e prevalência, com destaque</p><p>para insuficiência cardíaca (IC), infarto agudo do miocárdio</p><p>(IAM)1-3 o que representa um importante gasto para o siste-</p><p>ma único de saúde. Tais condições cursam com importante</p><p>deterioração da capacidade funcional4,5.</p><p>O teste de caminhada de seis minutos (TC6M) é um teste</p><p>simples, de baixo custo, fácil aplicabilidade que visa utilizar</p><p>a atividade habitual como ferramenta de avaliação da capa-</p><p>cidade funcional. Ele foi idealizado na década de 19706,7,</p><p>com objetivo de avaliar funcionalmente portadores de do-</p><p>ença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)7,8, apresentado</p><p>correlação com o consumo de oxigênio de pico (VO2pico)9,</p><p>sendo indicado e amplamente aplicado em condições como:</p><p>comparação pré e pós tratamento (ex: IC, DPOC, hiperten-</p><p>são pulmonar, redução de volumes e capacidades pulmona-</p><p>res, dentre outras), avaliação da capacidade funcional (IC,</p><p>DPOC, doença vascular periférica, fibrose cística, dentre ou-</p><p>tras), além de ser uma</p><p>ferramenta importante na predição do</p><p>prognostico em diversas condições6,7,10,11,12,13.</p><p>Diversos estudos apontam que a distância percorrida</p><p>no TC6M é um importante indicador mortalidade estando</p><p>os pacientes que caminham distância inferior a 300 metros</p><p>com grave acometimento de sua condição físico-funcional</p><p>o que aumentaria substancialmente a chance de desfechos</p><p>sombrios, como o óbito13,14,15.</p><p>Por tratar-se de uma avaliação que envolve um mínimo</p><p>grau de complexidade para sua realização, o TC6M tem sido</p><p>utilizado como ferramenta para estratificação de risco quan-</p><p>to a morbidade e mortalidade10,16,17. Tendo em vista todo ex-</p><p>posto o objetivo do presente estudo foi realizar uma análise</p><p>retrospectiva quanto à existência de óbito em pacientes car-</p><p>diopatas que realizaram TC6M ambulatorialmente.</p><p>Metodologia</p><p>O presente estudo foi composto de análise retrospecti-</p><p>va de prontuários de pacientes com diagnóstico de doenças</p><p>cardiovasculares e/ou respiratórias que foram admitidos</p><p>no Núcleo de Atenção à Saúde Margarida Waldmann Lei-</p><p>te � Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário</p><p>Anhanguera de Niterói no período de 2000 a 2015).</p><p>Amostra</p><p>A amostra foi composta por 3.400 prontuários arquiva-</p><p>dos na Clinica Escola de Fisioterapia do Centro Universitá-</p><p>rio Anhanguera de Niterói.</p><p>Critérios de inclusão</p><p>Foram incluídos no estudo prontuários de indivíduos</p><p>com diagnóstico de doença cardiovascular com idade entre</p><p>18 a 85 anos e que realizaram TC6M.</p><p>Critérios de exclusão</p><p>Foram adotados como critérios de exclusão: pron-</p><p>tuários que não apresentavam registros de realização do</p><p>TC6M, que não tivessem registros adequados (distância</p><p>percorrida no TC6M, idade, contato telefônico, diagnóstico</p><p>clínico) menores de 18 anos e inviabilidade de realização</p><p>de contato telefônico (mudança de número de telefone) e</p><p>prontuários que de pacientes que realizaram TC6M mas</p><p>não apresentavam cardiopatias.</p><p>Protocolo de pesquisa</p><p>Foi realizado contato telefônico, em horário comercial,</p><p>em dias úteis, onde foram feitos questionamentos sobre a</p><p>condição atual do paciente (clínica e físico-funcional), além</p><p>do verificação de possíveis reinternações e óbito no período.</p><p>Posteriormente os resultados foram tabulados em planilha</p><p>específica e analisados.</p><p>Para a determinação da distância prevista a ser percorri-</p><p>da foi utilizada a equação proposta por Brito et al. para popu-</p><p>lação brasileira13 [DPTC6M=890,46-(6,11 x idade)+(0,0345</p><p>x idade2)+(48,87 x gênero)-(4,87x IMC) sendo gênero = 1</p><p>(homens) e gênero = 0 (mulheres)].</p><p>Análise estatística</p><p>Os dados obtidos foram tabulados e organizados em</p><p>planilha de cálculos e descritos como média±desvio padrão</p><p>e porcentagem. Para caracterização da distribuição dos da-</p><p>dos foram aplicados os testes de Kolmogorov-Smirnov com</p><p>correção de Lilliefors (distribuição normal). Para análise dos</p><p>resultados e confecção dos gráficos foi utilizado o GraphPad</p><p>Prims 5®. O teste t student foi utilizado para comparação en-</p><p>tre a distância prevista e a obtida no TC6M sendo adotado o</p><p>nível de significância quando P<0,05.</p><p>Resultados</p><p>Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão per-</p><p>maneceram no estudo para análise 19 prontuários, conforme</p><p>apresentado na figura 1. As características demográficas dos</p><p>componentes da amostra encontram-se descritas na tabela 1.</p><p>Dos prontuários avaliados 14 pertenciam ao sexo feminino</p><p>(73,7%) e 5 pertenciam ao sexo masculino (23,3%).</p><p>Figura 1: Organograma dos critérios de exclusão. TC6M =</p><p>teste de caminhada de seis minutos.</p><p>Tabela 1: características demográficas dos componentes</p><p>da amostra.</p><p>Variáveis Média±desvio padrão</p><p>Idade (anos) 55,4±16,0</p><p>Estatura (m) 1,60±0,08</p><p>Massa Corporal (kg) 72,9±18,7</p><p>IMC (kg/m²) 28,8±8,1</p><p>IMC = índice de massa corporal.</p><p>Os componentes da amostra apresentavam como diag-</p><p>nósticos clínicos: insuficiência cardíaca (42,1%), doença ar-</p><p>terial coronariana (42,1%) e revascularização do miocárdio</p><p>(15,8%). As comorbidades associadas encontram-se descri-</p><p>tas na tabela 2.</p><p>197</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Tabela 2: Características clínicas dos componentes da amostra.</p><p>Comorbidades %</p><p>Infarto agudo do miocárdio 34</p><p>Doença pulmonar obstrutiva crônica 25</p><p>Obesidade 10</p><p>Hipertensão arterial sistêmica 9</p><p>Asma 9</p><p>Acidente vascular encefálico 5</p><p>Bronquiectasia 4</p><p>Pneumotórax 4</p><p>No que tange a distância percorrida no TC6M os compo-</p><p>nentes da amostra caminharam 416,7±172,1 metros. Obser-</p><p>vamos que os indivíduos percorreram uma distância inferior</p><p>ao previsto, com significância estatística (P=0,0096), con-</p><p>forme descrito na figura 2.</p><p>Figura 2: Compara-</p><p>ção entre a distância</p><p>prevista e a obtida</p><p>no teste de caminha-</p><p>da de seis minutos</p><p>por todos os compo-</p><p>nentes da amostra.</p><p>Valores descritos</p><p>em média±desvio</p><p>padrão. *Significância</p><p>estatística (P<0,05).</p><p>Dos 19 prontuários analisados, observamos que 14 in-</p><p>divíduos (9 mulheres e 5 homem) apresentavam condições</p><p>favoráveis no período de 6,8±1,2 anos após alta do tratamen-</p><p>to fisioterapêutico, dos quais 29% seguiram praticando ativi-</p><p>dade física e apenas 7% necessitou de internação hospitalar,</p><p>porém os motivos da hospitalização não tiveram relação com</p><p>a condição cardiovascular.</p><p>A média de idade desses sujeitos foi de 51,5±17,9 anos.</p><p>A distância percorrida no TC6M foi de 451,7±166,2 metros</p><p>obtendo 85,9% do previsto não apresentando diferenças sig-</p><p>nificativas (P=0,1347), conforme apresentado na figura 3.</p><p>Figura 3: Compara-</p><p>ção entre a distância</p><p>prevista e a obtida</p><p>no teste de caminha-</p><p>da de seis minutos</p><p>pelos componentes</p><p>da amostra que não</p><p>evoluíram com óbi-</p><p>to. Valores descritos</p><p>em média±desvio</p><p>padrão.</p><p>Em cinco casos foi observado o de óbito como desfe-</p><p>cho (4 mulheres e 1 homem) tendo sido apontado em 100%</p><p>dos casos pelos familiares a IC com causa. A média de idade</p><p>desses sujeitos foi de 67,0±8,5 anos, o tempo entre a alta</p><p>do tratamento fisioterapêutico e o óbito foi de 4,4±1,1 anos</p><p>e a distância percorrida por esses indivíduos no TC6M foi</p><p>de 300,0±119,6 metros (59,9% do previsto) com diferença</p><p>significativa (P=0,0079) conforme apresentado na figura 4.</p><p>Figura 4: Compara-</p><p>ção entre a distância</p><p>prevista e a obtida</p><p>no teste de caminha-</p><p>da de seis minutos</p><p>pelos componentes</p><p>da amostra que evo-</p><p>luíram com óbito.</p><p>Valores descrito em</p><p>média±desvio pa-</p><p>drão. * Significância</p><p>estatística (P<0,05).</p><p>Discussão</p><p>O presente estudo teve como objetivo realizar uma aná-</p><p>lise retrospectiva quanto à existência de óbito em pacientes</p><p>cardiopatas que realizaram TC6M ambulatorialmente.</p><p>O TC6M é uma ferramenta útil no que diz respeito à ava-</p><p>liação da capacidade funcional, além de poder ser aplicado na</p><p>prática clínica como uma ferramenta de estratificação de risco</p><p>e avaliação da efetividade de programas de reabilitação, tendo</p><p>como grande fator positivo o fato de ser de fácil aplicabilida-</p><p>de, reprodutibilidade e de intensidade submáxima10.</p><p>A realização do TC6M é padronizada pela ATS6,7, porém</p><p>para obtenção dos valores previstos a serem percorridos por</p><p>cada indivíduo é sugerido pelo documento que seja utilizada</p><p>a equação proposta pelos pesquisadores Enright e Sherrill19,</p><p>porém essa equação não é aplicável a realidade da população</p><p>brasileira, por esse motivo em nosso estudo para quantifica-</p><p>ção da distância total a ser percorrida utilizamos a equação</p><p>proposta por Britto et al18 sendo a mesma específica e vali-</p><p>dada para a população estudada.</p><p>Nossos achados apontaram para uma elevada taxa de</p><p>óbito nos pacientes cardiopatas, em especial os portadores de</p><p>IC. Encontramos descrito na literatura um elegante estudo de-</p><p>senvolvido por estudo Mac Gowan et al20 que demonstraram</p><p>que pacientes portadores de IC submetidos ao teste de esforço</p><p>cardiopulmonar (ergoespirometria) que apresentavam consu-</p><p>mo de oxigênio de pico (VO2 pico) inferior à 15 mL O2/kg/min</p><p>apresentavam 88% chance de mortalidade em 3,8 anos, quan-</p><p>do comparados a pacientes com IC que apresentavam VO2 pico</p><p>maior que 15 mL O2/kg/min20. Esse achados são significativos</p><p>em virtude de o</p><p>VO2 pico</p><p>ser o padrão ouro no que diz respeito a</p><p>avaliação da capacidade aeróbica, que normalmente encontra-</p><p>-se consideravelmente deteriorada na presença da IC20.</p><p>É consolidado na literatura que o TC6M possui uma ampla</p><p>relação com o VO2 pico</p><p>9,1011,17, isso nos permite fazer uma inferên-</p><p>cia de que os indivíduos de nossa amostra que evoluíram com</p><p>óbito provavelmente apresentavam VO2 pico inferior a 15 mL O2/</p><p>kg/min sendo uma das possíveis justificativas para o falecimen-</p><p>to no período de 4,4±1,1 anos após a realização do TC6M.</p><p>A distância percorrida no TC6M foi utilizada por Cahalin</p><p>et al21. como ferramenta para predição do VO2 pico em portado-</p><p>res de IC além de avaliação de sobrevida. Participaram do pro-</p><p>tocolo 45 sujeitos com média de idade de 49±8 anos, com uma</p><p>fração de ejeção de ventrículo esquerdo (FEVE) de 20±6%,</p><p>em uma classe funcional da New York Heart Association</p><p>(NYHA) de 3,3±0,6 que foram submetidos à avaliação ergo-</p><p>espirométrica e ao TC6M. Foi observado que a distância per-</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>198</p><p>corrida foi de 310±100 metros e VO2 pico 12,2±4,5 mL/kg/min,</p><p>assim como em outros estudos a distância percorrida apresen-</p><p>tou correlação com o consumo de oxigênio (r=0.64, p<0.001).</p><p>Como desfecho verificado que os pacientes que caminhavam</p><p>distância inferior a 300 metros apresentavam maiores chances</p><p>de internação e óbito no período de seis meses.</p><p>Esses achados são similares aos descrito no Studies of</p><p>Left Ventricular Dysfunction (SLOVD) um estudo clássico</p><p>que apresenta a distância percorrida no TC6M em pacientes</p><p>com IC como sendo um importante índice de internação hos-</p><p>pitalar e também preditor de mortalidade, afirmando que dis-</p><p>tâncias caminhadas superiores à 450 metros são indicadores</p><p>de bom prognóstico e que distâncias entre 150 à 300 metros</p><p>caracterizam pior prognóstico. Esse estudo tornou-se impor-</p><p>tante na literatura científica por ter sido um dos pioneiros na</p><p>demonstração da distância percorrida no TC6M como variá-</p><p>vel independente de morbidade e mortalidade em pacientes</p><p>com IC, principalmente. Nossos resultados encontra-se em</p><p>consonância aos descritos no SLOVD.</p><p>Outro estudo que investigou o impacto da distância</p><p>percorrida no TC6M no valor prognóstico no que tange a</p><p>estratificação de risco foi o realizado por Ingle et al22, que</p><p>avaliaram uma população de 1.592 pacientes portadores de</p><p>IC, com média de idade de 74±2 anos e que foram acom-</p><p>panhado pelo período de 36 meses, onde observou-se uma</p><p>mortalidade de 13,3% ao longo do estudo apresentando uma</p><p>relação diretamente proporcional com a distância percorrida</p><p>no TC6M onde os indivíduos que caminharam uma distância</p><p>inferior a 300 metros evoluíram com a maior taxa de óbito,</p><p>um risco de aproximadamente 8% nos primeiros doze meses</p><p>e aproximadamente 12% em vinte quatro meses. Esses acha-</p><p>dos são condizentes aos encontrados em nosso estudo, po-</p><p>rém os componentes de nossa amostra evoluíram com óbito</p><p>em um período de tempo superior, aproximadamente meses.</p><p>Os estudos citados acima apresentam resultados que cor-</p><p>roboram aos encontrados pelo nosso grupo, uma vez que todos</p><p>os indivíduos que evoluíram com óbito em nossa população</p><p>apresentavam como causa morte a IC e não coincidentemente</p><p>caminharam uma distância no TC6M inferior à 300 metros, o</p><p>que ratifica a importância da utilização do TC6M como ferra-</p><p>menta de avaliação funcional e estratificação de risco.</p><p>Um dos mais elegantes trabalhos envolvendo o TC6M em</p><p>uma população de cardiopatas com doença arterial coronariana</p><p>(DAC) foi realizado por Beatty et al17. Eles avaliaram a distân-</p><p>cia percorrida no TC6M e capacidade de exercício em esteira de</p><p>556 pacientes ambulatoriais. Os indivíduos foram acompanha-</p><p>dos por 8,0 anos sendo definido como desfechos para eventos</p><p>cardiovasculares IC, infarto do miocárdio e óbito.</p><p>Ao dividir a distância percorrida em quartil (Q1 = 87 �</p><p>419 metros, Q2 = 420 � 480 metros, Q3 = 481 � 543 metros e</p><p>Q4 = 544 � 837 metros) observou-se que a distância percorri-</p><p>da no TC6M foi capaz de prever eventos cardiovasculares em</p><p>portadores de DAC e que os indivíduos que caminhavam dis-</p><p>tâncias entre 87 a 419 (Q1) metros apresentavam quatro vezes</p><p>maior a chance de eventos quando comparados aos indivíduos</p><p>que caminhavam distâncias entre 544 a 837 (Q4) metros.</p><p>Em uma análise comparativa aos resultados encontra-</p><p>dos em nosso estudo observamos que os indivíduos de nossa</p><p>amostra que não evoluíram com óbito encontram distribuídos</p><p>de acordo com Beatty no segundo quartil (Q 2) com uma dis-</p><p>tância média percorrida de 451,7 metros o que reduz em apro-</p><p>ximadamente 40% a chance de um dos desfechos descritos.</p><p>Já os indivíduos de nossa amostra que evoluíram com</p><p>óbito caminharam uma distância média de 300 metros o que</p><p>no processo de comparação os colocaria no primeiro quartil</p><p>(Q1) composto justamente pelos indivíduos que caminharam</p><p>a menor distância e apresentam o maior número percentual</p><p>de todos os desfechos incluindo óbito.</p><p>Limitações do estudo</p><p>Apesar do elevado número de prontuários revisados</p><p>encontramos um pequeno número de documentos elegíveis</p><p>para ingresso em nosso estudo, porém mesmo com núme-</p><p>ro reduzido foi possível perceber a importância da distância</p><p>percorrida no TC6M tendo o óbito como desfecho.</p><p>Outro fator limitante foi o fato de não encontrarmos des-</p><p>crito à classificação funcional da NYHA o que nos impossi-</p><p>bilitou de fazer maiores inferências entre a classe funcional,</p><p>a distância percorrida e o desfecho clínico.</p><p>Conclusão</p><p>Observamos que para a amostra avaliada o TC6M foi ca-</p><p>paz de estratificar o risco de óbito em pacientes cardiopatas</p><p>que percorreram distâncias inferiores à 300 metros estando de</p><p>acordo com as evidências previamente apontadas na literatura.</p><p>Sugerimos que o TC6M seja realizado como rotina de follow up</p><p>em pacientes cardiopatas em acompanhamento ambulatorial.</p><p>Referências</p><p>1. Reejhsinghani R, Shih HHJ, Lot! AS. Stem cell therapy in acute. Myocardial infarction. J Clin Exp</p><p>Cardiolog 2012, S:11.</p><p>2. Antus B. Pharmacotherapy of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Clinical Review. Clin Drug</p><p>Investig. 2013;36(11):865-875.</p><p>3. Morales-Blanhir JE, Palafox VCD, Rosas RMJ, García CMM, Londoño VA, Zamboni M. Teste de</p><p>caminhada de seis minutos: uma ferramenta valiosa na avaliação do comprometimento pulmonar. J</p><p>Bras Pneumol. 2011;37(1):110-117.</p><p>4. Barbosa BR, Almeida JM, Barbosa MR, Rossi-Barbosa LAR. Avaliação da capacidade funcional dos</p><p>idosos e fatores associados à incapacidade. Ciênc. saúde coletiva vol.19 n.8 Rio de Janeiro Aug. 2014.</p><p>5. Shoemaker MJ, Curtis, Vangsnes E, Dickinson MG. Triangulating Clinically meaningful change in</p><p>the six- minute walk test in individuals with chronic failure: a systematic review. Cardiopulm Phys</p><p>Ther J. 2012 Sep;23(3):5-15.</p><p>6. ATS Committee on Pro! ciency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories. ATS state-</p><p>ment: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166(1):111-7.</p><p>7. Anne E. Holland, Martijn A. Spruit, Thierry Troosters, Milo A. Puhan, Veronique Pepin, Didier Saey</p><p>et al. An of! cial European Respiratory Society/ American Thoracic Society Technical Standard: ! eld</p><p>walking tests in chronic respiratory disease. Eur Respir J. 2014;44(6):1428-46</p><p>8. Gorkin L, Norvel NK, Rosen RC, ED Charles, Sally A. Shumaker, Kevin M. McIntyre et al. Assess-</p><p>ment of quality of life of observed from the baseline data of the studies of left ventricular dysfunction</p><p>(SOLVD). Am J Cardiol. 1993;71:1069-1073.</p><p>9. Carter R, Holiday DB, Nwasuruba C, Stocks J, Grothues C, Tiep B. 6-minute walk work for assess-</p><p>ment of functional capacity in patients with COPD. Chest 2003; 123(5):1408-15.</p><p>10. Zilelinska D, Bellwon J, Rynkiewicz A, Elkady MA. Prognostic value of the six-minute walk</p><p>test in heart failure patients undergoing cardiac surgery: a literature review Rehabil Res Pract.</p><p>2013;2013:965494. doi: 10.1155/2013/965494. Epub 2013 Jul 24.</p><p>11. Zanini A, Chetta A, Gumiero F, Patrona SD,</p><p>Casale S, Zampogna E, et al.. Six-minute walking dis-</p><p>tance improvement after pulmonary rehabilitation is associated with baseline lung function in com-</p><p>plex COPD patients: a retrospective study. Biomed Res Int. 2013;2013:483162.</p><p>12. Martin C, Chapron J, Hubert D, Kanaan R, Honoré I, Paillasseur JL, et al.Prognostic value of six</p><p>minute walk test in cystic ! brosis adults. Respir Med. 2013;107(12):1881-7.</p><p>13. Sant� Anna M Jr. Six Minute Walk Test: Functional Evaluation and Prognosis in Heart Failure. J Nov</p><p>Physiother Phys Rehabil. 2015;2(2):69-69.</p><p>14. Tabata M, Shimizu R, Kamekawa D, Kato M, Kamiya K, Akiyama A et al. Six-minute walk distance</p><p>is an independent predictor of hospital readmission in patients with chronic heart failure. Int Heart J.</p><p>2014;55(4):331-6.</p><p>15. Palau P, Domínguez E, Núñez E, Sanchis J, Santas E, Núñez J. Six-minute walk test in moderate to</p><p>severe heart ailure with preserved ejection fraction: Useful for functional capacity assessment? Int J</p><p>Cardiol. 2016 Jan 15;203:800-2. doi: 10.1016/j.ijcard.2015.11.074. Epub 2015 Nov 10.</p><p>16. Ribeiro A, Younes C, Mayer D, Fréz AR, Riedi C. Teste de caminhada de seis minutos para avaliação</p><p>de mulheres com fatores de risco cardiovascular. Fisioter. Mov. 2011 out/dez;24(4):713-9.</p><p>17. Beatty AL, Schiller NB, Whooley MA. Six-minute walk test as a prognostic tool in stable coronary</p><p>heart disease: data from the heart and soul study. Arch Intern Med. 2012 Jul 23;172(14):1096-102.</p><p>doi: 10.1001/archinternmed.2012.2198.</p><p>18. Britto RR, Probst VS, Andrade AFD, Samora GAR, Hernandes NA, Marinho PEM , et al. Reference</p><p>equations for the six-minute walk distance based on a Brazilian multicenter study. Braz J Phys Ther.</p><p>2013 Nov-Dec; 17(6):556-563.</p><p>19. Enright PL, Sherrill DL. Reference equations for the six-minute walk in healthy adults. Am J Respir</p><p>Crit Care Med. 1998 Nov;158(5 Pt 1):1384-7.</p><p>20. MacGowan GA, Janosko K, Cechetti A, Murai S. Exercise-related ventilatory abnormalities and</p><p>survival in congestive heart failure. Am J Cardiol 1997; 79:1264-6.</p><p>21. Caralin LP,Mathier MA, Semigran MJ, Dec GW, DiSalvo TG.The Six-Minute Walk Test Predicts Peak</p><p>Oxygen Uptake and Survival in Patients With Advanced Heart Failure. Chest 123:1408-1415;2003.</p><p>22. Ingle L, Rigby AS, Carroll S, Butterly R, King RF, Cooke CB, et al. Prognostic value of the 6 min</p><p>walk test and self-perceived symptom severity in older patients with chronic heart failure. Eur Heart</p><p>J.2007;28(5):560-8.</p><p>199</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Artigo Original</p><p>Fisioterapia oculomotora</p><p>no tratamento da presbiopia</p><p>Oculomotor physiotherapy in the treatment of presbyopia</p><p>Dominique Babini Lapa de Albuquerque1, Nathielly Carolina Silva Gonçalves2, Paulo Henrique de Melo3</p><p>Resumo</p><p>Introdução: A presbiopia é a mais comum das desordens refrativas da vida adulta,</p><p>estando relacionada à diminuição da amplitude de acomodação. A presbiopia pode</p><p>prejudicar a capacidade do indivíduo em realizar as atividades de vida diária e profis-</p><p>sional relacionadas à leitura e realização de atividades manuais precisas. O tratamen-</p><p>to fisioterapêutico consiste basicamente em dar tônus à musculatura, proporcionando</p><p>uma melhor interação entre o indivíduo, suas funções e o ambiente que o cerca. Ob-</p><p>jetivo: Investigar a eficácia da fisioterapia oculomotora como recurso terapêutico no</p><p>tratamento de pacientes com presbiopia. Metodologia: O grupo de estudo foi consti-</p><p>tuído por 10 indivíduos, de ambos os gêneros, na faixa etária entre 40 e 50 anos, com</p><p>diagnóstico clínico de presbiopia, avaliados e submetidos a 20 sessões de Fisioterapia</p><p>compostas pelas seguintes condutas: movimentos oculares horizontais, verticais, dia-</p><p>gonais e espirais com e sem ponto, zigue zague, ponto em três direções, exercícios com</p><p>a ponta do lápis, cartelas de três e dez bolas e figuras de sobreposições. Para análise es-</p><p>tatística utilizou-se o Teste de student, com nível de significância de 5%. Resultados:</p><p>Foi verificada redução de todos os sintomas que acompanham a presbiopia avaliados,</p><p>com destaque para dificuldade em focalizar objetos próximos (p:0,005), cansaço visual</p><p>durante a leitura (p:0,014), dor ocular (p:0,036) e cefaleia (p:0,039). Considerações</p><p>Finais: A fisioterapia oculomotara através do protocolo de tratamento proposto pare-</p><p>ceu ser eficaz no tratamento da presbiopia, melhorando a capacidade de realização das</p><p>atividades diárias e laborais de maior precisão.</p><p>Palavras-chave: presbiopia, acomodação ocular, músculos oculomotores, fisioterapia.</p><p>Abstract</p><p>Introduction: Presbyopia is the most common refractive disorder of adulthood and is</p><p>associated with decreased amplitude of accommodation. Presbyopia can impair the</p><p>ability of the individual to perform their activities of daily and professional life related</p><p>to reading and performing precise manual activities. The physiotherapeutic treatment</p><p>primarily consists of giving tone to the musculature, providing a better interaction be-</p><p>tween the individual, their functions and the surrounding environment. Objective: To</p><p>investigate the efficacy of oculomotor physiotherapy as a therapeutic resource to treat</p><p>patients with presbyopia. Methodology: The study sample consisted of 10 individuals,</p><p>of both genders, aged between 40 and 50 years, with clinical diagnosis of presbyo-</p><p>pia, evaluated and submitted to 20 physiotherapy sessions composed of the following</p><p>exercises: horizontal, vertical, diagonal and spiral eye movements with and without</p><p>point, zig zag, point in three directions, exercises with the point of a pencil, cards of</p><p>three and ten balls and overlapping figures. Statistical analysis was performed using</p><p>Student�s t-test, with 5% significance level. Results: A reduction of all symptoms that</p><p>accompany the evaluated presbyopia was verified, especially regarding difficulty fo-</p><p>cusing on near objects (p=.005), eye strain while reading (p=.014), eye pain (p=.036)</p><p>and headache (p=.039). Conclusion: Oculomotor physiotherapy through the proposed</p><p>treatment protocol appeared to be effective in treating presbyopia, improving the abili-</p><p>ty to perform daily activities and more precise work.</p><p>Keywords: presbyopia, ocular accommodation, oculomotor muscles, physiotherapy.</p><p>1. Fisioterapeuta, Doutoranda em Saúde da</p><p>Criança e do Adolescente pela Universidade</p><p>Federal de Pernambuco (UFPE) / Mestre em</p><p>Educação pela Universidade de São Paulo</p><p>(USP), Coordenadora do Curso de Fisiotera-</p><p>pia da Faculdade de Comunicação e Turismo</p><p>de Olinda (FACOTTUR), Docente do Centro</p><p>Universitário Maurício de Nassau (UNINAS-</p><p>SAU), Recife, PE-Brasil, e-mail: dbabini.! sio-</p><p>terapeuta@gmail.com</p><p>2. Fisioterapeuta, graduada pelo Centro Universi-</p><p>tário Maurício de Nassau (UNINASSAU), Re-</p><p>cife, PE-Brasil, e-mail: nathiellygoncalves@</p><p>gmail.com</p><p>3. Fisioterapeuta, graduado pelo Centro Univer-</p><p>sitário Maurício de Nassau (UNINASSAU),</p><p>Recife, PE-Brasil, e-mail: e-mail: pauldmelo@</p><p>gmail.com</p><p>Endereço para correspondência: Rua do Futu-</p><p>ro, 800, apt. 203 � A" itos � Recife � Pernam-</p><p>buco � Brasil � CEP: 52050-010.</p><p>Recebido para publicação em 05/09/2017 e acei-</p><p>to em 10/11/2017, após revisão.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>200</p><p>Introdução</p><p>O olho normal, sem vício de refração, é um sistema ópti-</p><p>co composto pela córnea e o cristalino. A córnea é a primeira</p><p>lente deste sistema óptico e está localizada na parte externa</p><p>do olho. O cristalino é uma lente natural interna, dentro do</p><p>olho, e somente pode ser vista ou examinada com aparelhos</p><p>específicos1,2. Enquanto a córnea é uma estrutura estática,</p><p>sem capacidade de modificar a sua forma e, portanto o seu</p><p>poder como lente de um sistema óptico, o cristalino é uma</p><p>lente dinâmica modificando a sua forma, permitindo focali-</p><p>zar a visão para diferentes distâncias. A este mecanismo cha-</p><p>mamos de acomodação3,4.</p><p>Porém, o cristalino sofre deterioração com o tempo, ou</p><p>seja, a capacidade que o ser humano tem de acomodação da</p><p>visão ativamente para perto se extingue entre os 40 a 50 anos</p><p>de idade e recebe o nome de presbiopia,</p><p>atingindo 100% da</p><p>população desta faixa etária5,6. A presbiopia é a mais comum</p><p>das desordens refrativas da vida adulta, estando relacionada</p><p>à diminuição da amplitude de acomodação7,8.</p><p>Em indivíduos emétropes, a presbiopia se manifesta em</p><p>torno dos 40 anos, havendo necessidade de óculos para lei-</p><p>tura ou lentes de contato. Os sintomas começam com uma</p><p>dificuldade em focalizar objetos próximos e avançam com</p><p>cansaço visual durante a leitura, às vezes acompanhado</p><p>de ardência ocular e lacrimejamento9,10. Apesar dos custos</p><p>anuais acarretados por este problema, as causas básicas da</p><p>presbiopia ainda restam inexplicadas. Quando se consideram</p><p>várias possibilidades, qualquer teoria proposta deve levar em</p><p>consideração o conhecido declínio da habilidade ocular de</p><p>alterar o seu foco com a idade11,12.</p><p>O tratamento desta disfunção pode ser conservador, atra-</p><p>vés do uso de óculos ou lentes de contato ou cirúrgico por</p><p>meio da realização de lensectomia refrativa13,14,15. Há alguns</p><p>anos a Fisioterapia passou a ser mais uma opção terapêutica</p><p>no tratamento da presbiopia, sendo conhecida como fisiote-</p><p>rapia oculomotora ou oftalmológica, que faz uso de exercí-</p><p>cios musculares, equipamentos eletrônicos e ferramentas de</p><p>estimulação motora e sensorial, como lentes prismáticas e</p><p>filtros, para corrigir distúrbios da visão e resgatar a capaci-</p><p>dade visual dos pacientes16.</p><p>O tratamento fisioterapêutico consiste basicamente em</p><p>dar tônus à musculatura, proporcionando uma melhor intera-</p><p>ção entre o indivíduo, suas funções e o ambiente que o cerca.</p><p>Além da presbiopia, a fisioterapia oculomotora atua no tra-</p><p>tamento de diversos transtornos oculares, como estrabismo,</p><p>alterações sensoriais, estereopsia, ambliopia, adaptação de</p><p>lentes de contato, fotofobia, distúrbios de leitura, baixa de</p><p>visão por miopia, astigmatismo e hipermetropia acentuados,</p><p>lesões oculares causadas por paralisias faciais e diabetes e na</p><p>readaptação de moradia, locomoção e vida profissional de</p><p>portadores de deficiência visual16.</p><p>A presbiopia se constitui em um importante problema</p><p>de saúde pública, devido à sua elevada frequência, à existên-</p><p>cia de meio corretivo disponível e às limitações funcionais</p><p>e implicações mórbidas que interferem com a qualidade de</p><p>vida dos indivíduos, principalmente quando os constantes</p><p>avanços tecnológicos demandam progressivamente de boa</p><p>higidez visual para perto17,18, justificando, assim, a realização</p><p>desta pesquisa que objetivou investigar a eficácia da fisiote-</p><p>rapia oculomotora como recurso terapêutico no tratamento</p><p>de pacientes com presbiopia.</p><p>Metodologia</p><p>Trata-se de um estudo experimental, analítico e prospec-</p><p>tivo, do tipo série de casos, o qual foi constituído por uma</p><p>amostra de 10 indivíduos, de ambos os gêneros, na faixa en-</p><p>tre 40 e 50 anos, com diagnóstico clínico de presbiopia.</p><p>Foram excluídos do estudo indivíduos que apresentaram am-</p><p>bliopia, astigmatismo e estrabismo, baixo nível cognitivo, e/ou</p><p>que realizaram tratamento cirúrgico para correção da presbiopia.</p><p>A pesquisa foi desenvolvida na Clínica-Escola de Fisiote-</p><p>rapia do Centro Universitário Maurício de Nassau após a ob-</p><p>tenção de parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa,</p><p>segundo o parecer de nº 09071413.6.0000.5193, e assinatura</p><p>do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, atendendo a</p><p>Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.</p><p>Os participantes foram submetidos a uma avaliação ela-</p><p>borada pelas pesquisadoras do estudo, a fim de coletar seus</p><p>dados pessoais (nome, idade, gênero, estado civil, raça), pro-</p><p>fissionais (profissão, atividade atual, tempo de serviço), so-</p><p>cioeconômicos (renda per capita e escolaridade) e condições</p><p>visuais (percepção da higiene visual, tempo de dificuldade</p><p>visual e recomendação de correção visual).</p><p>Foi investigada também a presença de sintomas associa-</p><p>dos à presbiopia, a saber: dificuldade em focalizar objetos</p><p>próximos, cansaço visual durante a leitura, ardência ocular,</p><p>lacrimejamento, dor nos olhos, cefaleias, dificuldade em ler</p><p>letras pequenas na distância habitual, borramento da imagem</p><p>e dificuldade em ler com pouca luz.</p><p>Posteriormente, os participantes foram submetidos a 20</p><p>sessões de Fisioterapia Oculomotora, realizadas 02 vezes por</p><p>semana, com duração de 40 minutos cada. As sessões foram</p><p>compostas pelas seguintes condutas: movimentos oculares ho-</p><p>rizontais, verticais, diagonais e espirais com e sem ponto, zi-</p><p>gue zague, ponto em três direções, exercícios com a ponta do</p><p>lápis, cartelas de três e dez bolas e figuras de sobreposições.</p><p>Ao final do tratamento os pacientes foram reavaliados,</p><p>a fim de se verificar possíveis alterações na sintomatologia</p><p>apresentada pelos mesmos. Os dados coletados foram avalia-</p><p>dos segundo a estatística descritiva, através de percentuais,</p><p>médias e desvios padrões, representados através da distribui-</p><p>ção tabular e gráfica, utilizando-se a Microsoft Excel 2010.</p><p>Para análise das diferenças estatísticas dos escores das cate-</p><p>gorias antes e depois da fisioterapia, foi aplicado o Teste de</p><p>student, considerando-se um p<0,05.</p><p>Resultados</p><p>Entre os participantes da amostra, houve predominância</p><p>do gênero feminino (70.0%), estado civil casado (60.0%) e</p><p>raça branca (40.0%). Os indivíduos apresentaram idade va-</p><p>riando entre 41 e 48 anos, com média de 44,8±3,15 anos.</p><p>A avaliação das condições visuais dos participantes da</p><p>pesquisa pode ser evidenciada na tabela 1. Com relação à</p><p>percepção da higiene visual, 40.0% dos pacientes relataram</p><p>dificuldade para enxergar de perto e de longe, em sua maio-</p><p>ria, iniciada acerca de 6 a 10 anos (60.0%). Todos fazem uso</p><p>201</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>de correção visual, sendo 80.0% do tipo óculos, recomenda-</p><p>dos pelo médico.</p><p>Tabela 1: Condições visuais.</p><p>Variáveis (%) n=10</p><p>Percepção da higiene visual:</p><p>Normal -</p><p>Dificuldade para perto 40.0</p><p>Dificuldade para longe 20.0</p><p>Ambos 40.0</p><p>Tempo da dificuldade visual:</p><p>De 1 a 5 anos 30.0</p><p>De 6 a 10 anos 60.0</p><p>Mais de 10 anos 10.0</p><p>Uso de correção visual:</p><p>Sim 100.0</p><p>Não -</p><p>Tipo de correção visual:</p><p>Óculos 80.0</p><p>Lentes de contato -</p><p>Ambos 20.0</p><p>Recomendação de correção visual:</p><p>Médico 80.0</p><p>Balconista da ótica 20.0</p><p>Familiar -</p><p>Outros -</p><p>Após o término do tratamento fisioterapêutico, houve re-</p><p>dução estatística significativa da presença dificuldade em fo-</p><p>calizar objetos próximos (p:0,005), bem como, da sensação de</p><p>cansaço visual (p:0,014). Antes do tratamento os participantes</p><p>referiram cansaço visual após 32,3 minutos de leitura, aumen-</p><p>tando para 56,5 minutos ao término do tratamento.</p><p>O sintoma de dor nos olhos também apresentou redução</p><p>estatística significativa após a fisioterapia (p:0,036). A inten-</p><p>sidade e a frequência de dor ocular diminuiram de 8,4 para</p><p>4,7 e de 4,1 para 3,1 dias por semana, respectivamente.</p><p>A maior parte dos participantes apresentou queixa de ce-</p><p>faleia associada à leitura. Após o tratamento fisioterapêutico</p><p>houve redução estatística significativa deste sintoma (p:0,039),</p><p>conforme a figura 4. A intensidade e a frequência semanal de</p><p>cefaleia também diminuíram ao termino da fisioterapia, de 7,8</p><p>para 5,1 e de 4,6 para 3,5 dias por semana, respectivamente.</p><p>Outros sintomas associados à presbiopia também diminuí-</p><p>ram após a fisioterapia oculomotora, de acordo com a tabela 2.</p><p>Houve redução estatística significativa das queixas de ardência</p><p>ocular e lacrimejamento durante a leitura. Para os outros sinto-</p><p>mas não foram verificadas diferenças estatísticas significativas.</p><p>Tabela 2: Variáveis do exame ocular antes e depois da fi-</p><p>sioterapia.</p><p>Variáveis (%) Antes Depois Valor de p</p><p>Dificuldade em focalizar</p><p>objetos próximos 100.0 40.0 0.005*</p><p>Sensação de cansaço visual 100.0 50.0 0.014*</p><p>Dor nos olhos 70.0 30.0 0.036*</p><p>Cefaleia 70.0 40.0 0.039*</p><p>Ardência ocular 80.0 40.0 0.036*</p><p>Lacrimejamento 70.0 30.0 0.036*</p><p>Dificuldade em ler letras</p><p>pequenas na distância habitual 60.0 30.0 0.081*</p><p>Borramento da imagem 40.0 10.0 0.081*</p><p>Dificuldade em ler com pouca luz 60.0 40.0 0.167*</p><p>Discussão</p><p>A presbiopia representa a causa mais frequente de</p><p>dis-</p><p>túrbios da visão após os 40 anos de idade19. No Brasil, em um</p><p>estudo de base ambulatorial verificou-se uma prevalência de</p><p>presbiopia de 75% em indivíduos com idade superior a 40</p><p>anos20, corroborando com a presente pesquisa, cuja idade</p><p>média dos participantes foi de 44,8±3,15 anos.</p><p>Diversos estudos apontam a prevalência de mulheres com</p><p>presbiopia em todas as faixas etárias consideradas, principal-</p><p>mente quando o aparecimento deste agravo é precoce20,21,22, em</p><p>acordo com os resultados obtidos neste estudo, cujo percentual</p><p>de mulheres com presbiopia representou 70,0% da amostra.</p><p>Estudos epidemiológicos sobre presbiopia investigaram</p><p>sua associação com diferentes fatores além da idade e do gê-</p><p>nero, como a paridade, a condição socioeconômica e a raça,</p><p>mas para nenhum dos fatores há um consenso23,24.</p><p>Duarte et al.20 em seu estudo verificaram que 80,7% da</p><p>amostra foi composto por pacientes da raça branca. Já Ka-</p><p>mali et al.25 em um inquérito de base populacional com 2.886</p><p>adultos do meio rural de Uganda, identificou uma prevalên-</p><p>cia de 48% para esta disfunção, o que reforça a falta de con-</p><p>senso na literatura. Na presente pesquisa 40,0% da amostra</p><p>foi composta por pacientes da raça branca.</p><p>Com relação às variáveis relacionadas à condição visual,</p><p>80,0% dos pacientes referiram dificuldade para enxergar de</p><p>perto, corroborando com o estudo de Borreli et al.26, que ve-</p><p>rificaram dificuldade para ver objetos próximos em 79,75%</p><p>da amostra investigada.</p><p>Na pesquisa de Duarte et al.20, 70,0% dos pacientes com</p><p>presbiopia referiram que a dificuldade para ver de perto foi</p><p>percebida entre 1 e 10, enquanto que neste estudo a alteração</p><p>foi iniciada acerca de 6 a 10 anos (60,0%).</p><p>Quanto ao uso de correção visual, todos os participantes</p><p>da pesquisa referiram utilizá-la, sendo 80,0% do tipo óculos,</p><p>recomendados pelo médico. Outras pesquisas registraram uso</p><p>menos frequente de auxílio óptico, em torno de 50 a 60%, com</p><p>destaque para o uso de óculos e/ou lentes de contato20,26.</p><p>Dentre as principais queixas de pacientes com presbio-</p><p>pia estão a sensação de cansaço visual, a cefaleia e o borra-</p><p>mento visual para perto7,27,28, corroborando com a presente</p><p>pesquisa, na qual estes sintomas acometeram 100,0%, 70,0%</p><p>e 40,0% da amostra, respectivamente.</p><p>A queixa de dificuldade em focalizar objetos próximos</p><p>foi referida por todos os participantes deste estudo, valor su-</p><p>perior ao encontrado por Duarte et al.20 de 59,1% da amostra</p><p>de sua pesquisa.</p><p>O Manual de Orientações da Triagem de Acuidade Visu-</p><p>al do Projeto Olhar Brasil, do Ministério da Saúde10, descre-</p><p>ve que os principais sintomas que acompanham a presbiopia</p><p>incluem o lacrimejamento e a dor ocular, corroborando com</p><p>esta pesquisa, na qual estes sintomas acometeram 70,0% e</p><p>80,0% da amostra, respectivamente.</p><p>Borrelli et al.26 referem que o tamanho das letras é a princi-</p><p>pal causa da dificuldade para leituras de perto (45,25%), queixa</p><p>esta relatada por 40,0% dos pacientes do presente estudo.</p><p>Foi observada redução de todos os sintomas que acom-</p><p>panham a presbiopia avaliada nesta pesquisa após a realiza-</p><p>ção de fisioterapia oculomotora. Não foram encontrados na</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>202</p><p>literatura estudos experimentais sobre o tratamento fisiotera-</p><p>pêutico na presbiopia para efeitos comparativos.</p><p>Rotnes et al.29, destacam a importância de uma estraté-</p><p>gia fisioterapêutica específica através da utilização dos mo-</p><p>vimentos oculares para amenizar as deficiências provenien-</p><p>tes do comprometimento da função motora em indivíduos</p><p>com ataxia cerebelar.</p><p>Albuquerque, Oliveira e Costa30 salientam a relevância do</p><p>papel assistencial da Fisioterapia, através da implantação de</p><p>um laboratório de mobilidade ocular extrínseca, em Goiânia</p><p>� GO, para o tratamento de pacientes com desvios oculares,</p><p>em particular a esotropia congênita causada pela ambliopia</p><p>estrabísmica, contribuindo para a prevenção da cegueira.</p><p>Considerações Finais</p><p>Os resultados obtidos sugerem que a fisioterapia oculo-</p><p>motora pareceu ser eficaz para a redução dos sintomas asso-</p><p>ciados à presbiopia, com destaque para a redução da dificul-</p><p>dade de focalizar objetos próximos, cansaço visual durante a</p><p>leitura, dor ocular e cefaleia, apontando para a importância do</p><p>tratamento fisioterapêutico nas desordens refrativas do adulto.</p><p>A capacidade de acomodação da visão é fundamental</p><p>para a execução da maior parte das atividades diárias e labo-</p><p>rais do ser humano, o que reforça a importância da atuação</p><p>fisioterapêutica nos distúrbios visuais, contribuindo para a</p><p>melhora da qualidade de vida dos pacientes acometidos.</p><p>Vale ressaltar que esta é uma área recente de atuação</p><p>do profissional fisioterapeuta, o que implica na necessidade</p><p>de maior conhecimento da classe e da sociedade sobre as</p><p>disfunções oculares, bem como, sobre as contribuições da</p><p>terapia oculomotora para redução dos sintomas associados a</p><p>estas doenças.</p><p>Os achados do presente estudo também colaboraram</p><p>para a ampliação da literatura sobre o tema, visto que não fo-</p><p>ram encontrados estudos na literatura nacional e internacio-</p><p>nal sobre a atuação fisioterapêutica na presbiopia, e poucos</p><p>estudos sobre o tratamento de outros distúrbios oculares.</p><p>Sugere-se, assim, a realização de pesquisas futuras que</p><p>abordem o tema com amostras de maior tamanho, maior</p><p>tempo de reabilitação, inclusão de grupos controle e análise</p><p>da influência das variáveis: idade, gênero, atividade laboral e</p><p>hábitos de leitura na intensidade dos sintomas referidos pelos</p><p>pacientes e resultados do tratamento proposto.</p><p>Referências</p><p>1. Schachar RA. The mechanism of accommodation and presbyopia. Int Ophthalmol Clin.</p><p>2006; 46:39-61.</p><p>2. Charman N. The eye in focus: accommodation and presbyopia. Clin Exp Optom. 2008;</p><p>91: 207�25.</p><p>3. Glasser A, Croft MA, Kaufman PL. Aging of the human crystalline lens and presbyopia.</p><p>Int Ophthalmol Clin. 2001; 41:1-15.</p><p>4. Werner L, Trindade F, Pereira F, Werner L. Fisiologia da acomodação e presbiopia. Arq</p><p>Bras Oftalmol. 2000; 63(6):487-93.</p><p>5. Kasthurirangan S, Glasser A. Age related changes in accommodative dynamics in hu-</p><p>mans. Vision Res. 2006; 46:1507-19.</p><p>6. Weale RA. Epidemiology of refractive errors and presbyopia. Surv Ophthalmol 2003;48:</p><p>515�543.</p><p>7. Dubbelman M, Van der Heijde G L, Weeber H A. Change in shape of the aging human</p><p>crystalline lens with accommodation. Vision Research. 2005; 45:117-32.</p><p>8. Eichenbaum JW, Simmons DH, Velazquez C. The correction of presbyopia: a prospective</p><p>study. Ann Ophthalmol. 1999; 31(3):81-84.</p><p>9. Strenk SA, Strenk LM, Koretz JF. The mechanism of presbyopia. Prog Retin Eye Res</p><p>2005; 24:379-93.</p><p>10. Ministério da Saúde - MS. Projeto Olhar Brasil. Triagem de Acuidade Visual � Manual</p><p>de Orientação. Brasília, 2008.</p><p>11. Glasser A, Campbell MCW. Presbyopia and the optical changes in the human crystalline</p><p>lens with age. Vision Res. 1998; 38(2):209-29.</p><p>12. Nirmalan PK, Krishnaiah S, Shamanna BR, Rao GN, Thomas R. A population-based</p><p>assessment of presbyopia in the state of Andhra Pradesh, south India: the Andhra Pradesh</p><p>Eye Disease Study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006; 47:2324�8.</p><p>13. Callina T, Reynolds TP. Traditional methods for the treatment of presbyopia: spectacles,</p><p>contact lenses, bifocal contact lenses. Ophthalmol Clin North Am. 2006; 19:25-33.</p><p>14. Schachar RA. The correction of presbyopia. Int Ophthalmol Clin. 2001;41:53-70.</p><p>15. Patel I, Munoz B, Burke AG, Kayongoya A, Mchiwa W, Schwarzwalder AW, et al. Im-</p><p>pact of Presbyopia on Quality of Life in a Rural African Setting. Ophthalmol. 2006;</p><p>113(5): 728-734.</p><p>16. Dias MA. Fisioterapia Oculomotora: Avaliação, Patologia e Tratamento. Fisioterapia</p><p>Ocular serial on the internet 2009 cited 2013 Out. 15. Available from: URL:www.! siote-</p><p>rapiaocular.blogspot.com.br.</p><p>17. Burke AG, Patel I, Munoz B, Kayongoya A, Mchiwa W, Schwarzwalder AW, et al.</p><p>Prevalence of presbyopia in rural Tanzania: a population-based study. Ophthalmol.</p><p>2006;113:723�7.</p><p>18. Ramke J, du Toit R, Palagyi A, Brian G, Naduvilath T. . Correction of refractive error and</p><p>presbyopia in Timor-Leste. Br J Ophthalmol. 2007;91:860�66</p><p>19. Patel I,West SK. Presbyopia: prevalence, impact and interventions. Community Eye He-</p><p>alth, 2007; 20:40�41.</p><p>20. Duarte WR, Barros AJ, Dias-da-Costa JS, Cattan JM. Prevalence of near vision de! -</p><p>ciency and related factors: a population-based study. Cad Saude Publica. 2003;19:551�9.</p><p>21. Ferraz CA, Allemann N, Chaman W. Avaliação de lente intra-ocular fáscica para a corre-</p><p>ção da presbiopia. Arq. Bras. Oftalmol. 2007; 70(4):603-8.</p><p>22. Pointer JS. Broken down by age and sex. The optical correction of presbyopia revisited.</p><p>Ophthalmic and Physiological Optics. 1995;15:439-43.</p><p>23. Hunter H Jr, Shipp M. A study of racial differences in age at on set and progression of</p><p>presbyopia. J Am Optom Assoc. 1997;68:171-77.</p><p>24. Blystone PA. Relationship between age and presbyopic addition using a sample of 3.645</p><p>examinations from a single private practice. J Am Optom Assoc. 1999;70:505-8.</p><p>25. Kamali A, Whitworth JA, Ruberantuari A, Mulwanyi F, Acakara M, Dolia P, et al. Causes</p><p>and prevalence of non-vision impairing ocular conditions among a rural adult population</p><p>in SW Uganda. Ophthalmic Epidemiology. 1999;6(1):41-8.</p><p>26. Borrelli M, Rehder JR, Squarcino IM, Gonçalves AM, Piaia FA, Fernandes PK, et al.</p><p>Avaliação da qualidade da visão, na prática da leitura diária, em relação à formatação dos</p><p>textos. Rev Bras Oftalmol. 2010;69(2):114-20.</p><p>27. McDonnell PJ, Lee P, Spritzer K, Lindblad AS, Hays RD. Associations of presbyopia</p><p>with vision-targeted health-related quality of life. Arch Ophthal. 2003;121:1577�81.</p><p>28. McMillan ES, Elliott DB, Patel B, Cox M. Loss of visual acuity is the main reason why</p><p>reading addition increases after the age of sixty. Optom Vis Sci. 2001;78:381�5.</p><p>29. Rotnes WGV, Orsini M, Bastos VH, Freitas MRG, Nascimento O, Mello MP, et al.</p><p>Utilização dos movimentos oculares no tratamento de ataxia cerebelar na Doença de</p><p>Machado-Joseph. Rev Neurocienc. 2008;16(1):53-61.</p><p>30. Albuquerque MC, Oliveira FB, Costa AP. Resultados iniciais da implantação de um la-</p><p>boratório de mobilidade ocular extrínseca � ortóptica para capacitação e atuação na área</p><p>de ! sioterapia ocular na clínica escola da Eseffego em Goiânia, Goiás, Brasil. Anais VI</p><p>Encontro de Projetos de Iniciação Cientí! ca da UEFG; 2006; Goiânia, Brasil. Goiânia,</p><p>Centro de Estudos em Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás; 2006. p.5-12.</p><p>203</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Artigo Original</p><p>Modificações de função pulmonar</p><p>mediante treinamento físico</p><p>Modifications of pulmonary function through physical training</p><p>M. S. Pinto1, K. Marques2, Araújo L.D.2, P. M. Sá3</p><p>Resumo</p><p>Introdução: A relação entre atividade física e saúde está bem estabelecida.</p><p>Durante a execução do exercício físico. A resposta ao treinamento da musculatura</p><p>respiratória é semelhante à dos músculos esqueléticos e estes podem ser treinados</p><p>a fim de melhorarem a sua força e endurance. O baixo desempenho dos músculos</p><p>respiratórios contribui para limitação física e desenvolvimento de doenças. Obje-</p><p>tivo: O objetivo deste estudo foi avaliar as modificações de função pulmonar me-</p><p>diante emprego de treinamento aeróbico em indivíduos saudáveis. Metodologia:</p><p>A avaliação seguiu-se de: questionário avaliação de sinais e sintomas respiratórios</p><p>e clínicos. Avaliação da força muscular respiratória e medição do Volume Minuto</p><p>e Volume Corrente. O protocolo de treino consistiu de 10 minutos de aquecimento,</p><p>40 minutos de treinamento aeróbico e de fortalecimento muscular periférico e 10</p><p>minutos de desaquecimento com alongamentos. Resultados: 4 voluntárias par-</p><p>ticiparam do estudo. Não foram observadas modificações significativas entre os</p><p>grupos estudados, assim como não houve correlação com os fatores de risco ou a</p><p>menor frequência de treinamento entre os participantes. Conclusão: O protocolo</p><p>empregado não influenciou na função pulmonar dos sujeitos estudados.</p><p>Palavras-chave: treinamento físico, função pulmonar, sujeitos saudáveis.</p><p>Abstract</p><p>Introduction: The relationship between physical activity and health is well</p><p>established. During the execution of the exercise, the answer to the training of</p><p>the respiratory muscles is similar to the skeletal muscles and these can be trained</p><p>to improve their strength and endurance. The inadequate performance of the res-</p><p>piratory muscles contributes to physical limitation and development of disease.</p><p>Objective: The objective of this study was to evaluate the changes in lung func-</p><p>tion by use of aerobic training in healthy subjects. Methodology: The evaluation</p><p>was followed by: questionnaire evaluation of respiratory signs and symptoms and</p><p>clinical. Evaluation of respiratory muscle strength and measurement of minute</p><p>volume and tidal volume. The training protocol consisted of 10 minutes of heating</p><p>40 minutes of aerobic training and peripheral muscle strengthening and 10-minute</p><p>cool-down with stretching. Results: 4 volunteers participated in the study. signi-</p><p>ficant changes between groups were observed, and there was no correlation with</p><p>risk factors or the lower frequency of training among participants. Conclusion:</p><p>The protocol used showed no effect on lung function of the subjects studied.</p><p>Keywords: physical training, lung function, health subjects.</p><p>1. Discente da Universidade Castelo Branco, Rio</p><p>de Janeiro, Brasil</p><p>2. Docente da Universidade Castelo Branco, Rio</p><p>de Janeiro, Brasil</p><p>3. Pesquisador associado do Laboratório de Ins-</p><p>trumentação Biomédica da UERJ. Docente da</p><p>Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro,</p><p>Brasil</p><p>Endereço para correspondência:</p><p>E-mail: paulamorisco@hotmail.com</p><p>Recebido para publicação em 06/08/2016 e acei-</p><p>to em 29/09/2016, após revisão.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>204</p><p>Introdução</p><p>Quase a metade dos adultos (46%) no Brasil são seden-</p><p>tários, segundo Pesquisa Nacional de Saúde. O levantamento</p><p>foi feito em 2013, pelo IBGE, e aponta que cerca de 67,2</p><p>milhões de pessoas não faziam exercício físico no momento</p><p>da pesquisa1,2.</p><p>A prática regular da atividade física aeróbica é a tera-</p><p>pia de menor custo para promoção da saúde e prevenção de</p><p>doenças3. A relação entre atividade física e saúde está bem</p><p>estabelecida, os exercícios físicos associam-se a um estilo de</p><p>vida saudável e aumento da expectativa de vida e, cada vez</p><p>mais, mostram indícios de efeitos benéficos à saúde3.</p><p>Atualmente, campanhas de combate ao sedentarismo re-</p><p>comendam a prática de trinta minutos de atividades físicas na</p><p>maioria dos dias da semana envolvendo os grandes grupos</p><p>musculares, podendo ser feita de forma contínua ou fracionada.</p><p>Manter alguma atividade física é melhor do que a inatividade4.</p><p>Durante a execução do exercício físico, as variáveis car-</p><p>diorrespiratórias modificam-se com a finalidade de aumentar</p><p>o transporte de oxigênio e nutrientes aos músculos em ativi-</p><p>dade contrátil, para manter ao longo do tempo, a formação</p><p>de ATP e/ou restaurar as suas reservas que foram consumi-</p><p>das durante as fases de contração anaeróbia. A resposta ao</p><p>treinamento da musculatura respiratória é semelhante à dos</p><p>músculos esqueléticos. Convencionalmente, três grupos de</p><p>músculos têm sido relacionados com a função respiratória:</p><p>diafragma, músculos do gradil costal (incluindo os músculos</p><p>intercostais e acessórios) e músculos abdominais5,6.</p><p>Os músculos respiratórios são músculos esqueléticos e,</p><p>como tal, são morfologicamente e funcionalmente semelhantes</p><p>a outros músculos esqueléticos do corpo como, por exemplo, os</p><p>músculos do aparelho locomotor e, portanto, podem sofrer defi-</p><p>ciências e alterações semelhantes a qualquer músculo esqueléti-</p><p>co enfraquecido. Os músculos respiratórios podem ser treinados</p><p>a fim de melhorarem a sua força e endurance, pois são sensíveis</p><p>a um programa de treinamento físico adequado7.</p><p>Leith et al7 constataram um ganho de força muscular</p><p>inspiratória e expiratória após um programa</p><p>de treinamento</p><p>muscular respiratório por um período de seis semanas em</p><p>indivíduos sadios. Segundo Celli8 e Gastaldi9, o compro-</p><p>metimento da força muscular inspiratória leva a uma dimi-</p><p>nuição do volume pulmonar inspirado e a uma diminuição</p><p>de volume, associada ao comprometimento da musculatura</p><p>expiratória, acarreta a diminuição do fluxo expiratório. O de-</p><p>sempenho dos músculos respiratórios enfraquecido contribui</p><p>para o desenvolvimento da deficiência respiratória ou para a</p><p>limitação do exercício físico nos pacientes10.</p><p>Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar as modifica-</p><p>ções de função pulmonar mediante emprego de treinamento</p><p>aeróbico em indivíduos saudáveis.</p><p>Metodologia</p><p>Trata-se de um estudo experimental não controlado,</p><p>realizado em alunos da academia da Universidade Castelo</p><p>Branco, Realengo, RJ.</p><p>A avaliação seguiu-se de: questionário avaliação de si-</p><p>nais e sintomas respiratórios e clínico. A força muscular res-</p><p>piratória foi verificada pelo manovacuômetro (Globalmed,</p><p>Analógico M120), por meio das medidas de Pimáx e Pemáx.</p><p>Essas medidas de pressões permitem realizar uma avaliação</p><p>simples, rápida e reproduzível da força muscular respiratória,</p><p>sendo influenciada pelo sexo, idade e volumes pulmonares11.</p><p>Durante a avaliação os voluntários permaneceram senta-</p><p>dos, com o tronco no ângulo de 90º em relação aos membros</p><p>inferiores, com clipe nasal e peça bucal. Para medir a PImáx</p><p>foi solicitada expiração em nível de Volume Residual (VR),</p><p>seguida de uma inspiração rápida e forte em nível da Capaci-</p><p>dade Pulmonar Total (CPT) sustentada por um segundo, com</p><p>estímulo verbal do examinador. Para a medição da Pemáx</p><p>foi solicitada inspiração máxima em nível da CPT seguida</p><p>de uma expiração máxima até o nível do VR, mantendo-a</p><p>por um segundo, com estímulo verbal do examinador. Fo-</p><p>ram efetuadas cinco manobras máximas, com intervalo de</p><p>um minuto de descanso e, posteriormente, selecionadas três</p><p>manobras aceitáveis e reprodutíveis, sendo registrado o va-</p><p>lor mais alto e comparado ao valor predito pela equação de</p><p>Gonçalves et al12 de acordo com idade e sexo.</p><p>Para medição do Volume Minuto (VM), foi realizada</p><p>a ventilometria, com o aparelho da marca (Inspire Wright®</p><p>MK8), com uso de uma máscara facial, onde foi acoplado</p><p>o ventilômetro a máscara, foi solicitado que a mesma respi-</p><p>rasse tranquilamente durante um minuto e desta forma ob-</p><p>teve o VM. O Volume Corrente (VC) foi obtido, solicitando</p><p>a paciente que realizasse uma inspiração seguida de expira-</p><p>ção não forçada. Tanto para medição do VM e VC, foram</p><p>efetuadas três manobras, posteriormente, selecionada uma</p><p>manobra aceitável13.</p><p>Após avaliação inicial, os participantes do estudo foram</p><p>submetidos a 10 minutos de aquecimento, seguidos de 40 mi-</p><p>nutos de treinamento aeróbico e de fortalecimento muscular pe-</p><p>riférico, finalizando com 10 minutos de desaquecimento com</p><p>alongamentos. Todas as atividades foram supervisionadas por</p><p>um profissional de Educação Física devidamente capacitado.</p><p>O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética</p><p>em Pesquisa da UCB. Está em acordo com os princípios éti-</p><p>cos descritos na Resolução do Conselho Nacional de Saúde</p><p>n.º 466/2012, para pesquisa com seres humanos. Todos os</p><p>voluntários envolvidos no estudo receberão os devidos es-</p><p>clarecimentos e assinarão Termo de Consentimento Livre e</p><p>Esclarecido. Os resultados serão apresentados como média e</p><p>desvio padrão e valores percentuais.</p><p>Resultados</p><p>O estudo obteve a participação de 4 voluntárias. Na tabe-</p><p>la 1 estão dispostos os parâmetros biométricos, sinais vitais</p><p>e avaliação de ventilometria pré e pós protocolo dos sujeitos</p><p>estudados. E na tabela 2, os resultados de pressões máximas</p><p>respiratórias. Não foram observadas modificações signifi-</p><p>cativas entre os grupos estudados, assim como não houve</p><p>correlação com os fatores de risco ou a menor frequência de</p><p>treinamento entre os participantes.</p><p>Discussão</p><p>A influência do treinamento aeróbico na força muscu-</p><p>lar respiratória e periférica é um dado muito discutido na</p><p>literatura. Na análise de Leith & Bradley 14, 4 indivíduos</p><p>205</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Tabela 1: Parâmetros biométricos, sinais vitais e avaliação</p><p>de ventilometria pré e pós protocolo dos sujeitos estudados</p><p>IMC � Índice de Massa Corporal. FC- Frequência Cardíaca. FR- Frequência Respirató-</p><p>ria. PA- Pressão Arterial. SpO2 � Saturação Periférica de Oxigênio.</p><p>Tabela 2: Resultados de pressões máximas respiratórias.</p><p>Pimáx � Pressão Inspiratória Máxima. Pemáx- Pressão Expiratória Máxima.</p><p>saudáveis foram submetidos a 5 semanas de treinamento de</p><p>força muscular respiratória e os autores observaram aumento</p><p>de 55% nas pressões respiratórias máximas inspiratórias e</p><p>expiratórias. Resultando semelhante ao descrito por outros</p><p>autores em sujeitos saudáveis e doentes15,16,17.</p><p>Associando o treinamento respiratório ao de musculatu-</p><p>ra periférica, Sampaio et al.18, observaram melhores resulta-</p><p>dos para de força muscular respiratória para o grupo experi-</p><p>mental quando comparados ao controle.</p><p>Resultado contrário foi descrito por Suzuki et al.19, onde</p><p>os autores não observaram diferença significativa na Pimáx e</p><p>Pemáx após o protocolo de treinamento muscular, tanto para</p><p>o grupo controle quanto para o grupo intervenção.</p><p>Zanoni et al.20, classificaram os indivíduos estudados em</p><p>tabagistas e não tabagistas, empregando em ambos os grupos</p><p>um protocolo de treinamento aeróbico de diário por 18 encon-</p><p>tros e observaram que, mesmo os tabagistas, foram capazes de</p><p>se beneficiarem pelo treinamento; obtendo resposta de aumento</p><p>de força muscular respiratória, periférica e melhora do desem-</p><p>penho físico avaliado pelo teste de caminhada de seis minutos.</p><p>Gonçalves et al.21 e Santos et al.22 mostraram em seus</p><p>estudos que a prática de atividade física pode ser considera-</p><p>da um fator preventivo significativo relacionado ao declínio</p><p>funcional da musculatura respiratória, uma vez que o grupo</p><p>das praticantes de atividade física apresentaram um aumen-</p><p>to significativo nas pressões respiratórias máximas quando</p><p>comparadas aos que não praticavam atividade física. Junta-</p><p>mente a estas informações, o estudo de Cader et al.23 mostra</p><p>que além do aumento das pressões respiratórias máximas</p><p>houve uma melhora na qualidade de vida das voluntárias o</p><p>que foi descrito como uma relação direta.</p><p>No nosso estudo, entretanto, não observamos modifi-</p><p>cações de força muscular respiratória e volumes pulmona-</p><p>res medidos através da manovacuometria e ventilometria,</p><p>respectivamente. É possível creditar nossos achados a uma</p><p>frequência não satisfatória de treino, período de treinamento</p><p>ou sobrecarga ao sistema insuficiente para gerar uma</p><p>resposta aos músculos e volumes respiratórios. A ausência</p><p>de um treinamento muscular respiratório em nosso protoco-</p><p>lo pode também contribuído para a ausência de melhora da</p><p>endurance dos músculos respiratórios. Todavia, avaliamos</p><p>nossos resultados preliminares como indispensáveis para a</p><p>reformulação de um novo protocolo que posso trazer infor-</p><p>mações mais claras a respeito da proposta de análise.</p><p>Conclusão</p><p>O protocolo empregado não influenciou na função pul-</p><p>monar dos sujeitos estudados. Considerando o mesmo como</p><p>estudo piloto e parte integrante de nossa linha de pesquisa,</p><p>idealizamos o seu amadurecimento e continuidade para me-</p><p>lhor esclarecermos nossos achados e assim complementar o</p><p>conhecimento científico da área.</p><p>Referências</p><p>1. PNS. Pesquisa Nacional de Saúde. 2013. Acesso em 05 de julho de 2016: http://www.</p><p>ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013</p><p>2. IBGE. Instituto brasileiro de geogra! a estatística (2008). Acesso em 05, julho de 2016:</p><p>http://saladeimprensa.ibge.gov.br/.</p><p>3. Moreno, M.A.; Catai, A.M.; Teodori, R.M.; Borges, B.L.A; Zuttin, R.S; Silva,E. (2009)</p><p>Adaptações do sistema respiratório referentes à função pulmonar em resposta a um pro-</p><p>grama de alongamento muscular pelo método de Reeducação Postural Global. Fisioter</p><p>Pesq. 2 0 09; 16( 1): 11-5</p><p>4. Ministério da Saúde. Agita</p><p>Brasil: guia para agentes multiplicadores. Brasília: Ministério</p><p>da Saúde; 2001.</p><p>5. Irvin, S; Tecklin, J.S (1994). Fisioterapia cardiopulmonar. São Paulo: Manole.</p><p>6. Nabil G. (1995). Coração de Atleta. Modi! cações Fisiologicas x Supertreinamento e Do-</p><p>enças Cardíacas. São Paulo, SP, Arq Bras Cardiol 161 volume 64, (2).</p><p>7. Leith, DE & Bradley, M (1976). Ventilatory muscle strength and endurance training.</p><p>Journal of Applied Physiology, v.41, p. 508-516.</p><p>8. Celli, B. The diaphagm and respiratory muscles. Chest surgery clinics of North América,</p><p>Philadelphia, v. 8, n. 2, p. 207-224, May. 1998.</p><p>9. Gastaldi, A. C.; Freitas Filho, G. A.; Pereira, A. P. M.; Silveira, J. M. (2009). Quantas</p><p>medidas de pressões respiratórias são necessárias para se obterem medidas máximas em</p><p>pacientes com tetraplegia? Coluna/Columna, v. 8, p. 1-6.</p><p>10. Pardy, R. L.; Reid, D. W.; Belman, M. J.(1998). Respiratory muscle training. Clin. Chest</p><p>Med., \.9, p.287-96.</p><p>11. Neder, J. A., Andreoni. S., Lerario, M. C., Nery, L. E. (1999) Reference values for lung</p><p>function tests. II. Maximal respiratory pressures and voluntary ventilation. Braz J Med</p><p>Biol Res. 32(6);719-27</p><p>12. Gonçalves, H.A., Costa, D., Lima, L.P., Ilke, D., Cancelleiro, K.M., Montebelo, M.I.L.</p><p>(2010). �Novos valores de referência para pressões respiratórias máximas na população</p><p>brasileira. � J. Bras Pneumol. 2010; 36 (3): 306-312.</p><p>13. Paisani, D.; Chiavegato, L. (2005) Volumes, capacidades pulmonares e força muscular res-</p><p>piratória no pós-operatório de gastroplastia. Jornal Brasileiro de Pneumologia, São Paulo</p><p>(SP), abr. 31 (2)</p><p>14. Leith, DE & Bradley, M (1976). Ventilatory muscle strength and endurance training.</p><p>Journal of Applied Physiology, v.41, p. 508-516.</p><p>15. Inbar, O. et al. (2000) Speci! c inspiratory muscle training in well-trained endurance ath-</p><p>letes. Med. Sei. Sports. Exere. 32: 1233-1237.</p><p>16. Rodrigues, C.P.; Costa, N.S.T.; Alves,L.A.; Gonçalves, C.G. (2010.). Efeito do treina-</p><p>mento muscular respiratório em pacientes submetidos à colecistectomia. Semina: Ciên-</p><p>cias Biológicas e da Saúde, Londrina, v. 31, n. 2, p. 137-142, Jul/Dez. 2010</p><p>17. Lima, GL; Marques, K; Sá, PM. (2016). Fisioterapia respiratória na paraparesia espástica</p><p>tropical decorrente de HLTV1. Fisioterapia Ser. 11(2).</p><p>18. Sampaio, L.M.M.; Jamami, M.; Pires,V.A.; Silva, A.B.; Costa, D. (2002). Força muscular</p><p>respiratória em pacientes asmáticos submetidos ao treinamento muscular respiratório e</p><p>treinamento físico. Ver. Fisioter. Univ. São Paulo, v.9, n.2, p.43-8, jul./dez.</p><p>19. Suzuki. et al. (1995), Expiratory muscle training and sensation of respiratory during exer-</p><p>cise in normal subjects. Thorax, v.50, p.366-370.</p><p>20. Zanoni, C.T; Rodrigues, C..M.; Mariano, D.; Suzan, A.B.M.; Boaventura, L.C. (2002).</p><p>Efeitos do treinamento muscular inspiratório em universitários tabagistas e não tabagis-</p><p>tas. Fisioter Pesq. 2012;19(2):147-52</p><p>21. Gonçalves, M.P.; Tomaz, C.A.B.; Cassiminho, A.L.F.; Dutra, M.F. Avaliação da força</p><p>muscular inspiratória e expiratória em idosas praticantes de atividade física e sedentárias.</p><p>R. bras. Ci e Mov. 2006; 14(1): 37-44.</p><p>22. Santos, T.C; Travensolo, C.F (2011). Comparação da força muscular respiratória entre</p><p>idosos sedentáriose ativos: estudo transversal. Revista Kairós Gerontologia, 14(6). ISSN</p><p>2176-901X. São Paulo (SP), Brasil, dezembro 2011: 107-121.</p><p>23. Cader, S.; Vale, R.G.S; Monteiro, N.; Pereira, F.F.; Dantas, E.H.M (2006).Comparação</p><p>da Pimáx e da qualidade de vida entre idosas sedentárias, asiladas e praticantes de hidro-</p><p>ginástica. Fitness & Performance Journal, v.5, nº 2, p. 101-108.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>206</p><p>Artigo Original</p><p>Percepções pessoais da protetização e o impacto</p><p>na qualidade de vida e na independência funcional</p><p>de pacientes com amputação transfemural unilateral</p><p>Personal perceptions of the prosthetization and the impact</p><p>on the life quality and on the functional independency of patients</p><p>with unilateral amputation transfemoral</p><p>Angelina Maria dos Santos Oeby1, Rebeca Andrade de Freitas2,</p><p>Monique Opuszcka Campos3, Leandro Dias de Araujo4</p><p>Resumo</p><p>Objetivo: Verificar mudanças nas percepções pessoais, qualidade de vida e in-</p><p>dependência funcional diante da amputação e protetização em pacientes com ampu-</p><p>tação transfemural unilateral. Metodologia: Estudo transversal com 14 voluntários:</p><p>08 amputados e 06 protetizados, elegíveis na AFR, de diversas etiologias de ampu-</p><p>tação. Para análise qualitativa foram utilizadas fichas de identificação e entrevistas</p><p>semiestruturadas. Analisados os conteúdos, foi realizada análise categorial das trans-</p><p>crições. As análises quantitativas foram realizadas com questionário de qualidade de</p><p>vida SF-36 (8 domínios - 0 a 100 pontos), e questionário de independência funcional</p><p>� MIF (18 tarefas - 18 a 126 pontos). Resultados: No grupo de amputados (65,3 ±</p><p>5,7 anos) 75% eram mulheres e no grupo de protetizados (62,0 ± 6,7 anos) 66,7%</p><p>eram homens. Nas entrevistas semiestruturadas encontramos 8 núcleos centrais e</p><p>diversos sistemas periféricos. A avaliação de qualidade de vida não obteve nenhum</p><p>valor relevante, apresentando significativa diferença apenas em aspectos sociais (P</p><p>= 0,046). A avaliação de independência funcional não mostrou diferenças impactan-</p><p>tes. Conclusão: Na pesquisa qualitativa identificamos que a protetização promoveu</p><p>melhora da perspectiva de vida, resgate da imagem corporal e felicidade. Os ins-</p><p>trumentos de avaliação SF-36 e MIF não mostraram nenhum impacto relevante da</p><p>protetização em comparação dos grupos.</p><p>Palavras-chave: fisioterapia, amputação e qualidade de vida.</p><p>Abstract</p><p>Objective: To verify the changes on the personal perceptions, life quality and</p><p>functional independency with the amputation and prosthetization in patients with uni-</p><p>lateral amputation transfemoral. Methodology: Transversal study with 14 volunteers:</p><p>08 amputated and 06 prosthetized, eligible at AFR, with various etiologies of ampu-</p><p>tation. To qualitative analysis were used records of identification and semi structu-</p><p>red interviews. After analyzing the contents, was realized a categorical analysis of the</p><p>transcriptions. The quantitative analyses were done with a quiz of life quality SF-36 (8</p><p>areas � 0 to 100 points), and a quiz of functional independency � MIF (18 tasks � 18 to</p><p>126 points). Results: In a group of amputated (65,3 ± 5,7 years) 75% were women and</p><p>in the group of prosthetized (62,0 ± 6,7 years) 66,7% were men. In the semi structured</p><p>interviews were found 8 central cores and several peripheral systems. The evaluation</p><p>of life quality didn�t have none relevant value, showing a significant difference only on</p><p>social aspects (P = 0,046). The evaluation of functional independency didn�t present</p><p>impacting differences. Conclusion: On the qualitative research was identified that the</p><p>prosthetization brought an improvement in the life perspective, rescue of the corporal</p><p>image and happiness. The evaluation resources SF-36 and MIF didn�t show none rele-</p><p>vant impact of the prosthetization in compared groups.</p><p>Keywords: physiotherapy, amputation, life quality.</p><p>1. Fisioterapeuta</p><p>2. Pós-Graduada em Gerontologia</p><p>3. Docente do Curso de Fisioterapia da Universi-</p><p>dade Salgado de Oliveira, Mestre em Ciências</p><p>do Exercício e do Esporte,</p><p>4. Docente do Curso de Fisioterapia da Univer-</p><p>sidade Salgado de Oliveira e Universidade</p><p>Castelo Branco, Mestre em Ensino na Saúde.</p><p>Endereço para correspondência:</p><p>E-mail: angelinaoeby@hotmail.com</p><p>Recebido para publicação em 24/10/2016 e acei-</p><p>to em 05/12/2016, após revisão.</p><p>207</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Introdução</p><p>O conceito de amputação sofreu grandes mudanças com</p><p>o passar dos anos. Visto antigamente como último recurso,</p><p>e sendo sinônimo de derrota, hoje passa a ter como aliada a</p><p>funcionalidade1-5. Definimos como amputação a retirada par-</p><p>cial ou total de parte do corpo, para tratamento de algumas</p><p>doenças ou reparações traumáticas6-8. No Brasil não há esta-</p><p>tística precisa</p><p>in pulmonary,</p><p>postural and psychosocial changes observed in asthma</p><p>Keila Soares da Silva1, Anna Victória Ribeiro Porras2, Charles da Cunha Costa3,</p><p>Rondinele de Jesus Barros4, Alba Barros Souza Fernandes5</p><p>Resumo</p><p>Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica, associada à hiperres-</p><p>ponsividade das vias aéreas e episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão</p><p>torácica e tosse. Em função do recrutamento excessivo da musculatura acessória</p><p>da respiração, indivíduos asmáticos podem apresentar alterações posturais, além</p><p>do comprometimento pulmonar. Portanto, o objetivo desse estudo foi analisar os</p><p>efeitos de exercícios do Método Pilates na função pulmonar e nas alterações postu-</p><p>rais e psicossociais na asma. Metodologia: Voluntários com asma foram avaliados</p><p>com relação à força muscular respiratória, pico de fluxo expiratório, mobilidade</p><p>torácica, tolerância ao exercício, alterações posturais e qualidade de vida antes</p><p>e após serem submetidos a um protocolo de tratamento com o Método Pilates.</p><p>Resultados: O Método Pilates foi eficaz em aumentar a pressão expiratória máxi-</p><p>ma em 23,38% (p = 0,02) e a distância percorrida em seis minutos em 13,20% (p</p><p>= 0,00), além de influenciar a qualidade de vida nos domínios global (p = 0,02),</p><p>sintomas (p = 0,01) e limitação de atividade (p < 0,00). Conclusões: O Método</p><p>Pilates aumentou a força dos músculos expiratórios e a tolerância ao exercício em</p><p>asmáticos, além de melhorar a qualidade de vida.</p><p>Palavras-chave: asma, pilates, fisioterapia.</p><p>Abstract</p><p>Introduction: Asthma is a chronic inflammatory disease associated with ai-</p><p>rway hyperresponsiveness and recurrent episodes of wheezing, breathlessness,</p><p>chest tightness and coughing. The excessive accessory muscles of respiration</p><p>recruitment leads to postural changes, in addition to lung function impairment.</p><p>Therefore, the aim of this study was to analyze the effects of Pilates exercises on</p><p>lung function and the postural and psychosocial changes in asthma. Methodology:</p><p>Volunteers with asthma were evaluated for respiratory muscle strength, peak expi-</p><p>ratory flow, thoracic mobility, exercise tolerance, postural changes and quality of</p><p>life before and after undergoing a treatment protocol with the Pilates Method. Re-</p><p>sults: The Pilates Method was effective in increasing maximal expiratory pressure</p><p>in 23.88% (p = 0.02) and the six minutes distance walked in 13.26% (p = 0.00),</p><p>besides influencing in domains global (p = 0.02), symptoms (p = 0.01) and limita-</p><p>tion of activity (p < 0.00). Conclusions: The Pilates Method increased the strength</p><p>of the expiratory muscles and exercise tolerance in asthmatic, besides favoring the</p><p>improvement in quality of life.</p><p>Keywords: asthma, pilates, physiotherapy.</p><p>1. Fisioterapeuta, Graduada pelo Centro Univer-</p><p>sitário Serra dos Órgãos - UNIFESO, Teresó-</p><p>polis, RJ, Brasil.</p><p>2. Discente do Curso de Graduação em Fisiote-</p><p>rapia do UNIFESO.</p><p>3. Fisioterapeuta, Graduado pelo UNIFESO.</p><p>4. Fisioterapeuta, Especialista em Fisiologia do</p><p>Exercício, Docente do Curso de Graduação</p><p>em Fisioterapia do UNIFESO.</p><p>5. Fisioterapeuta, Doutora em Ciências, Docen-</p><p>te do Curso de Graduação em Fisioterapia do</p><p>UNIFESO.</p><p>Endereço para correspondência: Alba Barros</p><p>Souza Fernandes � Clínica-Escola de Fisiote-</p><p>rapia � Centro de Ciências da Saúde � Cen-</p><p>tro Universitário Serra dos Órgãos � Estrada</p><p>Wenceslau José de Medeiros, 1045, Prata �</p><p>CEP 25976-345 � Teresópolis, RJ � Brasil �</p><p>Telefone: (21) 2743-5311</p><p>E-mail: alba.fernandes@gmail.com</p><p>Recebido para publicação em 26/08/2016 e acei-</p><p>to em 30/09/2016, após revisão.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>184</p><p>Introdução</p><p>A asma é uma doença inflamatória crônica, que está</p><p>associada à hiperresponsividade das vias aéreas, levando a</p><p>episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão torácica</p><p>e tosse, principalmente à noite ou pela manhã ao despertar.</p><p>Esses episódios são uma consequência da obstrução variá-</p><p>vel ao fluxo aéreo, que pode ser reversível espontaneamen-</p><p>te ou com tratamento. As exacerbações são decorrentes da</p><p>interação entre genética, exposição ambiental a alérgenos e</p><p>irritantes, além de outros fatores que contribuem para o de-</p><p>senvolvimento e manutenção dos sintomas1.</p><p>Indivíduos asmáticos apresentam consideráveis res-</p><p>trições físicas, que quando não controladas devidamente,</p><p>geram limitações nas atividades de vida diária e atividades</p><p>de lazer, além de também apresentarem alterações sociais e</p><p>emocionais2,3. Segundo Marcelino4, a hiperinsuflação oca-</p><p>sionada pelo aumento da resistência das vias aéreas altera a</p><p>posição dos músculos respiratórios, incluindo o diafragma,</p><p>diminuindo a sua eficiência mecânica.</p><p>Além disso, é comum pacientes com asma desenvolve-</p><p>rem alguns tipos de alterações posturais, devido ao compro-</p><p>metimento da mecânica respiratória. Os episódios de crises,</p><p>o aumento do volume residual e o uso excessivo da muscu-</p><p>latura acessória da respiração contribuem para uma restrição</p><p>na mobilidade do tórax e podem causar assimetrias, proble-</p><p>mas musculoesqueléticos e movimentos compensatórios5,6,3.</p><p>Além das alterações posturais, pacientes com doença</p><p>respiratória crônica tendem a apresentar menor tolerância ao</p><p>exercício físico em função de diversos fatores, incluindo difi-</p><p>culdade respiratória, restrição a atividades ou mesmo falta de</p><p>atividades fisicomotoras7. Essas limitações levam ao descon-</p><p>dicionamento do sistema cardiorrespiratório, gerando dimi-</p><p>nuição da força muscular de membros superiores e inferiores2.</p><p>O Método Pilates vem se destacando como importante</p><p>ferramenta, principalmente nas correções de alterações pos-</p><p>turais, pois tem a função de fortalecer, alongar e melhorar a</p><p>postura. Os diferentes tipos de exercícios realizados no Pila-</p><p>tes possibilitam a melhora do condicionamento cardiorrespi-</p><p>ratório e muscular. Além disso, a prática do Pilates apresenta</p><p>um diferencial em relação às outras atividades físicas, pois</p><p>uma de suas importantes características é o controle da res-</p><p>piração, que enfatiza a importância de manter os níveis de</p><p>oxigenação da circulação sanguínea8.</p><p>Nesse contexto, o Pilates, em virtude do fortalecimento</p><p>do centro corporal e pelo alongamento da musculatura da re-</p><p>gião torácica e da musculatura acessória da respiração9, pode</p><p>ser eficaz na asma, visando à correção das alterações pos-</p><p>turais e, consequentemente, a melhora da função pulmonar.</p><p>Metodologia</p><p>O presente estudo foi realizado no setor de Pilates da</p><p>Clínica-Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Ser-</p><p>ra dos Órgãos (UNIFESO). Foram incluídos indivíduos com</p><p>diagnóstico clínico de asma, de ambos os sexos, independen-</p><p>temente do estágio da doença, clinicamente estáveis. Foram</p><p>excluídos indivíduos com incapacidade cognitiva, que impos-</p><p>sibilitasse a compreensão/realização das avaliações, com limi-</p><p>tação da amplitude de movimento da articulação de ombro e</p><p>de joelhos; voluntários obesos; com história de infecções res-</p><p>piratórias em um período inferior a 30 dias, cirurgias recentes</p><p>e indivíduos acima de 60 anos. O protocolo de pesquisa estava</p><p>em consonância com a Resolução 466/12 e foi encaminhado</p><p>ao Comitê de Ética e Pesquisa do UNIFESO � CEPq, via Pla-</p><p>taforma Brasil, e aprovado em 03/07/2014 sob o parecer de</p><p>número 712.954. Todos os integrantes da pesquisa assinaram</p><p>o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.</p><p>Os sinais vitais, incluindo ausculta pulmonar (AP), pres-</p><p>são arterial (PA), frequência cardíaca (FC), frequência respi-</p><p>ratória (FR) e saturação periférica de oxigênio (SpO</p><p>2</p><p>) foram</p><p>verificados anteriormente e posteriormente à intervenção,</p><p>com os participantes respirando em ar ambiente e em repou-</p><p>so. Também foram observados os níveis de fadiga e dispneia,</p><p>através da Escala Subjetiva de Borg.</p><p>A avaliação da força da musculatura respiratória foi</p><p>obtida por meio das medidas de pressão inspiratória máxi-</p><p>ma (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx)10. Três</p><p>medidas de cada uma das pressões foram executadas com</p><p>um manovacuômetro, sendo considerado para o estudo</p><p>sobre o número de amputados, mas acredita-se</p><p>que as amputações de membros inferiores são aproximada-</p><p>mente 85% do total geral8-10. A causa mais comum de am-</p><p>putações de membro inferior são as doneças vasculares em</p><p>pacientes idosos6,7,9.</p><p>A amputação do membro inferior pode acontecer em vá-</p><p>rios níveis, sendo a amputação transfemural aquela realizada</p><p>entre a desarticulação de joelho e a de quadril, que se apre-</p><p>senta em três níveis: amputação em terço proximal, médio e</p><p>distal5. A altura da amputação se baseia em devolver a fun-</p><p>cionalidade do membro afetado1,6,9.</p><p>A protetização precisa ser vista como alternativa para</p><p>melhora da qualidade de vida do paciente, criando novas</p><p>perspectivas de funcionalidade para a região acometida4,5,9.</p><p>Para pacientes com amputação transfemural pode-se utilizar</p><p>próteses convencionais ou modulares, sendo as modulares</p><p>ou endoesqueléticas aquelas que possuem a conexão entre</p><p>encaixe e pé feita por meio de tubos e componentes modula-</p><p>res, com acabamento final em espuma cosmética. Permitem</p><p>troca rápida de componentes, sendo consideradas superiores</p><p>às convencionais quanto à funcionalidade e estética5.</p><p>A amputação traz impactos progressivos para o paciente,</p><p>sua família e a comunidade onde vive, levando ao isolamen-</p><p>to social, problemas de autoestima, autoimagem e depen-</p><p>dência, conflitos econômicos pela perda do trabalho e até o</p><p>medo da morte, causados por grandes mudanças estéticas e</p><p>impactos diretos na qualidade de vida8,10.</p><p>Quando a pessoa do amputado demonstra autonomia nas</p><p>atividades de vida diária, a visão da sociedade muda seu olhar</p><p>sobre ele significativamente, já que se tem o conceito de incapa-</p><p>cidade física associado à dependência7. Observou-se que as ati-</p><p>vidades de maior facilidade são as relacionadas à alimentação,</p><p>higiene e vestuário, enquanto que transferências, uso de escadas</p><p>e deambulação são as mais difíceis, por dependerem do apoio</p><p>bípede ou da marcha5,7. Numa nova visão, o paciente amputa-</p><p>do inicia um processo de enfrentamento dessa nova condição e</p><p>tem sua autonomia resgatada10. A devolução de uma imagem</p><p>corporal normal poderá trazer a este paciente maior confiança,</p><p>melhor recuperação e melhor desenvolvimento de habilidades,</p><p>através do uso de próteses adequadas5,8,10.</p><p>Precisamos entender o processo de metamorfose de iden-</p><p>tidade do paciente amputado que dá um sentido de emanci-</p><p>pação à sua amputação, se libertando dos preconceitos para</p><p>agir de forma mais criativa e com autonomia em sua vida5,11.</p><p>O ser humano precisa ser visto como um ser em constantes</p><p>mutações, onde indivíduo e sociedade se constituem de for-</p><p>ma recíproca, através de um processo não linear em que os</p><p>fenômenos são analisados em seus movimentos recíprocos e</p><p>de contínua interação11.</p><p>Se em todo este processo o indivíduo sofre uma amputa-</p><p>ção, sua metamorfose será significativamente afetada, trans-</p><p>formando o sentido de sua vida e de seus projetos de vida. O</p><p>que não se pode admitir é que este novo sentido de vida seja</p><p>sempre encarado como algo negativo, estereotipado e estig-</p><p>matizante. Com os avanços tecnológicos e científicos, uma</p><p>pessoa amputada poderá seguir sua existência com qualida-</p><p>de de vida7. A metamorfose poderá ocorrer como superação,</p><p>quando o indivíduo se desprende dos estigmas e preconcei-</p><p>tos impostos pela sociedade, sendo expressão de autentici-</p><p>dade, autodeterminação e autorreflexão. A criação de novos</p><p>significados e sentidos sempre será possível, criando novas</p><p>formas de ação frente à amputação. Podem surgir novos pro-</p><p>jetos de vida, com qualidade, autonomia e independência,</p><p>longe dos estigmas sociais11.</p><p>O objetivo desse estudo foi verificar as mudanças acerca</p><p>das percepções pessoais, qualidade de vida e independência</p><p>funcional diante do impacto da amputação e da protetização</p><p>em pacientes com amputação transfemural unilateral.</p><p>Metodologia</p><p>Participaram deste estudo 14 (quatorze) voluntários, sen-</p><p>do 08 (oito) voluntários com amputação transfemural unilate-</p><p>ral (Grupo de Amputados (GA) � 65,3 ± 5,7 anos) e 06 (seis)</p><p>voluntários com protetização transfemural unilateral (Grupo</p><p>de Protetizados (GP) � 62,0 ± 6,7 anos). Não foi observada</p><p>diferença significativa entre as idades dos grupos (P = 0,401).</p><p>O estudo foi conduzido na Associação Fluminense de Reabi-</p><p>litação (AFR). Os critérios de inclusão para participação neste</p><p>estudo foram: Voluntários com amputação transfemural unila-</p><p>teral; Voluntários com prótese transfemural unilateral; ambos</p><p>os sexos; com idade entre 40 e 75 anos; de diversas etiologias</p><p>de amputação (Diabetes, Trauma, Câncer, e outros problemas</p><p>Vasculares). Os critérios de exclusão para participação nes-</p><p>te estudo foram: Voluntários com instabilidade nas variáveis</p><p>hemodinâmicas (Frequência Cardíaca e Pressão Arterial); Vo-</p><p>luntários amputados e voluntários protetizados que possuíam</p><p>sequelas de outras enfermidades associadas.</p><p>O estudo apresentou um delineamento transversal e foi</p><p>constituído de uma única visita para a investigação das vari-</p><p>áveis. Todos os voluntários assinaram o Termo de Consen-</p><p>timento Livre e Esclarecido, e a Autorização para Registro</p><p>Fotográfico e/ou Filmagem, e logo após responderam as</p><p>questões das Fichas de Identificação, e as Entrevistas Se-</p><p>miestruturadas, que foram gravadas por um aparelho de gra-</p><p>vação de voz da marca Samsung, modelo Galaxy Gran Duos</p><p>Prime. Após tais procedimentos, responderam aos Questio-</p><p>nários de Qualidade de Vida SF-36 e ao Questionário de Me-</p><p>dida de Independência Funcional � MIF.</p><p>Ficha de Identi! cação</p><p>Os voluntários responderam a uma Ficha de Identifica-</p><p>ção, de acordo com o grupo em que cada um se encontra-</p><p>va, onde foram registrados os dados pessoais, como data da</p><p>aplicação da entrevista, nome completo, data de nascimen-</p><p>to, idade, sexo, endereço completo, telefone fixo e celular,</p><p>estado civil, se tem filhos, com quem reside, escolaridade,</p><p>profissão, se aposentado e há quanto tempo, se exerce hoje</p><p>algum tipo de trabalho, etiologia da amputação, data da am-</p><p>putação, dimidio e nível da amputação, tempo de amputação,</p><p>data de avaliação na instituição, data e tempo da protetização</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>208</p><p>(conforme o caso), se recebe algum tipo de apoio psicológi-</p><p>co e se frequenta algum grupo de apoio.</p><p>Entrevista Semiestruturada</p><p>Num segundo momento o grupo dos voluntários am-</p><p>putados respondeu a uma Entrevista Semiestruturada do</p><p>Paciente Amputado que constava de 03 (três) questões de-</p><p>flagradoras sobre sua percepção enquanto pessoa amputada,</p><p>onde a primeira questão indagava o que mudou na vida deste</p><p>paciente após a amputação. Na segunda questão como ele se</p><p>vê após a amputação, e na terceira questão, como ele pensa</p><p>que as outras pessoas o veem após a amputação.</p><p>O grupo de voluntários protetizados respondeu a Entre-</p><p>vista Semiestruturada do Paciente Protetizado que constava</p><p>de 03 (três) questões deflagradoras sobre sua percepção en-</p><p>quanto pessoa protetizada, onde a primeira questão indagava</p><p>o que mudou na vida deste paciente após a protetização. Na</p><p>segunda questão como ele se vê após a protetização, e na ter-</p><p>ceira questão, como ele pensa que as outras pessoas o veem</p><p>após a protetização.</p><p>Após a coleta de dados foi realizada a transcrição das fa-</p><p>las e sua pré-análise. O tratamento dos dados foi feito com a</p><p>análise de conteúdo que diz respeito a técnicas de pesquisa que</p><p>permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados</p><p>de um determinado contexto (Bardin, 1979). Segundo Minayo</p><p>(2010) a análise de conteúdo possui a mesma lógica das meto-</p><p>dologias quantitativas oscilando entre o rigor da suposta obje-</p><p>tividade dos números e a fecundidade da subjetividade.</p><p>Dentre as várias modalidades de análise de conteúdo,</p><p>utilizamos a análise categorial das transcrições. As falas fo-</p><p>ram categorizadas a partir da análise dos seus conteúdos com</p><p>relação aos objetivos propostos pela pesquisa, relacionando</p><p>percepção sobre deficiências e valores sócio-culturais, e a</p><p>definição dos temas se deu durante</p><p>a análise criteriosa das</p><p>entrevistas obedecendo as fases de descrição, inferência e</p><p>interpretação citada por Bardin (1979). Considerou-se como</p><p>critério de relevância central as respostas categorizadas de</p><p>forma mais frequentes e primeiramente evocadas � Catego-</p><p>rias Centrais (CC). As demais categorias foram analisadas</p><p>como sistemas periféricos de importância (SP), que dialo-</p><p>gam com as categorias centrais, complementando-as, ou</p><p>mesmo, trazendo ambiguidades.</p><p>Ao término das Entrevistas Semiestruturadas os volun-</p><p>tários responderam ao Questionário de Qualidade de Vida</p><p>SF-36 e ao Questionário de Medida de Independência Fun-</p><p>cional � MIF.</p><p>Questionário de Qualidade de Vida</p><p>Para realizar a avaliação da qualidade de vida pelo proto-</p><p>colo SF-36 foi inicialmente atribuída uma pontuação aos do-</p><p>mínios a qual consiste em transformar o valor das questões em</p><p>notas de 8 domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde</p><p>0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. Esta pontuação é</p><p>chamada de �Raw Scale� porque o valor final não apresenta</p><p>nenhuma unidade de medida. O cálculo do �Raw Scale� dos</p><p>domínios é resultante da aplicação de uma fórmula que tem</p><p>seus parâmetros ajustados para cada domínio.</p><p>Questionário de Medida de Independência Funcional</p><p>Para avaliação da funcionalidade foi feita aplicação da</p><p>Medida de Independência Funcional (MIF), que avalia 18 ta-</p><p>refas, pontuadas de acordo com o grau de dependência, que</p><p>varia de 1 (dependência total) a 7 (independência total), sendo</p><p>que seu escore total mínimo é de 18 e o máximo de 126 pon-</p><p>tos. As tarefas são agrupadas em 6 dimensões: autocuidados,</p><p>controle de esfíncteres, transferências, locomoção, comunica-</p><p>ção e cognição social. O escore total da MIF, também conhe-</p><p>cido como MIF Total, pode ser dividido em duas subescalas: a</p><p>MIF motora (engloba as dimensões autocuidados, controle de</p><p>esfíncteres, transferências e locomoção), com pontuação de 13</p><p>a 91 pontos, e a MIF cognitiva (engloba as dimensões comuni-</p><p>cação e cognição social), que varia de 5 a 35 pontos.</p><p>Os dados desta pesquisa foram tratados de forma dis-</p><p>tinta, qualitativamente e quantitativamente, para conclusão</p><p>deste estudo. Os dados qualitativos foram analisados pelos</p><p>seus conteúdos, agrupados e categorizados, e os dados quan-</p><p>titativos analisados estatisticamente.</p><p>Resultados</p><p>Caracterização da amostra</p><p>Os dados dos voluntários referentes a gênero, estado ci-</p><p>vil, grau de escolaridade, situação profissional, etiologia da</p><p>amputação, dimidio e nível, constam da tabela 1. A maioria</p><p>dos voluntários do GA, totalizando 75%, eram mulheres,</p><p>sendo 37,5% de casados. Entre os voluntários do GP, 66,7%</p><p>eram homens, sendo 50% dos voluntários casados.</p><p>Quanto às características da amputação, no GA 62,5% das</p><p>amputações foram devido à Diabetes, onde 50% dos voluntá-</p><p>rios sofreram amputação transfemural em dimidio esquerdo,</p><p>sendo 37,5% em nível proximal. No GP, 50% dos voluntá-</p><p>rios também sofreram a amputação devido à Diabetes, sendo</p><p>66,7% em dimidio direito, com 83,3% em nível medial.</p><p>Tabela 1: Caracterização da amostra.</p><p>Gênero Ga % Gp %</p><p>Masculino 02 25,0% 04 66,7%</p><p>Feminino 06 75,0% 02 33,3%</p><p>Estado civil</p><p>Casado/união estável 03 37,5% 03 50,0%</p><p>Divorciado 0 0 02 33,3%</p><p>Viúvo 03 37,5% 01 16,7%</p><p>Solteiro 02 25,0% 0 0</p><p>Escolaridade</p><p>Analfabeto 01 12,5% 01 16,7%</p><p>Ensino fundamental 04 50,0% 04 66,6%</p><p>Ensino médio 03 37,5% 0 0</p><p>Ensino superior 0 0 01 16,7%</p><p>Situação pro! ssional</p><p>Desempregado 0 0 01 16,7%</p><p>Reformado 0 0 01 16,7%</p><p>Pensionista 03 37,5% 01 16,7%</p><p>Aposentado 05 62,5% 03 50,0%</p><p>Empregado 0 0 0 0</p><p>Etiologia da amputação</p><p>Diabetes 05 62,5% 03 50,0%</p><p>Doença vascular 01 12,5% 02 33,3%</p><p>Trauma 0 0 01 16,7%</p><p>Infecções 01 12,5% 0 0</p><p>Câncer 01 12,5% 0 0</p><p>Dimídio de amputação</p><p>Direito 04 50,0% 04 66,7%</p><p>Esquerdo 04 50,0% 02 33,3%</p><p>Nível de amputação</p><p>Proximal 03 37,5% 0 0</p><p>Medial 02 25,0% 05 83,3%</p><p>Distal 03 37,5% 01 16,7%</p><p>209</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Análise das Entrevistas Semiestruturadas com os</p><p>Voluntários (GA e GP)</p><p>Após a coleta das entrevistas semiestruturadas com os</p><p>voluntários amputados e protetizados, foi construído o pri-</p><p>meiro corpus para a análise dos resultados com a transcrição</p><p>das mesmas. Para uma melhor compreensão do conteúdo, a</p><p>análise transcorreu, primeiramente, a partir da leitura vertical</p><p>da transcrição de cada entrevista. Em seguida foi feita a aná-</p><p>lise por frequência e ordem de evocação das categorias sur-</p><p>gidas por questão, destacando-as conforme leitura exaustiva</p><p>das falas, isto é, quanto mais citações aparecem em 1º lugar</p><p>e em maior número, mais centrais elas se tornam. Por fim, as</p><p>categorias foram reagrupadas seguindo a norma de unidades</p><p>de sentido inferidas pelo pesquisador. A seguir, os dados serão</p><p>apresentados segundo os seguintes núcleos: GA-1.Quanto à</p><p>mudança de vida após a amputação; GA-2.Quanto a sua au-</p><p>toimagem após a amputação; GA-3. Quanto ao sentimento</p><p>das outras pessoas a respeito da sua amputação; GP-1.Quanto</p><p>à mudança de vida após a protetização; GP-2.Quanto a sua</p><p>autoimagem após a protetização; GP-3.Quanto ao sentimento</p><p>das outras pessoas a respeito da sua protetização.</p><p>GA-1. Quanto à mudança de vida após a amputação</p><p>Buscamos analisar e verificar as mudanças ocorridas na</p><p>vida dos voluntários após a amputação. Ao serem questiona-</p><p>dos sobre este tema obtivemos dezoito evocações, agrupadas</p><p>em dez categorias de sentido (tabela 2). O grupo apresentou</p><p>como núcleo principal as mudanças significativas de vida,</p><p>com destaque também para os seguintes sistemas periféri-</p><p>cos: a ausência de mudança, aumento da dependência, sen-</p><p>timento de perda do membro, sentimento de desconforto e</p><p>tristeza, entre outros.</p><p>Tabela 2: Análise frequêncial de ordem da questão GA-1</p><p>(NC=Núcleo Central e SP=Sistema Periférico)</p><p>Categoria Frequência % Ordem</p><p>01 NC Mudanças signi! cativas de vida 4 23 3</p><p>02 SP Ausência de mudanças 2 11 2</p><p>03 SP Aumento da dependência 2 11 1</p><p>04 SP Sentimento de perda do membro 2 11 1</p><p>05 SP Sentimento de desconforto e tristeza 2 11 1</p><p>06 SP Conformação 2 11 0</p><p>07 SP Resgate da relação familiar 1 5,5 0</p><p>08 SP Valorização da vida 1 5,5 0</p><p>09 SP Sentimento de bem-estar 1 5,5 0</p><p>10 SP Resgate da autoestima 1 5,5 0</p><p>Podemos ainda reagrupar as categorias surgidas em duas</p><p>unidades temáticas inferidas. A primeira unidade temática</p><p>composta por categorias que trazem a ideia de questões po-</p><p>sitivas, colocadas pelos voluntários como: mudança signi-</p><p>ficativa de vida, ausência de mudanças, resgate da relação</p><p>familiar, valorização da vida, sentimento de bem-estar e res-</p><p>gate da autoestima. Na segunda unidade temática teremos as</p><p>questões negativas, valorizadas como: sentimento de perda</p><p>do membro, conformação, aumento da dependência e senti-</p><p>mento de desconforto e tristeza (tabela 3).</p><p>Tentou-se entrar no universo de cada voluntário, e buscar</p><p>em suas respostas subsídios para a escolha das categorias.</p><p>. �O que mudou na sua vida após a amputação? �</p><p>�Tudo. � (A7)</p><p>�Tudo" .... Mudou tudo, toda a minha vida...</p><p>meu ritmo de vida todo" � (A8).</p><p>Tabela 3: Unidades temáticas da questão GA-1</p><p>Unidades Temáticas Categorias</p><p>Questões Positivas Mudança signi! cativa de vida</p><p>Ausência de mudanças</p><p>Resgate da relação familiar</p><p>Valorização da vida</p><p>Sentimento de bem-estar</p><p>Resgate da autoestima</p><p>Questões Negativas Aumento da dependência</p><p>Sentimento de perda do membro</p><p>Sentimento de desconforto e tristeza</p><p>Conformação</p><p>GA-2. Quanto a sua autoimagem após a amputação</p><p>Ao serem indagados sobre esta visão pessoal a respeito da</p><p>amputação, encontramos dezessete evocações, agrupadas em</p><p>dez categorias de sentido (tabela 4). Como núcleo central encon-</p><p>tramos a mudança de comportamento, seguido pelos seguintes</p><p>sistemas periféricos: visão da deficiência física, visão otimista da</p><p>vida, dependência total, ausência de mudanças e outros.</p><p>As categorias descritas vieram da observação da fala de</p><p>alguns voluntários, como:</p><p>�... Impotente... Tem tudo tem que depender dos outros.�</p><p>(A5)</p><p>�Dependente...Eu me vejo muito</p><p>dependente. � (A7)</p><p>Tabela 4: Análise Frequêncial de Ordem da Questão GA-2</p><p>(NC=Núcleo Central e SP=Sistema Periférico)</p><p>Categoria Frequência % Ordem</p><p>01 NC Mudanças signi! cativas de vida 4 23 3</p><p>01 NC Mudança de comportamento 3 17,6 1</p><p>02 SP Visão da de! ciência física 2 11,6 1</p><p>03 SP Visão otimista da vida 2 11,6 1</p><p>04 SP Dependência total 2 11,6 1</p><p>05 SP Ausência de mudanças 1 6 1</p><p>06 SP Sentimento de impotência 1 6 1</p><p>07 SP Visão pessimista da vida 1 6 1</p><p>08 SP Dependência na locomoção 3 17,6 0</p><p>09 SP Sem alterações para as AVDs 1 6 0</p><p>10 SP Não soube o que dizer 1 6 1</p><p>GA-3. Quanto ao sentimento das outras pessoas a respei-</p><p>to da sua amputação</p><p>Ao serem questionados a respeito desta questão, encon-</p><p>tramos quinze evocações, distribuídas em sete categorias de</p><p>sentido. A categoria onde percebemos que não houve impac-</p><p>tos sobre a deficiência, ficou como núcleo central. Como</p><p>sistemas periféricos encontramos: negação da amputação,</p><p>impacto da deficiência, melhora nas perspectivas de vida,</p><p>aumento da fragilidade, sentimento de conformação e senti-</p><p>mento de piedade (tabela 5).</p><p>As respostas encontradas nas entrevistas reforçam a es-</p><p>colha das categorias:</p><p>�.... Me veem bem, normal, muitos têm pena, outros não</p><p>tem... � (A3)</p><p>�Me vê normalmente... � (A5)</p><p>�Vê, vê normal né. � (A6)</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>210</p><p>GP-1.Quanto à mudança de vida após a protetização</p><p>Buscamos analisar e verificar as mudanças ocorridas na</p><p>vida dos voluntários após a protetização. Ao serem questio-</p><p>nados sobre este tema obtivemos dezessete evocações, agru-</p><p>padas em sete categorias de sentido (tabela 6). Como núcleo</p><p>central foi encontrado a melhora significativa da perspectiva</p><p>de vida, e como sistemas periféricos encontramos que não</p><p>houve mudanças, mas que também houve melhora na loco-</p><p>moção, maior participação social, resgate da alegria e melho-</p><p>ra nas atividades de vida diária (AVDs).</p><p>Tabela 6: Análise frequêncial de ordem da questão GP-1</p><p>(NC=Núcleo Central e SP=Sistema Periférico)</p><p>Categoria Frequência % Ordem</p><p>01 NC Melhora significativa</p><p>da perspectiva de vida 5 29 5</p><p>02 SP Não houve mudança 1 6 1</p><p>03 SP Melhora na locomoção 5 29 0</p><p>04 SP Maior participação social 2 12 0</p><p>05 SP Resgate da alegria 2 12 0</p><p>06 SP Melhora nas AVDs 1 6 0</p><p>07 SP Autonomia nas atividades domésticas 1 6 0</p><p>Podemos ainda reagrupar as categorias surgidas em duas</p><p>unidades temáticas inferidas. A primeira unidade temática</p><p>composta por categorias que trazem a idéia de questões sócio</p><p>afetivas, colocadas pelos voluntários como a melhora signi-</p><p>ficativa da perspectiva de vida, ausência de mudanças, maior</p><p>participação social e resgate da alegria. Na segunda unidade</p><p>temática teremos as questões da vida prática, valorizadas nas</p><p>questões de melhora na locomoção, melhora nas AVDs e au-</p><p>tonomia nas atividades domésticas (tabela 7).</p><p>Podemos constatar através da fala dos voluntários os</p><p>sentimentos que retratam as categorias acima descritas:</p><p>�Eu não era feliz, eu chorava muito. Mas agora não!</p><p>Agora quando eu botei a prótese, eu fiquei muito alegre, mas</p><p>é muito mesmo! � (P5)</p><p>�Me deu uma nova perspectiva de vida! Me mexer mais,</p><p>me movimentar, sair... Tava faltando perspectiva. A prótese</p><p>me deu. � (P6)</p><p>Tabela 7: Unidades temáticas da questão GP-1</p><p>Unidades Temáticas Categorias</p><p>Questões Sócio Afetivas Melhora signi" cativa da perspectiva de vida</p><p>Não houve mudança</p><p>Maior participação social</p><p>Resgate da alegria</p><p>Questões da Vida Prática Melhora da locomoção</p><p>Melhora nas AVDs</p><p>Autonomia nas atividades domésticas</p><p>GP-2.Quanto a sua autoimagem após a protetização</p><p>Ao serem indagados sobre esta visão pessoal a respeito</p><p>da protetização, encontramos doze evocações, agrupadas em</p><p>oito categorias de sentido (tabela 8). Como núcleo principal</p><p>obtivemos o resgate da imagem corporal normal e a sensação</p><p>de bem-estar, e como alguns dos sistemas periféricos o sen-</p><p>timento de empolgação com a vida, melhora da independên-</p><p>cia, melhora na locomoção, aumento da autoestima, a entre</p><p>outros, que são confirmados pelas respostas dos voluntários,</p><p>conforme descrito abaixo:</p><p>�Eu me vejo muito ótimo! Muito bem mesmo! Mas</p><p>muito, muito bem, Graças à Deus! � (P5)</p><p>�Uma coisa que a muito tempo não tinha era empolgação! É</p><p>uma coisa que me empolgou. Foi isso, eu botar a prótese! � (P6)</p><p>Tabela 8: Análise frequêncial de ordem da questão GP-2</p><p>(NC=Núcleo Central e SP=Sistema Periférico)</p><p>Categoria Frequência % Ordem</p><p>01 NC Resgate da imagem corporal normal 2 16,7 2</p><p>02 NC Sensação de bem-estar 2 16,7 2</p><p>03 SP Não houve mudança 1 8,3 1</p><p>04 SP Sentimento de empolgação com a vida 1 8,3 1</p><p>05 SP Melhora da independência 2 16,7 0</p><p>06 SP Melhora na locomoção 2 16,7 0</p><p>07 SP Aumento da autoestima 1 8,3 0</p><p>08 SP Permanência da sensação de invalidez 1 8,3 0</p><p>GP-3.Quanto ao sentimento das outras pessoas a respeito</p><p>da sua protetização</p><p>Quanto a esta questão, encontramos ao entrevistar os vo-</p><p>luntários protetizados, treze evocações, distribuídas em sete</p><p>categorias de sentido. Na tabela 9 podemos observar que sur-</p><p>giram dois núcleos principais: a mudança na imagem corpo-</p><p>ral e o sentimento de felicidade. Como sistemas periféricos</p><p>encontramos a indiferença com a deficiência, o incentivo à</p><p>reabilitação, o aumento da independência, a valorização da</p><p>protetização e a melhora na locomoção.</p><p>As categorias descritas foram criadas através da percep-</p><p>ção que se teve das falas dos voluntários:</p><p>� Muito alegre, muito satisfeito... Meu irmão, ...meus</p><p>primos...minha outra irmã que mora no interior, eu ligo pra</p><p>ela e falo: Ó já tô treinando! � (P5)</p><p>Tabela 9: Análise Frequêncial de Ordem da Questão GP-3</p><p>(NC=Núcleo Central e SP=Sistema Periférico)</p><p>Categoria Frequência % Ordem</p><p>01 NC Mudança na imagem corporal 2 15,4 2</p><p>02 NC Sentimento de felicidade 2 15,4 2</p><p>03 SP Indiferença com a de" ciência 2 15,4 1</p><p>04 SP Incentivo à reabilitação 2 15,4 1</p><p>05 SP Aumento da independência 2 15,4 0</p><p>06 SP Valorização da protetização 2 15,4 0</p><p>07 SP Melhora na locomoção 1 7,6 0</p><p>Análise do Questionário de Vida SF-36</p><p>Quanto à avaliação da qualidade de vida, através do proto-</p><p>colo SF-36, a média mais baixa no GA foi obtida pelo domínio</p><p>Aspectos Emocionais (50,0 ± 44,1) e o mais alto nível foi atingi-</p><p>do pelo domínio Dor (80,3 ± 26,7), enquanto que no GP a média</p><p>mais baixa foi no domínio Capacidade Funcional (50,8 ± 17,2)</p><p>e a mais elevada no domínio Aspectos Sociais (95,8 ± 9,3).</p><p>Tabela 5: Análise frequêncial de ordem da questão GA-3</p><p>(NC=Núcleo Central e SP=Sistema Periférico)</p><p>Categoria Frequência % Ordem</p><p>01 NC Não houve impactos</p><p>sobre a de" ciência 4 26,6 4</p><p>02 SP Negação da amputação 4 26,6 1</p><p>03 SP Impacto da de" ciência 1 6,6 1</p><p>04 SP Melhora nas perspectivas de vida 1 6,6 1</p><p>05 SP Aumento da fragilidade 1 6,6 1</p><p>06 SP Sentimento de conformação 2 13,5 0</p><p>07 SP Sentimento de piedade 2 13,5 0</p><p>211</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>A análise de variância não obteve nenhum valor alta-</p><p>mente significante, indicando que não há altos níveis de</p><p>diferença entre os domínios que compões a qualidade de</p><p>vida dos grupos de voluntários avaliados. Apenas o domínio</p><p>Aspectos Sociais apresentou significativa diferença entre o</p><p>grupo de amputados e o grupo de protetizados (P = 0,046),</p><p>como mostra a tabela 10.</p><p>Tabela 10: Valores dos domínios do questionário SF-36 -</p><p>(Média ± Desvio Padrão)</p><p>GA GP P</p><p>Capacidade Funcional (0-100) 57,5 ± 28,2 50,8 ± 17,2 0,621</p><p>Aspectos Físicos (0-100) 56,3 ± 41,0 75,0 ± 38,2 0,433</p><p>Dor (0-100) 80,3 ± 26,7 92,7 ± 10,9 0,294</p><p>Estado Geral de Saúde (0-100) 52,1 ± 19,5 65,0 ± 10,8 0,171</p><p>Vitalidade (0-100) 56,3 ± 18,7 58,3 ± 14,0 0,829</p><p>Aspectos Sociais (0-100) 75,0 ± 21,7 95,8 ± 9,3 0,046*</p><p>Aspectos Emocionais (0-100) 50,0 ± 44,1 66,7 ± 38,5 0,862</p><p>Saúde Mental (0-100) 67,5 ± 28,7 64,7 ± 23,0 0,234</p><p>*diferença significativa p<0,05 (Grupo de Amputados versus Protetizados)</p><p>Análise do questionário de medida de independência</p><p>funcional � MIF</p><p>Na análise de Medida da Independência Funcional, ve-</p><p>rificamos que não existem</p><p>diferenças significativas entre os</p><p>domínios. No GA obtivemos escores da MIF Motora (81,4</p><p>+ DP 2,7), da MIF Cognitiva (33,8 + DP 1,5) e da MIF Total</p><p>(115,1 + DP 3,7), com valores semelhantes aos encontrados</p><p>no GP: MIF Motora (82,2 + DP 3,2), MIF Cognitiva (34,5 +</p><p>DP 0,8) e MIF Total (116,7 + DP 3,6), conforme tabela 11.</p><p>Tabela 11: Valores dos Domínios do Questionário MIF -</p><p>(Média ± Desvio Padrão)</p><p>GA GP P</p><p>Cuidados Pessoais (6-42) 40,8 ± 0,4 40,7 ± 0,9 0,859</p><p>Controle Esfincteriano (2-14) 13,8 ± 0,4 13,8 ± 0,4 0,727</p><p>Mobilidade/Transferências (3-21) 19,0 ± 1,0 19,3 ± 0,9 0,567</p><p>Locomoção (2-14) 7,9 ± 1,6 8,3 ± 1,7 0,647</p><p>Comunicação (2-14) 13,5 ± 0,9 14,0 ± 0 0,170</p><p>Cognição Social (3-21) 20,3 ± 1,3 20,5 ± 0,8 0,683</p><p>Discussão</p><p>Um indicador de grande relevância para a qualidade de</p><p>vida é a independência funcional, tendo como fatores asso-</p><p>ciados as condições de saúde, a realização de atividades e as</p><p>relações sociais. Vários estudos demonstram que o bem-estar</p><p>físico está diretamente associado à uma boa saúde física, sen-</p><p>do um grande indicativo de bem-estar psicológico. A presen-</p><p>ça de incapacidade funcional, causada pela amputação de um</p><p>membro inferior, traz consequências sobre a independência e</p><p>autonomia da pessoa amputada. Ao reabilitar o paciente am-</p><p>putado, através da protetização, tem-se como objetivo princi-</p><p>pal a melhora de sua capacidade funcional, que trará implica-</p><p>ções diretas na melhora de sua qualidade de vida.</p><p>A literatura mostra que há divergência sobre qual as-</p><p>pecto tem maior relevância na vida das pessoas amputadas.</p><p>São observadas queixas de diversos aspectos: psicossociais</p><p>(emocional, lazer e social), e físicos (locomoções, transfe-</p><p>rências, dor, realização das AVDs).</p><p>Na pesquisa qualitativa, o grupo de amputados mostrou</p><p>que o aspecto mais relevante foram as mudanças significa-</p><p>tivas de vida, onde a visão que tem de si mesmo advém de</p><p>várias mudanças de comportamento diante da amputação,</p><p>mesmo percebendo que diante das outras pessoas não hou-</p><p>veram impactos sobre esta deficiência.</p><p>Já o grupo de pacientes protetizados relata que houve</p><p>melhora significativa da perspectiva de vida, onde o principal</p><p>aspecto vivenciado pelos protetizados é o resgate da imagem</p><p>corporal normal junto com a sensação de bem-estar, que traz</p><p>em relação ao seu contexto social uma visão de mudança nesta</p><p>imagem corporal associada ao sentimento de felicidade.</p><p>Com isso, observamos que atualmente existe uma pre-</p><p>ocupação maior com as condições de vida do amputado, e</p><p>não apenas com o desenvolvimento das próteses. Neste es-</p><p>tudo, utilizamos o questionário de qualidade de vida SF-36</p><p>para avaliar estas condições, onde observamos que a única</p><p>mudança significativa encontrada entre os grupos de volun-</p><p>tários amputados e protetizados, foi para Aspectos Sociais.</p><p>Quanto à independência funcional avaliada pelo MIF,</p><p>observamos que a diferença entre os dois grupos (amputados</p><p>e protetizados) também não é marcante. Talvez pelas condi-</p><p>ções sócio-econômicas dos grupos avaliados, onde as neces-</p><p>sidades do dia-a-dia estimulam uma maior independência e</p><p>autonomia, tanto de amputados quanto de protetizados.</p><p>Abdalla e Galindo (2013) correlacionaram qualidade de</p><p>vida com capacidade locomotora (independência funcional)</p><p>e mostraram que o questionário SF-36 apresentou uma dife-</p><p>rença estatisticamente significativa entre grupos de amputa-</p><p>dos e de protetizados, ao estudar uma amostra de 25 pacien-</p><p>tes, homens e mulheres, com idade acima de 18 anos.</p><p>Caldas e outros (2008) estudaram uma amostra de 12 pa-</p><p>cientes, todos do sexo masculino, com idades entre 20 e 35</p><p>anos, e ao utilizar o questionário SF-36 também encontraram</p><p>resultados relevantes quanto a qualidade de vida dos pacientes.</p><p>Em estudos feitos por Vaz (2012) o questionário SF-36</p><p>avaliou os aspectos psicossociais de pacientes com amputa-</p><p>ção de membros inferiores, mas demostrou pontuações bai-</p><p>xas para os pacientes, principalmente nas dimensões físicas.</p><p>Segundo Chamliam (2014) e Silva (2014), que avaliaram</p><p>grupos de amputados através do MIF, demonstraram que não</p><p>houve diferenças significativas nos resultados estatísticos.</p><p>Já Caldas (1993) encontrou níveis bem marcantes de de-</p><p>pendência, sobretudo em autocuidados, ao avaliar um grupo</p><p>de pacientes amputados do sexo masculino, com idade média</p><p>de 62 anos, utilizando o questionário de medida funcional.</p><p>Num estudo de revisão de literatura feito por Thuller e</p><p>outros (2006), onde foram investigados 11 artigos entre os</p><p>anos de 2000 a 2005, sem limites de faixa etária, chegou-</p><p>-se à conclusão de que faltam mais estudos e métodos mais</p><p>específicos para avaliação dos pacientes com amputação de</p><p>membros inferiores.</p><p>Com base nos meus estudos, observei que a análise quali-</p><p>tativa demonstrou mudanças positivas na vida dos voluntários</p><p>do grupo protetizado, em relação aos voluntários do grupo de</p><p>amputados. O estudo também ressaltou a diferente visão no</p><p>que se refere à etiologia da amputação, onde percebemos que</p><p>houve uma fala diferenciada para o único voluntário de etio-</p><p>logia traumática, onde suas percepções são sempre negativas</p><p>em relação à protetização, diferenciando-o dos demais volun-</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>212</p><p>tários protetizados. Uma nova pesquisa, com grupos mais ho-</p><p>mogêneos deverá trazer resultados mais semelhantes.</p><p>�Para mim por enquanto não mudou nada...� (P4)</p><p>� ...tô me sentindo inválida do mesmo jeito...� (P4)</p><p>Quanto ao questionário de qualidade de vida SF-36,</p><p>mesmo sendo um excelente avaliador e sendo este utiliza-</p><p>do por diversos estudiosos, não apresentou em meus estudos</p><p>resultados relevantes, deixando a idéia de que não seria o</p><p>mais adequado para pacientes com amputações em membros</p><p>inferiores. Em comparação com os resultados da análise qua-</p><p>litativa, o único ponto em comum foram os aspectos sociais</p><p>(único domínio de resultados relevantes no SF-36), que no</p><p>GA teve como núcleo central a ausência de impactos sobre</p><p>a deficiência, mas no GP demonstra a mudança na imagem</p><p>corporal e o sentimento de felicidade.</p><p>No questionário de independência funcional - MIF, tam-</p><p>bém não foi observado nenhum resultado significativo para</p><p>nenhuma de suas dimensões. Mas como a independência</p><p>funcional está intimamente ligada às necessidades da vida,</p><p>concluí que estas necessidades tornam o amputado quase tão</p><p>independente quanto o protetizado.</p><p>Diante dos resultados encontrados, sugere-se o desen-</p><p>volvimento de novos estudos que utilizem grupos com carac-</p><p>terísticas diferentes as dos grupos estudados, como mesma</p><p>etiologia de amputação, ou amputação em mesmo dimidio,</p><p>buscando uma maior homogeneidade entre os voluntários, ou</p><p>a validação de um novo instrumento de avaliação mais especí-</p><p>fico para pacientes com amputação de membros inferiores.</p><p>Faz ainda necessário maior adequação e conhecimento</p><p>em relação aos processos de reabilitação funcional para am-</p><p>putados e protetizados. Sugere-se a continuidade de estudos</p><p>nesse tema, buscando identificar melhor os aspectos que in-</p><p>terferem diretamente na qualidade de vida e na melhora fun-</p><p>cional dos pacientes com amputação de membros inferiores.</p><p>Conclusão</p><p>Quanto aos aspectos abordados na pesquisa qualitati-</p><p>va, foi possível identificar que a presença da protetização</p><p>promoveu para estes pacientes não apenas uma melhora da</p><p>perspectiva de vida, mas principalmente um resgate da ima-</p><p>gem corporal normal e da felicidade. No entanto, o mesmo</p><p>não foi observado nas medidas de qualidade de vida e na</p><p>independência funcional. A partir dos instrumentos utiliza-</p><p>dos não foi possível observar nenhum impacto relevante da</p><p>protetização quando comparado com os indivíduos com am-</p><p>putação transfemural unilateral.</p><p>Referências</p><p>1. Diretrizes de Atenção à Pessoa Amputada. Disponível em http://bvsms.saude.gov.</p><p>br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_pessoa_amputada.pdf. Acessado em 10 de outu-</p><p>bro de 2014.</p><p>2. Resende M C de, Cunha C P B da, Silva A P e Sousa S J. Rede de Relações e Satisfação</p><p>com a Vida em Pessoas com Amputação</p><p>de Membros. Ciências & Cognição. 2007; 10:</p><p>164-177.</p><p>3. Paiva L L, Goellner S V. Reinventando a vida: um estudo qualitativo sobre os signi! ca-</p><p>dos culturais atribuídos à reconstrução corporal de amputados mediante a Protetização.</p><p>Interfase: Comunicação, Saúde, Educação. 2008; 12 (26): 485-487.</p><p>4. Pedrinelli A. Reabilitação no Paciente Amputado: conceitos cirúrgicos gerais. Anais do</p><p>IV Simpósio Internacional de Fisioterapia. Revista Fisioter Universidade de São Paulo.</p><p>1999; 6: 19-35.</p><p>5. Carvalho J A. Amputações de Membros Inferiores: Em Busca da Plena Reabilitação. 1ª</p><p>Edição. São Paulo: Editora Manole, 1999.</p><p>6. Santos L H G, Faria A C S, Mendes M S, Barbosa D, Souza R A de. Análise Postural</p><p>comparativa dos períodos de pré e pós Protetização no paciente amputado transfemural �</p><p>Relato de Caso. Coleção Pesquisa em Educação Física. 2009; 8 (4): 31-36.</p><p>7. Teixeira G, Novak V C. Nível de Independência física dos amputados de membros in-</p><p>feriores do município de Guarapuava-PR. XIII Encontro Latino Americano de Iniciação</p><p>Cientí! ca e IX Encontro Latino Americano de Pós Graduação � Universidade do Vale do</p><p>Paraíba. 2009; 1-4.</p><p>8. Barreto A B, Vargas A L, Mello R de. Problemas Fisioterapêuticos dos pacientes ampu-</p><p>tados da clínica escola de ! sioterapia da Universidade Estadual do Centro-Oeste. 2010;</p><p>Anais do XIX EAIC.</p><p>9. Gabarra L M; Crepaldi M A. Aspectos Psicológicos da Cirurgia de Amputação. 2009; 30:</p><p>59-72.</p><p>10. Matheus M C C, Pinho F S. Buscando mobilizar-se para a vida apesar da dor ou da am-</p><p>putação. Acta Paul Enferm. 2006; 19 (1): 49-55.</p><p>11. Pacheco K M B, Ciampa A C. O Processo de Metamorfose na Identidade da Pessoa com</p><p>Amputação. Acta Fisiatr. 2006; 13 (6): 163-167.</p><p>12. Chamlian T R, Santos J K, Faria C C, Pirrelo M S, Leal C P. Dor Relacionada à Am-</p><p>putação e Funcionalidade em Indivíduos com Amputação de Membros Inferiores. Acta</p><p>Fisiatr. 2014; 21 (3): 113-116.</p><p>13. Lains J, Azenha A, Caldas J. Hemiplegia e Amputação: Avaliação Funcional. MFR.</p><p>1993; 1: 7-11. Silva A C, Vey A P Z, Vendrusculo A P. Hidrocinesioterapia na Qualidade</p><p>de Vida de Amputados de Membros Inferiores Unilaterais. Disciplinarum Scientia. 2014;</p><p>15 (1): 65-74.</p><p>14. Borges, J B C. Avaliação da Medida de Independência Funcional � Escala MIF � E da</p><p>Percepção da Qualidade de Vida de Serviço � Escala SERVQUAL � Em Cirurgia Cardí-</p><p>aca. 2006.</p><p>15. Riberto M, Miyazaki M H, Jucá S S H, Sakamoto H, Pinto P P N, Battistella L R. Valida-</p><p>ção da Versão Brasileira da Medida de Independência Funcional. Acta Fisiatr. 2004; 11</p><p>(2): 72-76.</p><p>16. Vaz I M, Roque V, Pimentel S, Rocha A, Duro H. Caracterização Psicossocial de uma</p><p>População Portuguesa de Amputados do Membro Inferior. Acta Med Port. 2012; 25</p><p>(2): 77-82.</p><p>17. Martins D L, Rabelo R J. In" uência da Atividade Física Adaptada na Qualidade de Vida</p><p>de De! cientes Físicos. Movimentum. 2008; 3 (2): 1-11.</p><p>18. Probstner D, Thuler L C S. Incidência e Prevalência De Dor Fantasma em Pacientes</p><p>Submetidos à Amputação de Membros: Revisão de Literatura. Revista Brasileira de Can-</p><p>cerologia. 2006; 52 (4): 395-400.</p><p>19. Gomes E S, Coutinho R A M, Baraúna K M P, Valetine E F. Estudo Correlacional da</p><p>Qualidade de Vida em Amputados de Membros Inferiores Transfemural e Transtibial.</p><p>Nova Físio, Revista Digital. 2012: 15 (87).</p><p>20. Caldas A S, Amantéia M R A, Lauriano T F. Per! l da Qualidade de Vida em Pacientes</p><p>Protetizados na URE Dr. Demétrio Medrado. 2008.</p><p>21. Abdalla A A, Galindo J, Ribeiro S C, Riedi C, Ruaro J A, Fréz A R. Correlação entre Qua-</p><p>lidade de Vida e Capacidade Locomotora em Indivíduos com Amputação de Membros</p><p>Inferiores. Conscientiae Saúde. 2013: 12 (1): 106-113.</p><p>22. Gouveia R, Canedo A, Barreto P, Ferreira J, Braga S, Vasconcelos J, Vaz A G. Reconhe-</p><p>cer os Limites da Revascularização: Re" exão sobre 3 Anos de Experiência em Amputa-</p><p>ções de um Centro Cirúrgico. Angiologia e Cirurgia Vascular. 2012; 8 (4): 162-172.</p><p>23. Correia T S, Tamashiro L H, Chamlian T R, Masiera D, Medicina de Reabilitação. BVS.</p><p>2007; 26 (1): 7-10.</p><p>24. Ciconelli R M, Ferraz M B, Santos W, Meinão I, Quaresma M R. Tradução para Língua</p><p>Portuguesa e Validação do Questionário Genérico de Avaliação de Qualidade de Vida</p><p>SF-36 (Brasil SF 36). Revista Brasileira de Reumatologia. 1999; 39 (3): 143-150.</p><p>25. Guerra I C. Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo � Sentido e Formas de Uso. 1ª</p><p>Edição. São Paulo: Princípia Editora, 2006.</p><p>213</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Revisão</p><p>Características anatomofisiológicas</p><p>da articulação temporomandibular</p><p>Characteristics anatomophysiological</p><p>of the temporomandibular joint</p><p>Aureliano da Silva Guedes1, Antônio José da Silva Nogueira2,</p><p>Aureliano da Silva Guedes II3</p><p>Resumo</p><p>O conhecimento da Articulação Temporomandibular (ATM) é de fundamen-</p><p>tal importância como suporte diagnóstico e procedimentos eficientes e eficazes</p><p>de diversas patologias por fisioterapeutas, cirurgiões bucomaxilofacial, cirurgi-</p><p>ões de cabeça e pescoço e outros profissionais, nesse sentido este paper mostra</p><p>as principais estruturas anatomofisilógicas do mecanismo da ATM como suporte</p><p>a atuação clínica.</p><p>Palavras-chave: articulação temporomandibular � anatomia, articulação tempo-</p><p>romandibular � fisiologia, anatomia de cabeça e pescoço</p><p>Abstract</p><p>The knowledge of the temporomandibular joint (TMJ) is crucial to support</p><p>diagnosis and efficient and effective procedures for various diseases by physical</p><p>therapists, oral and maxillofacial surgeons and head and neck surgeons and other</p><p>professionals, in that sense this paper shows the main anatomophysiological struc-</p><p>tures of the TMJ mechanism in support of clinical performance.</p><p>Keywords: temporomandibular joint � anatomical, temporomandibular joint �</p><p>physiological, anatomy of head and neck</p><p>1. Prof. Pos Doc. Fisioterapeuta, epidemiologista.</p><p>Coord. da Pós-graduação em Geomedicina - IG</p><p>- Universidade Federal do Pará</p><p>2. Prof. PhD Cirurgião Dentista. Professor Titular</p><p>da Universidade Federal do Pará</p><p>3. Acadêmico de Odontologia da Escola Superior</p><p>da Amazônia</p><p>Endereço para correspondência: Aureliano</p><p>Guedes � Tv. Lomas Valentinas, 1412 ap. 1704</p><p>� Belém � PA � CEP 66.093-671.</p><p>E-mail aurelian@ufpa.br</p><p>Recebido para publicação em 18/07/2016 e acei-</p><p>to em 26/10/2016, após revisão.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>214</p><p>Introdução</p><p>A Articulação Temporomandibular (ATM) é uma das ar-</p><p>ticulações que possui muita complexibilidade , necessitando</p><p>da compreensão da mecânica do movimento para entendê-la.</p><p>A ATM é tão ou mais complexa quanto às articulações dos</p><p>joelhos. Sua função também é abrangente, compreendendo</p><p>a fonação, deglutição, mastigação, bocejo, expressão, etc.,</p><p>através dos movimentos de abaixamento, quando há a aber-</p><p>tura da boca; elevação da mandíbula quando há o fechamen-</p><p>to da boca e, os movimentos de protrusão e retração, além</p><p>dos movimentos de lateralidade para a esquerda ou direita,</p><p>portanto cinco movimentos.</p><p>O seu conhecimento demanda a compreensão dos mús-</p><p>culos, estruturas ligamentosas, ossos, cartilagens, dentes e</p><p>outros envolvidos no processo osteocinemático. Assim po-</p><p>dendo, se necessário, estabelecer diagnósticos funcionais de</p><p>caráter multidisciplinar, envolvendo profissionais habilita-</p><p>dos, como fisioterapeutas, dentistas e cirurgiões de cabeça e</p><p>pescoço e cirurgiões bucomaxilofacial.</p><p>Diante disto, o objetivo deste paper é descrever as estru-</p><p>turas anatomofisiológicas da articulação temporomandibular</p><p>para um melhor diagnóstico fisioterapêutico e odontológico.</p><p>A metodologia utilizada foi exploratória-explicativa,</p><p>com técnicas de levantamentos bibliográficos, através de</p><p>meios impressos e eletrônicos, localizados em bibliote-</p><p>cas e nas principais plataformas de saúde como: BIREME,</p><p>IBECS, LILACS, MEDLINE, SciELO, dentre outras, onde</p><p>as buscas foram realizada com o uso das palavras articulação</p><p>temporomandibular, anatomia temporomandibular, fisiolo-</p><p>gia temporomandibular e anatomia da cabeça e pescoço, nos</p><p>idiomas português, espanhol e inglês.</p><p>Descrição anatômica</p><p>Quando comparada a articulação temporomandibular de</p><p>adultos, a articulação fetal possui características histológicas</p><p>diferentes. As superfícies articulares fetais são compostas</p><p>por tecido conjuntivo denso, e o disco articular também se</p><p>mostra altamente celurariado. Abaixo do revestimento celu-</p><p>lar do côndilo fetal, comparece cartilagem hialina. Isso é um</p><p>centro de crescimento. Nesse local, a cartilagem cresce qua-</p><p>se exclusivamente por crescimento oposicional (isto é, novas</p><p>camadas de cartilagem são apostas na superfície da anterior-</p><p>mente existente), mais do que por crescimento intersticial</p><p>(isto é, as células dentro da cartilagem dividindo), tais como</p><p>nas extremidades dos ossos longos. Conforme continua o de-</p><p>senvolvimento, a cartilagem é gradualmente substituída por</p><p>osso. Osso compacto forma-se sob o forramento do tecido</p><p>conjuntivo fibroso, e osso trabecular substitui a cartilagem</p><p>dentro da cabeça condilar. O côndilo toma a forma histoló-</p><p>gica adulta, porém essa transformação não ocorre precoce-</p><p>mente. A cartilagem condilar persiste e possui potencial de</p><p>crescimento até que o indivíduo atinja 20 anos de idade. É o</p><p>centro de crescimento mais persistente do organismo1.</p><p>A localização anatômica está anteriormente à orelha e</p><p>na extremidade postosuperior da mandíbula. É a articulação</p><p>entre a fossa mandibular do osso temporal, superiormente</p><p>e à cabeça da mandíbula do osso temporal. A ATM é uma</p><p>articulação sinovial e tem formato de dobradiça. Como tam-</p><p>bém possibilita alguns deslizamentos, não é uma articulação</p><p>sinovial do tipo gínglimo pura e simples2.</p><p>Os movimentos temporomandibulares dependem da</p><p>sinergia de vários músculos, onde se destacam: masseter,</p><p>pterigoideos medial e lateral, temporal, além do digástrico,</p><p>esterno-hióideo, esternotireoideo, estilohioideo, gênio-hiói-</p><p>deo, infra-hióideo, milo-hioideo, omo-hióideo, supra-hiói-</p><p>deo e tíreo-hioideo. No que concerne a osteologia envolvida</p><p>na ATM destacam-se os ossos: esfenoide, hioide, mandíbu-</p><p>la, maxilar, temporal e zigomático. (tabela 1 e 2).</p><p>Tabela 1: Principais músculos envolvidos na ATM.</p><p>Baseado em Lippert (2013)</p><p>Tabela 2: Agonistas primários da ATM.</p><p>Movimento da mandíbula Músculos</p><p>Elevação Temporal, masseter, pterigoideo medial</p><p>Abaixamento Pterigóideo lateral</p><p>Protrusão Pterigóideo lateral, pterigoideo medial</p><p>Retração Temporal (parte posterior)</p><p>Desvio lateral ipsilateral Temporal, masseter</p><p>Desvio lateral contralateral Pterigóideo medial, pterigoideo lateral</p><p>Fonte: Lippert (2013, p.183)</p><p>A articulação temporomandibular é formada pelo pro-</p><p>cesso condilar da mandíbula que se ajusta frouxamente na</p><p>fossa mandibular do temporal. É uma articulação sinovial</p><p>que permite uma grande amplitude de rotação, bem como de</p><p>translação. Um disco articular amortece as forças musculares</p><p>repetitivas e potencialmente grandes, está entre a mastiga-</p><p>ção. O disco separa a articulação em duas cavidades articula-</p><p>res sinoviais. A cavidade articular inferior encontra-se entre</p><p>a face inferior do disco e o processo condilar. A cavidade</p><p>superior maior, está entre a face superior do disco e o osso</p><p>formado pela fossa mandibular e a �eminencia articular�3.</p><p>No que se refere aos ligamentos e outras estruturas: O</p><p>ligamento lateral é conhecido como �ligamento temporo-</p><p>mandibular�. Posteriormente, ! xa-se no colo da mandíbula e</p><p>no disco articular, depois dirige-se superoanteriormente até o</p><p>tubérculo articular do osso temporal. Limita os movimentos</p><p>de abaixamento, de retração e lateral da mandíbula2.</p><p>215</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>O ligamento esfenomandibular � xa-se na espinha do</p><p>osso esfenoide e segue até a metade da superfície medial do</p><p>ramo da mandíbula. Sustenta a mandíbula e limita o movi-</p><p>mento excessivo da protrusão. O ligamento esfenomandi-</p><p>bular é importante para limitar o movimento exagerado de</p><p>abaixamento da mandíbula2.</p><p>O ligamento estilomandibular segue no processo estiloi-</p><p>de do osso temporal até a margem posteroinferior do ramo da</p><p>mandíbula (ângulo mandibular). Situa-se junto aos músculos</p><p>masseter e pterigoideo medial, e sua função é limitar o movi-</p><p>mento anterior excessivo (protrusão)2.</p><p>O ligamento estilo-hioideo � xa-se no processo estiloide</p><p>do osso temporal e segue até o osso hioide. Sua função é</p><p>manter o hioide em sua posição2.</p><p>A articulação é dividida pelo menisco em um compartimen-</p><p>to superior e um inferior. O volume do compartimento superior</p><p>é cerca de duas vezes maior que a do compartimento inferior4.</p><p>A cápsula articular recobre as superfícies articulares do</p><p>osso temporal e a cabeça da mandíbula. Assim como o disco.</p><p>Ela pode ser identi� cada superiormente ao longo do arco da</p><p>fossa mandibular, anteriormente ao redor da superfície da emi-</p><p>nencia articular e inferiormente ao redor da cabeça mandibular5.</p><p>A cápsula articular envolve a ATM � xando-se superiormente no</p><p>tubérculo articular e nas margens da fossa mandibular do osso</p><p>temporal. Inferiormente, � xa-se no colo da mandíbula2.</p><p>O disco articular da ATM é semelhante ao disco da arti-</p><p>culação esternoclavicuar. Está � xado circunferencialmente à</p><p>cápsula articular e parcialmente ao tendão do músculo pteri-</p><p>goideo lateral. Também divide a cavidade articular em dois</p><p>compartimentos: um espaço articular superior maior, e um</p><p>espaço articular inferior, menor. A face superior do disco arti-</p><p>cular é tanto côncava quanto convexa para ser compatível com</p><p>o formato da fossa mandibular e do tubérculo articular. A face</p><p>inferior côncava do disco articular se adapta à face convexa</p><p>da cabeça da mandíbula e possibilita que a articulação perma-</p><p>neça congruente durante todo o movimento. O formato e as</p><p>� xações do disco articular também tornam possível seu movi-</p><p>mento anterior/posterior sobre a cabeça da mandíbula. Como</p><p>a � xação do disco articular na mandíbula é mais � rme do que</p><p>no osso temporal, ele pode mover-se anteriormente com a ca-</p><p>beça da mandíbula quando a boca se abre, e retorna à posição</p><p>posterior (de repouso) quando a boca se fecha2.</p><p>O crescimento da cartilagem condilar afeta a altura e o</p><p>comprimento da mandíbula in� uenciando sobre a forma da</p><p>face. Em boa parte do crescimento do côndilo mandibular</p><p>pode determinar a oclusão mandibular. Ortondontistas refe-</p><p>rem-se a esse tipo de oclusão como Classe II e III1.</p><p>Membrana sinovial é constituída por um tecido conjun-</p><p>tivo frouxo, composta por um estroma de � bras colágenas e</p><p>três camadas de � broblastos, posicionadas sobre todo o disco</p><p>até um período de 120 dias de formação fetal. Com o cres-</p><p>cimento e a erupção dentária, essa membrana degenera, per-</p><p>manecendo somente na porção anterior e posterior do tecido</p><p>discal. É ricamente inervada por um contingente simpático</p><p>de tal forma que, quando traumatizada, produz uma dor in-</p><p>tensa, aguda, lancinante e de difícil localização6.</p><p>O � uido sinovial normal apresenta-se claro ou levemente</p><p>amarelado. É obtido a partir do plasma sanguíneo e por secreção</p><p>das células sinoviais existentes na membrana sinovial. Sua lu-</p><p>bri� cação ocorre a partir do ácido hialurônico, responsável pela</p><p>viscosidade do � uido sinovial, o qual permite um contato suave</p><p>entre a sinovial e cartilagem. Também há uma glicoproteína, de-</p><p>nominada de lubricina, produzida a partir de células sinoviais,</p><p>capaz de � xar moléculas de água à cartilagem, hidratando-a.</p><p>Isso possibilita à cartilagem articular sofrer a ação de cargas,</p><p>deformando-se sem alterar a sua estrutura funcional6.</p><p>A inervação da ATM é recolhida por ramos da terceira</p><p>divisão do nervo trigêmeo (mandibular). O nervo aurículo-</p><p>temporal inerva a parte posterior medial e lateralmente; o</p><p>nervo masseterino inerva a parte medial e anterior da cápsu-</p><p>la, e o nervo temporal profundo posterior as porções anterio-</p><p>res e laterais da cápsula articular6.</p><p>Se os músculos acessórios dos grupos supra-hióideo e</p><p>infra-hióideo são incluídos, a inervação é feita também pe-</p><p>los nervos cranianos facial e hipoglosso. O nervo hipoglosso</p><p>também se comunica com os primeiros três nervos cervicais2.</p><p>A ATM é suprida,</p><p>primordialmente de três vasos arteriais:</p><p>artéria temporal super� cial para sua porção posterior, a menín-</p><p>gea média para a porção anterior, e a maxilar para sua porção</p><p>inferior. Estão presentes também outras artérias que contri-</p><p>buem para a nutrição da ATM. São elas a auricular profunda, a</p><p>timpânica anterior e a faríngea ascendente. A drenagem veno-</p><p>sa é realizada pelas veias temporal super� cial, maxilar e pelo</p><p>plexo pterigoideo. A cápsula articular e os ligamentos do disco</p><p>são ricamente vascularizados durante o crescimento, mas não</p><p>são vascularizados durante a fase adulta6.</p><p>Movimentos da articulação temporomandibular</p><p>A articulação temporomandibular (ATM) é uma das</p><p>mais complexas estruturas faciais. Trata-se de uma diartrose,</p><p>bilateral, com movimentação segundo três eixos, condilar</p><p>(elipsoide), com superfícies ósseas discordantes6.</p><p>Se examinarmos um crâneo seco, é aparente que as su-</p><p>perfícies articulares do côndilo e da sua cavidade recíproca</p><p>permitem um movimento mínimo. O côndilo geralmente é</p><p>descrito como uma articulação universal, mas essa descrição</p><p>não se aplica porque cada côndilo traz limitações ao movi-</p><p>mento do outro. Um côndilo não pode se mover de qual-</p><p>quer forma sem um movimento recíproco do lado oposto.</p><p>Nos movimentos de abertura e fechamento, os dois côndilos</p><p>possuem um eixo comum, e assim agem como dobradiça.</p><p>Apesar de o fato dos côndilos raramente serem simétricos,</p><p>a rotação axial ocorre ao redor de uma dobradiça verdadeira</p><p>que está num eixo � xo quando os côndilos estão totalmente</p><p>assentados. A rotação ao redor de um eixo horizontal � xo pa-</p><p>rece improvável devido a angulação dos côndilos em relação</p><p>ao eixo horizontal. Cada côndilo normalmente faz um ângu-</p><p>lo de 900 com o plano do ramo mandibular, formando um</p><p>ângulo obtuso entre os côndilos. Para entender como côndi-</p><p>los com diferentes alinhamentos podem rotacionar ao redor</p><p>de um eixo comum � xo, nós devemos observar o contorno</p><p>dos polos mediais e sua relação com a fossa articular. Em</p><p>função das diferentes angulações e assimetrias dos côndilos,</p><p>o polo medial é o único ponto lógico que permitirá uma rota-</p><p>ção verdadeira ao redor de um eixo � xo7.</p><p>Na posição de repouso imagina-se uma pessoa em pé ou</p><p>sentada olhando para frente e para longe, com os lábios em</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>216</p><p>leve contato e a musculatura mandibular relaxada. É esta a</p><p>posição de repouso da mandíbula, na qual os músculos man-</p><p>dibulares estão em contração mínima, contraídos apenas o</p><p>su� ciente para manter a postura. Os dentes superiores não</p><p>estão em contato e o espaço entre eles é chamado espaço</p><p>funcional livre ou interoclusal. Certos fatores podem inter-</p><p>ferir com a constância desta posição; por exemplo, a dor,</p><p>o estresse físico e emocional e a postura. Se a cabeça for</p><p>inclinada para traz, a relação maxila-mandíbula se modi� -</p><p>cará, aumentando o espaço funcional livre. Por outro lado,</p><p>se a cabeça for inclinada para a frente, poderá mesmo eli-</p><p>minar completamente o espaço funcional livre. A posição de</p><p>repouso é importante para o descanso muscular e alívio das</p><p>estruturas de suporte dental8,9.</p><p>Quando a mandíbula está em repouso, sua cabeça está</p><p>assentada na fossa mandibular do osso temporal. A posição</p><p>normal de repouso da mandíbula é com os lábios aproximados</p><p>dos dentes afastados alguns milímetros. Essa posição é man-</p><p>tida pelo baixo nível de atividade dos músculos temporais2.</p><p>A posição de descanso da mandíbula é uma posição na-</p><p>tural na qual existe um balanço entre o peso da mandíbula</p><p>e as forças que suportam as ATMs na posição vertical. Na</p><p>posição ereta é impossível eliminar completamente a sobre-</p><p>carga da articulação ou eliminar toda a tensão muscular, uma</p><p>vez que os músculos da mastigação devem contrair-se para</p><p>manter a boca fechada contra a força da gravidade. Na po-</p><p>sição normal de descanso a língua é mantida contra o palato</p><p>duro por pressão negativa do ar dentro da boca, formando</p><p>uma área conhecida como espaço de Donder. A pressão ne-</p><p>gativa diminui a quantidade de força muscular necessária</p><p>para suportar a mandíbula. As duas � leiras de dentes não se</p><p>encostam na posição de descanso, mas os lábios se tocam</p><p>levemente. Nessa posição, a cabeça da mandíbula � ca de</p><p>frente para a eminencia articular do osso temporal e o disco</p><p>é localizado anteriormente na cabeça da mandíbula entre as</p><p>duas superfícies de articulação. Essa combinação da posição</p><p>do disco e a atividade mecânica muscular limitada não so-</p><p>brecarrega o tecido mole da ATM. Em contraste, a posição</p><p>de oclusão é de� nida como a postura na qual as duas � leiras</p><p>de dentes estão levemente em contato5.</p><p>O movimento da mandíbula normalmente envolve ação</p><p>bilateral das articulações temporomandibulares. A função</p><p>anormal em uma das articulações interfere na função da ou-</p><p>tra. Os princípios para a compreensão da artrocinemática da</p><p>articulação temporomandibular são: 1) durante o movimento</p><p>de rotação, o processo condilar da mandíbula rola em relação</p><p>à face inferior do disco e, 2) durante o movimento de trans-</p><p>lação, o processo condilar e o disco deslizam essencialmente</p><p>juntos. Isto é chamado de translação do complexo processo</p><p>condilar-disco. O disco é esticado na direção do processo</p><p>condilar em translação3.</p><p>O abaixamento da mandíbula envolve dois movimen-</p><p>tos. O primeiro é realizado pela rotação anterior da cabeça</p><p>da mandíbula sob o disco articular. O segundo movimento</p><p>requer o deslizamento anterior e inferior do disco articular</p><p>e da cabeça da mandíbula sob o tubérculo articular2. Se o</p><p>conjunto côndilo-disco estiver completamente assentado em</p><p>Relação Centrica, o disco está posicionado na posição mais</p><p>súpero-anterior (no topo do côndilo) que o ligamento posterior</p><p>permitir. Nessa posição, as forças do carregamento condilar</p><p>são dirigidas para o terço medial do disco e para anterior, atra-</p><p>vés da superfície anterior do côndilo contra a posição mais</p><p>íngreme da eminência. A medida que o ventre inferior do mús-</p><p>culo pterigoideo lateral começa a tracionar o disco anterior-</p><p>mente, o ventre superior do músculo pterigoideo lateral libera</p><p>a contração para permitir que as � bras elásticas comecem a</p><p>tracionar o disco mais para o topo do côndilo7.</p><p>Na abertura máxima da mandíbula quando o côndilo</p><p>atinge a crista da eminência, o disco deve estar diretamen-</p><p>te no topo do côndilo à medida que as forças são dirigidas</p><p>superiormente contra a parte mais plana da eminência ar-</p><p>ticular. Nesse momento as � bras elásticas já rotacionam o</p><p>disco posteriormente porque o ventre superior do músculo</p><p>pterigoideo lateral está em liberação controlada7. A abertura</p><p>da boca deve ser su� ciente para se colocar dois ou três dedos</p><p>entre os dentes anteriores superiores e inferiores2. Da po-</p><p>sição de abertura máxima, a mandíbula pode ser deslocada</p><p>para frente e para cima, isto é, movimentos de protrusão e</p><p>elevação concomitantes, o máximo possível. Alcança assim,</p><p>a mandíbula sua posição mais protrusiva. Nessa posição, a</p><p>borda incisal do incisivo inferior � ca em um nível mais alto</p><p>que a borda do incisivo superior8.</p><p>A elevação da mandíbula requer o deslizamento poste-</p><p>rior e superior do disco articular da cabeça da mandíbula,</p><p>fazendo rodar posteriormente a referida cabeça sob o disco.</p><p>Esses movimentos ocorrem no plano sagital2.</p><p>A medida que a mandíbula se fecha, o côndilo começa a</p><p>se mover para trás e para cima na inclinação acentuada da emi-</p><p>nência, de tal forma que o disco deve ser tracionado de volta</p><p>para a porção anterior do côndilo. Para que isso ocorra o ven-</p><p>tre superior do músculo pterigoideo lateral começa contração</p><p>à medida que o ventre inferior do músculo pterigoideo lateral</p><p>libera o côndilo para s músculos elevadores que o tracionam</p><p>de volta. Quando o côndilo atinge a relação concêntrica, o dis-</p><p>co já está ´posicionado tão anteriormente quanto o ligamento</p><p>posterior permitir. O ventre superior sustenta a contração para</p><p>manter o disco corretamente alinhado7.</p><p>A protrusão e a retração exigem movimentos de desliza-</p><p>mento anterior/posterior no plano horizontal. Não há rotação. O</p><p>movimento anterior e posterior de todas as partes da mandíbula</p><p>é igual. A cabeça da mandíbula e o disco articular movem-se em</p><p>bloco em relação a fossa mandibular do osso temporal2.</p><p>Durante a protrusão da mandíbula, a zona intermediá-</p><p>ria do disco articular � ca entre as convexidades do processo</p><p>condilar e a eminencia articular. O disco é comprimido entre</p><p>a mandíbula e o osso temporal na lateral da articulação5.</p><p>A retrusão ocorre na direção oposta e é limitada pela ten-</p><p>são do ligamento anterior e � bras musculares e pela massa</p><p>do tecido retrodiscal do disco. Como o tecido retrodiscal é</p><p>muito vascularizado e bem inervado, a compressão ou irrita-</p><p>ção do tecido retrodiscal por retrusão excessiva ou continua-</p><p>da pode produzir dor na ATM5.</p><p>O movimento lateral ocorre no plano horizontal. Uma</p><p>cabeça da mandíbula roda na fossa mandibular, enquanto a</p><p>outra desliza no sentido anterior. Para mover a mandíbula</p><p>para o lado esquerdo, há rotação da sua cabeça esquerda e</p><p>217</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>deslizamento anterior da sua cabeça direita. Essa rotação</p><p>ocorre em torno do eixo longitudinal5. No desvio lateral, o</p><p>disco é estabilizado entre os elementos osteoarticulares no</p><p>lado em direção ao qual a mandíbula desvia. No lado oposto,</p><p>o disco articular se protrai, e o tecido retrodiscal preenche a</p><p>metade posterior e lateral da fossa mandibular3. A excursão</p><p>lateral da mandíbula normalmente é combinada com outras</p><p>translações e rotações relativamente leve. Normalmente a</p><p>trajetória especí� ca do movimento é conduzida pelo contato</p><p>feito entre os dentes opostos e a fossa mandibular2.</p><p>Há um aspecto do movimento mandibular, de considerável</p><p>importância, que é o movimento de Bennett. Frequentemente</p><p>durante o movimento lateral, pode ocorrer um deslocamento</p><p>lateral de toda a mandíbula enquanto se realiza o processo de</p><p>rotação e translação. Portanto, o côndilo do lado do movimento</p><p>(côndilo direito para o movimento lateral direito) não perma-</p><p>nece sem deslocamento, mas desloca-se cerca de 1,5 milímetro</p><p>para o lado do movimento (direito, no caso). Esta mudança de</p><p>posição da mandíbula para a lateral é chamada movimento de</p><p>Bennett que pode variar de pessoa para pessoa8,9.</p><p>Conclusão</p><p>Diversos sinais e sintomas podem estar relacionados à</p><p>ATM, os Fisioterapeutas e os Cirurgiões Dentistas devem</p><p>estar atentos à queixas de crepitação ao mastigar ou falar,</p><p>dor e/ou zumbidos no ouvido, constantes enxaquecas, dentre</p><p>outras. Diversas patologias podem estar relacionadas com a</p><p>ATM, dentre elas a anquilose, aplasia condilar, artrite reu-</p><p>matoide, atrição, condomatose sinovial, hiperplasia condi-</p><p>lar, luxação condilar, nevralgia do trigêmeo, osteoartrite da</p><p>ATM, dentre outras.</p><p>A atuação multidisciplinar incluindo o � sioterapeuta e o</p><p>Cirurgião Dentista é fundamental para uma terapêutica efe-</p><p>tiva e e� caz. Contudo, esses pro� ssionais devem estar muni-</p><p>dos dos conhecimentos anatomo� siológicos da ATM, inclu-</p><p>sive no que concerne a diagnóstico por imagem radiográ� ca,</p><p>para que possam estabelecer em caráter multidisciplinar o</p><p>tratamento adequado a essa região tão complexa.</p><p>Referências</p><p>1. Mel� , Rudy C., Alley, Keith E. Embriologia e histologia Oral de Permar: Manual para</p><p>estudantes de odontologia. 10 ed. São Paulo: Santos, 2010.</p><p>2. Lippert, Lynn. Cinesiologia Clínica e Anatomia. 5 ed Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.</p><p>3. Neumann, Donald A. Cinesiologia do Aparelho Musculoesquelético: fundamentos para</p><p>reabilitação física. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.</p><p>4. Pogrel, M.Anthony, Kahnberg, Karl-Erik, Anderson, Lars. Cirurgia bucomaxilofacial. Rio</p><p>de Janeiro: Santos, 2016.</p><p>5. Iglarsh, Z. Annette. Estrutura e função das estruturas articulares da ATM. In: OATIS, Carol</p><p>A. Cinesiologia: A mecânica e a patomecânica do movimento humano. 2 ed. Barueri-SP:</p><p>Manole, 2014.</p><p>6. Grossmann, E., Furtado, S., Grossmann, T.K., Vall E, R. T., Fernandes, R.S.M. Anato-</p><p>mo� siologia do sistema mastigatório. In: Valle, R. T., Grossmann, E., Fernandes, R.S.M.</p><p>Disfunções temporomandibulares: abordagem clínica. Nova Odessa-SP: Napoleão Edito-</p><p>ra, 2015.</p><p>7. Dawson, Peter E. Oclusão: Da ATM ao Desenho do Sorriso. São Paulo: Editora . Em</p><p>dSantos, 2008.</p><p>8. Madeira, Miguel Carlos, Rizzolo, Roelf J. Cruz. Anatomia do dente. 7 ed. São Paulo: Sar-</p><p>vier, 2014.</p><p>9. Madeira, Miguel Carlos. Anatomia da face: Bases anatomofuncionais para a prática odon-</p><p>tológica. 7 ed. São Paulo: Servier, 2010. ISBN 978-85-7378-205-9.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>218</p><p>Revisão</p><p>O uso da corrente russa na</p><p>flacidez abdominal em mulheres no puerpério</p><p>The power use of russian</p><p>flaccidity abdominal in women in puerperium</p><p>Izabel Cristina Melo de Oliveira1, Maria dos Prazeres Carneiro Cardoso2</p><p>Resumo</p><p>Introdução: A aplicação da corrente russa passou a ser uma das ferramentas</p><p>que mais atuam no combate a flacidez muscular, com a utilização de eletrodos na</p><p>superfície da musculatura esquelética para fornecimento de corrente elétrica que</p><p>conduz a contrações musculares involuntárias15. Objetivo: Promover um estímu-</p><p>lo ao músculo estriado esquelético proporcionando um aumento na capacidade</p><p>de gerar força e hipertrofia, sendo também aplicada para ajudar na redução de</p><p>dor7. Metodologia: Este estudo caracteriza-se por uma revisão integrativa, com</p><p>abordagem qualitativa, sendo uma pesquisa exploratória, com busca das obras</p><p>potenciais nas bases científicas de dados. Resultados: O uso da eletroestimulação</p><p>russa na fase puerperal tem a capacidade de atuar na fisiologia estética, e também</p><p>contribuir na parte emocional e psicológica da paciente, melhorando sua qualidade</p><p>de vida. Conclusão: Por meio de revisão de literaturas realizadas neste estudo,</p><p>constatou-se a importância do uso desta técnica para promover a regeneração dos</p><p>músculos retos abdominais em um menor tempo, com o objetivo de reduzir a flaci-</p><p>dez e a diástase da musculatura abdominal no puerpério, aumentando a capacidade</p><p>e manutenção da musculatura abdominal.</p><p>Palavras-chave: estimulação elétrica neuromuscular, diástase abdominal, puer-</p><p>pério, gestação.</p><p>Abstract</p><p>Introduction: The application of the russian chain has become one of the tools</p><p>that are most active in fighting muscle flaccidity, with the use of electrodes on the</p><p>surface of skeletal muscle to supply electrical current that leads to involuntary</p><p>muscle contractions15. Objective: To promote a stimulus to skeletal muscle resul-</p><p>ting in an increase in capacity to generate strength and hypertrophy, and also ap-</p><p>plied to help reduce pain7. Methodology: This study is characterized by an integra-</p><p>tive review, with qualitative approach, with an exploratory research with search</p><p>of potential works in the scientific basis of. Results: The use of russian electrical</p><p>stimulation in puerperal phase has the ability to act in aesthetic physiology, and</p><p>also contribute to the emotional and psychological part of the patient, improving</p><p>their quality of life. Conclusion: Through literature review performed in this stu-</p><p>dy, there was the importance of using this technique to promote the regeneration</p><p>of the rectus abdominis muscles in a shorter time, in order to reduce sagging and</p><p>diastasis of .the abdominal muscles in the postpartum period, increasing the capa-</p><p>city and maintenance of the abdominal muscles.</p><p>Keywords: neuromuscular electrical stimulation, diastasis abdominal puerpe-</p><p>rium, gestation.</p><p>1 . Graduanda do Curso Bacharelado em Fisiotera-</p><p>pia pelas faculdades INTA.</p><p>2. Mestre em Ciências Médico Cirúrgicas pela</p><p>Universidade Federal do Ceará e Doutoranda</p><p>em Ciências Médico Cirúrgicas pela Universi-</p><p>dade Federal do Ceará.</p><p>Endereço para correspondência:</p><p>E-mail: belano2005@bol.com.br</p><p>Recebido para publicação em 09/09/2016 e acei-</p><p>to em 13/10/2016, após revisão.</p><p>219</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Introdução</p><p>A pele representa o maior órgão corporal de um ser hu-</p><p>mano. Em um indivíduo</p><p>adulto, ela mede uma área que varia</p><p>entre 1,5 a 2,0 m, possui peso que varia de 8 a 10 kg. É</p><p>constituída de três camadas bem diferentes: A hipoderme, a</p><p>derme e a epiderme¹. Suas principais funções são: proteção,</p><p>excreção, regulação da temperatura, percepção sensitiva e</p><p>imagem corporal². A pele possui uma característica viscoe-</p><p>lástica, pois tem a facilidade de modificar-se quando há uma</p><p>pressão exercida sobre ela. Tendo a pele uma boa capacidade</p><p>ou não de resistir a uma determinada tensão. Pode ser ava-</p><p>liada em duas fases, sendo que se após a retirada da carga o</p><p>tecido voltar a sua dimensão anterior essa fase se caracteriza</p><p>como elástica, mas se o tecido ficar deformado de forma per-</p><p>manente, essa fase se caracteriza por plástica³. Ela representa</p><p>condições físicas e psicológicas, saúde, diferenças étnicas e</p><p>culturais; por isso é de grande importância manter a sua in-</p><p>tegridade, para que seja sempre possível manter a proteção</p><p>contra os danos ao qual o ser humano está exposto, como a</p><p>radiação, traumatismo, agentes químicos e térmicos².</p><p>Com o avançar da idade a pele vai mudando suas carac-</p><p>terísticas, vai ficando delgada, enrugada, seca e escamosa; fi-</p><p>bras colágenas presentes na derme ficam mais grossas, fibras</p><p>elásticas vão perdendo sua elasticidade e há uma gradativa</p><p>diminuição de gordura no tecido subcutâneo o que provoca o</p><p>surgimento de hipotonia muscular e flacidez4.</p><p>A redução do tônus faz com que resulte em uma dimi-</p><p>nuição da consistência da musculatura, podendo ser evidente</p><p>por duas maneiras diferentes: quando há flacidez no múscu-</p><p>lo, e quando há flacidez visível na pele, podendo estas duas</p><p>situações estarem presentes no mesmo local5.</p><p>A estimulação elétrica vem sendo utilizada largamente pela</p><p>fisioterapia. A aceitação da estimulação elétrica neuromuscular</p><p>(corrente russa) foi demonstrada tanto em pesquisas como em</p><p>tratamentos de reabilitação, essa técnica possui a capacidade de</p><p>melhorar o desempenho de músculos esqueléticos saudáveis6.</p><p>Há pouco mais de 40 anos, profissionais fisioterapeutas</p><p>vem utilizando a técnica de eletroestimulação neuromuscu-</p><p>lar russa para o tratamento e prevenção de atrofias muscu-</p><p>lares, o objetivo do tratamento é promover um estímulo ao</p><p>músculo estriado esquelético proporcionando um aumento</p><p>na capacidade de gerar força e hipertrofia, sendo também</p><p>aplicada para ajudar na redução de dor7. Também é muito</p><p>utilizada terapeuticamente em diversos tratamentos, como</p><p>tratamento para disfunções da bexiga, em reabilitação de</p><p>disfagia , no tratamento da dor crônica e também é utilizada</p><p>em pós-operatório. A sua atuação no músculo é de origem</p><p>central e periférica, fortalecendo a musculatura8.</p><p>O uso desta técnica tem como principal enfoque a dimi-</p><p>nuição da perda de tônus muscular , que provoca a flacidez,</p><p>gerando melhoras tanto no fator estético, e busca proporcio-</p><p>nar um maior rendimento do músculo no setor esportivo.</p><p>Esse é um método que estimula a produção de hipertrofia</p><p>muscular, fazendo com que muitos atletas de elite aumentem</p><p>seu ganho de força em 30 a 40% superior aqueles gerados</p><p>por uma contração voluntária máxima da musculatura9.</p><p>A partir do sexto mês de gestação, o desenvolvimento</p><p>fetal, somado a um grande aumento de gordura localizada</p><p>faz com que seja provocado uma diástase abdominal. Uma</p><p>Diástase do músculo reto abdominal quando está analisada</p><p>acima de 2,5 cm provavelmente é considerada prejudicial,</p><p>devido essa medição representar uma dificuldade na capa-</p><p>cidade da musculatura abdominal de poder esta¬bilizar o</p><p>tronco e isso interferir em determinadas funções como por</p><p>exemplo a postura, o parto, durante a defecação, movimen-</p><p>tos do tronco, além de prejudicar na contenção das vísceras e</p><p>na estabilização lombar10.</p><p>No período gestacional, acontecem muitas mudanças no</p><p>corpo da mulher, dentre elas estão as alterações hormonais e</p><p>corporais; O útero em desenvolvimento causa uma protusão</p><p>no abdomem, e provoca um afastamento anterior do centro</p><p>de gravidade. A Diástase dos músculos reto abdominais, é</p><p>caracterizada quando ocorre um afastamento das bordas da</p><p>musculatura do reto abdominal, que se afastam com o pro-</p><p>pósito de conceder o crescimento do feto durante a gestação.</p><p>Esse processo causa o estiramento e gera uma grande fraque-</p><p>za muscular dessa região11.</p><p>Na diástase, ocorre uma projeção anterior da parede ab-</p><p>dominal, que leva ao aparecimento de problemas funcionais</p><p>como dor nas costas devido a má postura12.</p><p>Na fase do puerpério, principalmente nas 6 a 8 primei-</p><p>ras semanas após o parto, período conhecido como puerpério</p><p>imediato, já é notável a flacidez na região abdominal, resul-</p><p>tante do acúmulo de gordura que ficou armazenado nesse</p><p>local, o que provoca na mulher uma insatisfação grandiosa</p><p>com seu novo corpo, gerando uma série de transtornos emo-</p><p>cionais para ela10.</p><p>O estudo teve como finalidade proporcionar uma alter-</p><p>nativa de tratamento para promover a regeneração dos mús-</p><p>culos retos abdominais em um menor tempo, excluindo a</p><p>necessidade de que essas mulheres precisem fazer exercícios</p><p>que necessite esforço físico de grande intensidade.</p><p>Metodologia</p><p>Este estudo caracteriza-se por uma revisão de caráter</p><p>exploratório do tipo integrativa, com abordagem qualitativa,</p><p>por ter uma maior amplitude de conhecimentos sobre a me-</p><p>todologia referente às revisões, o que admiti a inclusão de</p><p>estudos experimentais e não-experimentais, garantindo um</p><p>melhor entendimento do assunto analisado13.</p><p>Definiu-se como fonte de busca a Literatura Latino-</p><p>-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),</p><p>Scientific Electronic Library Online (SciELO), National</p><p>Library of Medicine (MEDLINE). Para a seleção nas bases</p><p>de dados, foram utilizados os seguintes descritores (DECs):</p><p>Diástase Abdominal, Puerpério, Eletroestimulação Neuro-</p><p>muscular, Gestação. Para a seleção dos estudos desta revisão</p><p>integrativa, adotamos os seguintes critérios de elegibilidade:</p><p>artigos completos publicados em português e inglês que pos-</p><p>suíam a integração ao objetivo proposto e que abordassem de</p><p>forma precisa ao assunto estudado.</p><p>Resultados</p><p>Com base nos estudos selecionados, foram encontrados</p><p>16 estudos, onde 7 eram sobre Eletroestimulação Neuromus-</p><p>cular, 3 sobre Diástase do músculo reto abdominal, 1 sobre</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>220</p><p>Fisioterapia Dermatofuncional, 4 sobre Fisioterapia Tegu-</p><p>mentar, 1 sobre Revisão Integrativa.</p><p>Quadro 1: Lista de artigos selecionados.</p><p>Artigo Quantidade</p><p>Eletroestimulação Neuromuscular 7</p><p>Diástase do músculo reto abdominal 3</p><p>Fisioterapia Dermatofuncional 1</p><p>Fisioterapia Tegumentar 4</p><p>Revisão Integrativa 1</p><p>TOTAL 16</p><p>Depois da leitura dos resumos das publicações encon-</p><p>tradas pela associação dos descritores, foram selecionados</p><p>dezesseis artigos para leitura e análise, a fim de obter melhor</p><p>entendimento sobre o assunto da pesquisa. Desses artigos</p><p>eleitos, todos foram encontrados no SciELO. Os artigos en-</p><p>contrados na MEDLINE e LILACS não se enquadraram no</p><p>perfil de obras procuradas para construção da pesquisa.</p><p>Discussão</p><p>Segundo Lima & Rodrigues (2012) a fisioterapia der-</p><p>matofuncional veio reforçar uma nova concepção de beleza</p><p>do século XX, fazendo com que muitas mulheres que não</p><p>se sentem satisfeitas com aquelas gordurinhas que não de-</p><p>saparecem nem com atividade física, nem com aquelas die-</p><p>tas malucas, busquem alternativas de melhorar sua imagem</p><p>corporal. Um dos instrumentos utilizados pela fisioterapia</p><p>dermato-funcional é a estimulação elétrica neuromuscular</p><p>(EENM), que utiliza uma frequência média, e dessa modali-</p><p>dade, a corrente russa é a que mais vem sendo utilizada, pois</p><p>essa técnica promove a contração da musculatura reduzindo</p><p>a flacidez da musculatura que ficou hipotrofiada14.</p><p>A aplicação da corrente russa passou a ser uma das fer-</p><p>ramentas que mais atuam no combate a flacidez muscular,</p><p>com a utilização de eletrodos na superfície da musculatura</p><p>esquelética para fornecimento de corrente elétrica que conduz</p><p>a contrações musculares involuntárias15; O seu uso</p><p>vem sendo</p><p>utilizado para trazer de volta aquele corpo desejado, e vem</p><p>fazendo com que muitas pessoas busquem por essa tecnologia</p><p>como método de obter a hipertrofia muscular sem precisar fa-</p><p>zer treinamentos físicos de forma intensa. É bastante utilizada</p><p>por profissionais fisioterapeutas em clínicas de estétical16.</p><p>O uso desta técnica tem como objetivo a diminuição da</p><p>perda de tônus muscular , que provoca a flacidez, gerando</p><p>melhoras tanto no fator estético, e busca proporcionar um</p><p>maior rendimento do músculo no setor esportivo. Esse é um</p><p>método que estimula a produção de hipertrofia muscular9. O</p><p>uso da eletroestimulação russa vai atuar na fisiologia estéti-</p><p>ca, e também contribuir na parte emocional e psicológica da</p><p>paciente, melhorando sua autoestima que proporcionalmente</p><p>ajuda na sua qualidade de vida.</p><p>Conclusão</p><p>Estudos vêm mostrando que a fisioterapia dermatofun-</p><p>cional está ganhando cada vez mais aceitação no mercado</p><p>mundial, a sua atuação vem substituindo a necessidade de</p><p>tratamentos cirúrgicos que provocam dor e efeitos pós-cirúr-</p><p>gicos. A eletroestimulação Neuromuscular russa é uma alter-</p><p>nativa de tratamento contra flacidez muscular, este método</p><p>provoca no músculo um estimulo elétrico que faz com que</p><p>ocorra uma contração involuntária trazendo respostas bené-</p><p>ficas, resultando no aumento da força e tonicidade daquela</p><p>musculatura solicitada.</p><p>Muitas mulheres após a gestação apresentam uma diás-</p><p>tase na região abdominal, devido a um aumento exagerado de</p><p>peso durante a gestação, o que provoca sentimentos de desani-</p><p>mo, fragilidade e decepção; é preciso lidar com a aceitação de</p><p>um novo corpo, e muitas dessas mulheres insatisfeitas buscam</p><p>novas formas de tratamento para melhorar sua auto estima, e</p><p>retornar aquele corpo que possuíam antes de engravidar.</p><p>Esta técnica exclui a necessidade de a mulher precisar</p><p>fazer exercícios físicos de alta intensidade neste período</p><p>puerperal, evitando que ela tenha problemas futuros, sendo</p><p>esse um tratamento indolor, que não traz nenhum cansaço ou</p><p>incomodo a paciente, fazendo com que a mulher se sinta bem</p><p>com os resultados, contribuindo tanto na área estética como</p><p>também na parte psicológica e emocional da paciente.</p><p>Referências</p><p>1. Souto et al. Model for human skin reconstructed in vitro composed of associated</p><p>dermis and epidermis. Sao Paulo Med J. 2006;124(2):71-6.</p><p>2. Resende, D, M; Bachion, M. M; Araújo, A, O. Integridade da pele prejudicada em</p><p>idosos: estudo de ocorrência numa comunidade atendida pelo Programa Saúde da</p><p>Família. Acta Paul Enferm 2006;19(2):168-73</p><p>3. Pòvoa, G; Diniz, L, M. O Sistema do Hormônio de Crescimento: interações com a</p><p>pele*.An Bras Dermatol. 2011;86(6):1159-65</p><p>4. Guirro, Rinaldo; Guirro, Eliane, Fisioterapia Dermato-funcional. Fundamentos,</p><p>recursos, patologias. 3º edição. São Paulo, Editora Manole, 2004).</p><p>5. Mendonça; Rodrigues, 2011. As principais alterações dermatológicas em pacientes</p><p>obesos. Abcd Arq Bras Cir Dig 2011;24(1): 68-73</p><p>6. Avila, M.A., Brasileiro, J.S., Salvini, T.F. .Estimulação elétrica e treinamento iso-</p><p>cinético: efeitos na força e propriedades neuromusculares de adultos jovens sadios.</p><p>Rev Bras Fisioter, São Carlos, v. 12, n. 6, p. 435-40, nov./dec. 2008.</p><p>7. Pelizzarri et al. Estimulação elétrica neuromuscular de média freqüência (russa)</p><p>em cães com atro! a muscular induzida. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.3,</p><p>p.736-742, mai-jun, 2008.</p><p>8. Dadalto, T, V; Souza, C, P; Silva, E, B. Eletroestimulação neuromuscular, exer-</p><p>cícios contrarresistência, força muscular, dor e função motora em pacientes com</p><p>osteoartrite primária de joelho. Fisioter. Mov., Curitiba, v. 26, n. 4, p. página 777-</p><p>789, set./dez. 2013.</p><p>9. Durigan et al. Efeitos da estimulação elétrica neuromuscular no músculo sóleo de</p><p>ratos: análise morfométrica e metabólica. Acta Ortop Bras 16(4: 238-241, 2008).</p><p>10. Rett et al. Fatores materno-infantis associados à diástase dos músculos retos do abdo-</p><p>me no puerpério imediato. Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, 14 (1): 73-80 jan.</p><p>/ mar., 2014.</p><p>11. Santos et al. Does abdominal diastasis in" uence lumbar pain during gestation? Rev</p><p>Dor. São Paulo, 2016 jan-mar;17(1):43-6.</p><p>12. Mendes et al. Ultrasonography for measuring rectus abdominis muscles diastasis1.</p><p>Acta Cirúrgica Brasileira - Vol 22 (3) 2007.</p><p>13. Souza, M.T., Silva, M.D., Carvalho, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer.</p><p>einstein. 2010; 8(1 Pt 1):102-6.</p><p>14. Lima; Rodrigues. A estimulação russa no fortalecimento da musculatura abdomi-</p><p>nal. Abcd Arq Bras Cir Dig 2012;25(2):125-128</p><p>15. Meireles et al. E! cácia da eletroestimulação muscular expiratória na tosse de pa-</p><p>cientes após acidente vascular encefálico. Fisioter Pesq. 2012;19(4):314-319.</p><p>16. Pernambuco, A.P., de Carvalho, N.M., dos Santos, A.H. A eletroestimulação pode</p><p>ser considerada uma ferramenta válida para desenvolver hipertro! a muscular? Fi-</p><p>sioter Mov. 2013 jan/mar;26(1):123-31.</p><p>221</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Revisão</p><p>Prevenção de lesões em atletas no uso</p><p>de protocolos: uma revisão integrativa</p><p>The effect of protocols for existing injury prevention in athletes:</p><p>an integrative review</p><p>Maykon Felipe Pereira da Silva1, Francisca Maria Aleudinelia Monte Cunha2</p><p>Resumo</p><p>A lesão desportiva envolve vários eventos não desejados que ocorram no en-</p><p>volvimento entre o jogador e o ambiente no decorrer da atividade física. Trata-se</p><p>de uma Revisão Integrativa de literatura, em publicações cientificas de 2009 á</p><p>2015, que se objetivou em analisar aprevenção de lesões em atletas no uso de pro-</p><p>tocolos através de uma revisão integrativa. A coleta de dados foram nas bases de</p><p>dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), (LILACS), (SciELO) e Base de dados</p><p>de Evidência em Fisioterapia (PEDro), utilizando os descritores: Propriocepção,</p><p>pliometria, FIFA 11+, alongamento muscular, protocolos de prevenção de lesões,</p><p>desportos. A busca originou-se em 30 artigos, que obedecendo aos critérios de in-</p><p>clusão e exclusão, resultou em nove artigos completos. Na analise pode-se obser-</p><p>var que todos os artigos estão ligados a área da saúde especificamente na área da</p><p>fisioterapia desportiva, onde buscam mostrar protocolos ou métodos para prevenir</p><p>lesões em atletas. A pesquisa pode significar avanços na prevenção de lesões, onde</p><p>pode no futuro auxiliar fisioterapeutas a realizarem trabalhos preventivos e pes-</p><p>quisas referentes ao tema.</p><p>Palavras-chave: propriocepção, pliometria, fifa 11+, alongamento muscular, pro-</p><p>tocolos de prevenção de lesões, desportos.</p><p>Abstract</p><p>A sports injury involves several unwanted events that occur in the engagement</p><p>between the player and the environment during the physical atividade. This is an</p><p>integrative review of literature in 2009 scientific publications will in 2015, which</p><p>aimed to analyze the prevention of injuries in athletes use protocols through an</p><p>integrative review. The collection of data in the databases Virtual Health Library</p><p>(VHL), (LILACS), (SciELO) and Physiotherapy Evidence Base (PEDro) using</p><p>the key words: Proprioception, plyometrics, FIFA 11+, muscle stretching, injury</p><p>prevention protocols, sports. The search originated in 30 articles, which according</p><p>to the inclusion and exclusion criteria, resulted in nine full articles. In the analysis</p><p>it can be seen that all items are linked to health specifically in the field of sports</p><p>therapy, which seek to show protocols or methods to prevent injuries in athletes.</p><p>The research could mean advances in injury prevention, which may in the future</p><p>assist physiotherapists to carry out preventive work and research on the topic.</p><p>Keywords: proprioception, plyometrics, fifa 11+, muscle stretching, injury pre-</p><p>vention protocols, sports.</p><p>1. Acadêmico de Fisioterapia das Faculdades</p><p>INTA</p><p>2. Fisioterapeuta. Educadora Física. Mestra em</p><p>Saúde Coletiva. Tutora da Residência em</p><p>Urgência e Emergênciadas Faculdades Inta/</p><p>Santa Casa de Misericórdia de Sobral.</p><p>Endereço para correspondência:</p><p>E-mail: aleudinelia@yahoo.com.br</p><p>Recebido para publicação</p><p>a de</p><p>maior valor11. O Pico de Fluxo Expiratório (PFE) foi ana-</p><p>lisado a partir da Capacidade Pulmonar Total, através de</p><p>três medidas em um medidor de pico de fluxo expiratório.</p><p>O maior valor obtido foi usado para quantificar o grau de</p><p>obstrução das vias aéreas.</p><p>A mobilidade torácica foi verificada através da cirtome-</p><p>tria torácica, utilizando-se uma fita métrica escalonada em</p><p>centímetros (cm) e posicionada horizontalmente em quatro</p><p>níveis: axilar, xifoidiano, últimas costelas e linha umbilical.</p><p>Entretanto, para análise dos dados, foi considerado o maior</p><p>valor obtido das três medidas realizadas e calculado o Índice</p><p>de Amplitude (IA), com a finalidade de atenuar as diferentes</p><p>dimensões de tórax e abdômen12.</p><p>A análise postural foi realizada através da fotogrametria</p><p>computadorizada (biofotogrametria). O procedimento para ob-</p><p>tenção das imagens foi padronizado com a determinação de dis-</p><p>tâncias fixas entre a câmera fotográfica e o solo e entre a câmera</p><p>e o voluntário, posicionando a câmera sobre um tripé nivelado</p><p>e colocado paralelamente ao solo, com uma distância de 3,0 m</p><p>do indivíduo avaliado. Os indivíduos se posicionaram com os</p><p>pés descalços a uma distância de 15,0 cm de um pé ao outro e a</p><p>30,0 cm do calcanhar à parede para um melhor equilíbrio corpo-</p><p>ral. Os membros superiores permaneceram na posição neutra.</p><p>Foram retiradas três imagens de cada participante em cada uma</p><p>das quatro posições em ortostatismo: vista anterior, posterior,</p><p>lateral direita e lateral esquerda. Não foi utilizado zoom para</p><p>evitar distorções. Todas as fotografias foram realizadas pelo</p><p>mesmo examinador. Os pontos anatômicos utilizados para aná-</p><p>lise das imagens foram previamente marcados nos voluntários</p><p>por marcadores de isopor brancos. A todos os voluntários foi</p><p>solicitado o uso de um short ou calça de lycra e de um top, para</p><p>que os pontos anatômicos ficassem expostos. Na vista anterior,</p><p>foram marcadas as articulações acrômio-claviculares, apêndi-</p><p>ce xifoide e incisura jugular. Na vista posterior, os processos</p><p>espinhosos da sétima vértebra cervical (C7), décima segunda</p><p>vértebra torácica (T12) e quinta vértebra lombar (L5), ângulos</p><p>inferiores e superiores das escápulas e espinhas ilíacas poste-</p><p>rossuperiores (EIPS). As imagens capturadas foram analisadas</p><p>185</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>pelo software ALCimagem®, que mede os ângulos formados</p><p>pelas linhas traçadas a partir dos pontos anatômicos, a fim de</p><p>identificar e quantificar possíveis assimetrias6,13,14,15,16.</p><p>O instrumento utilizado para avaliar a qualidade de vida</p><p>dos indivíduos asmáticos foi o Questionário sobre Qualida-</p><p>de de Vida em Asma com Atividades Padronizadas (AQLQ</p><p>(S)), que é um questionário específico de medição de quali-</p><p>dade de vida de pessoas com asma, constituído por 32 itens,</p><p>sendo doze itens relativos aos sintomas, onze relativos a li-</p><p>mitações de atividades, cinco relativos à função emocional</p><p>e quatro relativos à exposição ambiental. Foi solicitado aos</p><p>indivíduos que recordassem as experiências das duas últimas</p><p>semanas e que respondessem a cada questão em uma escala</p><p>de sete pontos (de �totalmente limitado� a �nada limitado�).</p><p>A pontuação global do AQLQ (S) foi obtida através da média</p><p>das 32 respostas, e a pontuação individual de cada domínio</p><p>também foi obtida a partir da média dos itens que constituem</p><p>cada domínio. Valores menores que quatro indicam aumen-</p><p>to da gravidade e valores maiores que quatro indicam menor</p><p>comprometimento17,18. O questionário foi aplicado sob a for-</p><p>ma de entrevista, em um ambiente silencioso e isolado, e os</p><p>participantes responderam às questões sem interferência. Para</p><p>interrogar os participantes, o entrevistador leu as questões e as</p><p>alternativas de resposta em voz alta, sem explicações</p><p>A tolerância ao exercício foi avaliada através do Teste de</p><p>Caminhada de Seis Minutos (TC6M), que é um teste de esforço</p><p>submáximo que engloba e integra diversos sistemas envolvidos</p><p>durante a atividade física, sendo indicado principalmente para</p><p>avaliar a capacidade funcional19. É um método simples para se</p><p>observar a melhora do desempenho nas provas de tolerância ao</p><p>exercício, de fácil aplicabilidade, bem tolerado pelos pacientes</p><p>e o que melhor reproduz as atividades de vida diária20. Na re-</p><p>alização do teste, os participantes caminharam em um terreno</p><p>plano, nivelado, sem obstáculos e sem trânsito de pessoas, per-</p><p>fazendo a distância entre dois cones separados por 30 metros, a</p><p>uma velocidade auto imposta pelo próprio voluntário.</p><p>Os dados obtidos foram comparados estatisticamente ao</p><p>nível de 5% de probabilidade, através do software SigmaStat</p><p>3.5 (Systat Software, Inc., 2006). Para a aplicabilidade da cor-</p><p>relação linear simples e comparação entre os grupos, foi testada</p><p>a normalidade dos dados pelo Teste de Normalidade Kolmo-</p><p>gorov-Smirnov. Em seguida, foi aplicado o teste da mediana</p><p>de Levene para verificar a homogeneidade das variâncias. Os</p><p>dados paramétricos foram comparados pelo Paired t-test e os</p><p>dados não paramétricos pelo Wilcoxon Signed Rank Test.</p><p>Resultados</p><p>No presente estudo, foram avaliados oito indivíduos</p><p>asmáticos clinicamente estáveis, com idade mediana de 56</p><p>anos (21,50-57,50). Todos os participantes completaram o</p><p>tratamento e, quando houve falta, a sessão de tratamento foi</p><p>reposta na mesma semana.</p><p>Os resultados deste estudo estão apresentados em tabe-</p><p>las, com formatação padronizada no intuito de facilitar a in-</p><p>terpretação dos dados. A seguir, estão descritas, na tabela 1,</p><p>as características dos indivíduos asmáticos analisados antes</p><p>e após terem sido submetidos ao tratamento pelo Método</p><p>Pilates. Nenhum dos parâmetros avaliados apresentou dife-</p><p>rença estatística após o tratamento.</p><p>Tabela 1: Características da amostra. Valores expressos como</p><p>mediana (1º e 3º quartis) de oito indivíduos com asma, que</p><p>foram submetidos ao tratamento com o Método Pilates. IMC:</p><p>índice de massa corpórea; PAS: pressão arterial sistólica; PAD:</p><p>pressão arterial diastólica; FC: frequência cardíaca; FR: frequ-</p><p>ência respiratória; SpO2: saturação periférica de oxigênio.</p><p>Antes Após P</p><p>IMC (kg/m2) 28,90 (25,68-33,75) 28,90 (25,68-33,75) 1,00</p><p>PAS (mmHg) 121,00 (118,00-139,00) 121,00 (120,00-132,00) 1,00</p><p>PAD (mmHg) 81,00 (77,00-88,00) 80,00 (80,00-84,00) 1,00</p><p>FC (bpm) 77,00 (63,50-91,50) 81,50 (66,50-82,50) 1,00</p><p>FR (irpm) 17,50 (16,50-19,00) 17,00 (13,50-18,50) 0,62</p><p>SpO2 (%) 95,00 (94,00-96,00) 95,00 (94,00-97,00) 0,50</p><p>Na análise da função pulmonar, foram avaliados os pa-</p><p>râmetros de força dos músculos respiratórios e pico de fluxo</p><p>expiratório antes e após o tratamento. Observou-se que ape-</p><p>nas a pressão expiratória máxima foi influenciada pelo Mé-</p><p>todo Pilates, aumentando em 23,88% (p = 0,02). A mobili-</p><p>dade do tórax foi avaliada através da cirtometria torácica em</p><p>quatro níveis: linha axilar, apêndice xifoide, últimas costelas</p><p>e linha umbilical, obtendo-se o índice de amplitude (IA) em</p><p>cada um desses níveis. Após o tratamento, não foi observa-</p><p>da diferença estatística em nenhum dos níveis avaliados. A</p><p>tolerância ao exercício foi analisada através da distância per-</p><p>corrida no teste de caminhada de seis minutos (DP6M). Ao</p><p>comparar esses valores antes e após a aplicação do protocolo</p><p>de tratamento, foi possível observar um aumento de 13,20%</p><p>nesse último parâmetro (p = 0,00) (tabela 2).</p><p>Tabela 2: Análise da função pulmonar, cirtometria torácica</p><p>e teste de caminhada de seis minutos. Dados expressos em</p><p>média ± desvio padrão de oito indivíduos com asma, que</p><p>foram submetidos ao tratamento com o Método Pilates. PI-</p><p>máx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expira-</p><p>tória máxima; PFE: pico de fluxo expiratório; IA: índice de</p><p>amplitude, DP6M: distância percorrida em seis minutos.</p><p>*Estatisticamente diferente dos parâmetros observados antes do</p><p>protocolo de tratamento.</p><p>Antes Após P</p><p>PImáx (cmH2O) -94,00 ± 31,78 -106,50 ± 26,78 0,13</p><p>PEmáx (cmH2O) 90,00 ± 22,82 111,50 ± 10,78 0,02*</p><p>PFE (L/min) 307,50 ± 123,60 335,00 ± 81,59 0,33</p><p>IA axilar 2,47 ± 2,52</p><p>em 21/07/2016 e acei-</p><p>to em 28/08/2016, após revisão.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>222</p><p>Introdução</p><p>A lesão desportiva envolve vários eventos não desejados</p><p>que ocorram no envolvimento entre o jogador e o ambiente</p><p>no decorrer da ativida¬de física, competitiva ou recreati-</p><p>va, resultando em incapacidade física em razão de o corpo</p><p>hu¬mano ou parte dele ter sido sujeito à força que excedeu o</p><p>limiar de tolerância fisiológica1.</p><p>Segundo o grupo de trabalho de prevenção das Lesões Des-</p><p>portivas no Conselho da Europa, o conceito de lesão desportiva</p><p>decorre da participação no desporto com pelo menos uma das</p><p>seguintes consequências: ter necessidade de orientação clínica</p><p>e/ou tratamento; ter repercussões na vida social e econômica; e/</p><p>ou levar à redução total ou parcial das atividades desportivas2.</p><p>Dentre os mecanismos de lesão, têm-se as lesões em ca-</p><p>deia cinética fechada e aberta. As lesões em cadeia cinética</p><p>fechada (situação em que o pé encontra-se apoiado no solo)</p><p>são consideradas graves, envolvendo maior número de estru-</p><p>turas osteomioarticulares, tendo prognóstico desfavorável.</p><p>Já as lesões em cadeia cinética aberta são aquelas em que o</p><p>pé não está em contato com o solo e compromete algumas</p><p>estruturas especificas, tendo, portanto, melhor prognóstico3.</p><p>O alongamento e o aquecimento são práticas comumen-</p><p>te utilizadas antes de qualquer atividade esportiva, seja ela</p><p>competitiva ou recreacional, no intuito de prevenir lesões do</p><p>sistema osteomioarticular. Acredita-se que o aumento da am-</p><p>plitude articular de movimento (ADM) decorrente de uma</p><p>atividade preparatória ao exercício possa melhorar o desem-</p><p>penho e reduzir o risco de lesões em exercícios extenuantes4.</p><p>Diversos estudos na literatura propõem protocolos de trei-</p><p>namento proprioceptivo com o objetivo de prevenir lesões e/</p><p>ou diminuir os sintomas da instabilidade. A propriocepção des-</p><p>creve a consciência de postura, de movimento e das mudanças</p><p>de equilíbrio, englobando ainda o conhecimento da posição, do</p><p>peso e da resistência dos objetos relacionado ao corpo5.</p><p>O FIFA 11+ é um programa completo de aquecimento</p><p>que tem por objetivo reduzir as lesões mais frequentes sofri-</p><p>das por jogadores e jogadoras de futebol. É a versão avança-</p><p>da do programa de prevenção de lesões intitulado �The 11�.</p><p>Em estudos científicos, demonstrou- se que os times de</p><p>futebol de categorias de base que utilizaram o FIFA 11+ como</p><p>aquecimento padrão tiveram um risco significativamente</p><p>menor de lesões que equipes que realizaram aquecimento da</p><p>forma habitual. O estudo justifica-se em buscar protocolos</p><p>ou métodos de prevenção de lesões existentes na literatura e</p><p>objetiva-se analisar a prevenção de lesões em atletas no uso</p><p>de protocolos através de uma revisão integrativa.</p><p>Metodologia</p><p>A escolha do método de revisão integrativa sustenta-se</p><p>pelo fato deste permitir a busca, a avaliação crítica e a síntese</p><p>das evidências disponíveis sobre o tema investigado, tendo</p><p>como produto final o estado atual do conhecimento, a imple-</p><p>mentação de intervenções e a identificação de lacunas que</p><p>direcionam para o desenvolvimento de futuras pesquisas6.</p><p>A revisão integrativa é um método de exame específico</p><p>que resume literaturas empíricas ou teóricas para fornecer</p><p>uma compreensão mais abrangente de um fenômeno particu-</p><p>lar. Assim, tem o potencial de apresentar o estado da ciência,</p><p>contribuir para o desenvolvimento da teoria, e tem aplicabi-</p><p>lidade direta à prática e à política7.</p><p>Para a elaboração da revisão integrativa, no primeiro</p><p>momento o revisor determina o objetivo específico, formula</p><p>os questionamentos a serem respondidos ou hipótese a serem</p><p>testadas então realiza a busca para identificar e coletar o má-</p><p>ximo de pesquisas primárias relevantes dentro dos critérios</p><p>de inclusão e exclusão previamente estabelecidos8.</p><p>A pesquisa na literatura foi realizada no período de ju-</p><p>nho á julho de 2016, nas bases de dados Biblioteca Virtual</p><p>em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe</p><p>em Ciências da Saúde (LILACS) e na biblioteca vitualScien-</p><p>tificElectronic Library Online (SciELO) e Base de dados de</p><p>Evidência em Fisioterapia (PEDro). Foram selecionadas as</p><p>bases de dados com o intuito de conhecer e buscar protocolos</p><p>de prevenção de lesões utilizados em atletas de diversos des-</p><p>portos, existentes na literatura. Os descritores selecionados</p><p>para pesquisa foram: �Propriocepção�, �Pliometria�, �FIFA</p><p>11+�, �alongamento muscular�, �Protocolos de preven-</p><p>ção de lesões�, �desportos�. Na busca foram considerados</p><p>artigos publicados no período de 2009 á 2015, onde foram</p><p>encontrados 30 artigos. Após a leitura dos resumos, foram</p><p>observados os seguintes critérios de inclusão: estudos dispo-</p><p>níveis nas bases de dados citadas no período de 2009 á 2015,</p><p>publicações originais, nas línguas portuguesa, espanhola e</p><p>inglesa, considerando o objetivo do estudo e o protocolo de</p><p>revisão elaborado previamente. Foram critérios de exclusão:</p><p>artigos repetidos, artigos não acessíveis em texto completo,</p><p>resenhas, anais de congresso, artigos de opinião, artigos de</p><p>reflexão, editoriais, artigos que não abordaram diretamente</p><p>o tema deste estudo e artigos publicados fora do período de</p><p>análise. Por fim, foram excluídos 21 artigos. Assim, iniciou-</p><p>-se a análise de 9 estudos completos.</p><p>Foi elaborado um quadro para organização da análise</p><p>dos artigos contendo os itens: tipo de publicação, ano, fonte,</p><p>autores, título, tema, método e objetivo. No que se refere aos</p><p>protocolos de prevenção de lesões os resultados foram discu-</p><p>tidos e sustentados com outras literaturas pertinentes.</p><p>Resultados e discussão</p><p>A partir da análise dos textos selecionados, tem-se, quanto</p><p>ao tipo de publicação, que todos os estudos estão, apresentados</p><p>no quadro 1, e são resultados de pesquisas, todas são originais.</p><p>Referente ao ano de publicação constatou-se que, dois</p><p>artigos foram publicados em 2009, dois em 2010, um em</p><p>2012, um em 2013, dois em 2014 e um em 2015 mostrando</p><p>assim adequação aos critérios de inclusão. Quanto aos tipos</p><p>de estudos foram classificados como: revisão bibliográfica,</p><p>revisão sistemática, estudo controle, estudo de caso, estudo</p><p>retrospectivo controlado, assim obedecendo aos critérios es-</p><p>tabelecidos para pesquisa.</p><p>Na analise pode-se observar que todos os artigos estão</p><p>ligados a área da saúde especificamente na área da fisiotera-</p><p>pia desportiva, onde buscam mostrar protocolos ou métodos</p><p>para prevenir lesões em atletas melhorando assim o seu ren-</p><p>dimento na execução de sua atividade.</p><p>Arnason et al., (2004)9 afirma que a lesão é um motivo</p><p>de preocupação não só para atletas de rendimento como para</p><p>223</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>todas as pessoas que se exercitam regularmente com outros</p><p>objetivos, pois elas podem provocar a interrupção das ativi-</p><p>dades físicas por tempo indeterminado. No caso de atletas,</p><p>algumas lesões podem levar ao encerramento da carreira.</p><p>Ao praticar alguma modalidade esportiva o atleta está</p><p>sujeito há vários tipos de lesões, seja por traumatismo local</p><p>direto, seja por sobrecarga repetitiva. Seu padrão neuromus-</p><p>cular se altera profundamente, assim como suas atividades</p><p>proprioceptivas, que ao longo do tempo poderá influenciar</p><p>negativamente em todas as suas valências físicas, reduzindo</p><p>o desempenho geral, principalmente pela presença da dor,</p><p>edema, isquemias, tensão muscular, contratura muscular re-</p><p>flexa, que são fatores limitantes10.</p><p>Séries de alongamento muscular são rotineiramente in-</p><p>cluídas em programas de exercícios para atletas sob a prerro-</p><p>gativa de que elas previnam eventuais lesões e aperfeiçoem o</p><p>desempenho desportivo. Mais especificamente, a técnica de</p><p>alongamento estático tem sido utilizada por ser considerada</p><p>bastante eficiente para produzir aumento agudo na amplitude</p><p>de movimento articular11.</p><p>Aquecimento e alongamento ativo e passivo antes dos</p><p>treinos têm sido postulados como estratégias de prevenção de</p><p>lesões; no entanto, há pouca evidência sobre o quanto estas ati-</p><p>tudes realmente</p><p>diminuem a incidência das lesões musculares12.</p><p>Quadro 1: Artigos selecionados e estudados sobre protoco-</p><p>los e métodos de prevenção de lesões em atletas. Autores,</p><p>ano de publicação, titulo e objetivo de estudo.</p><p>Deve-se levar em conta que a pliometria, pois a mesma</p><p>ser utilizada tanto como modo de prevenção, devido a um</p><p>alongamento, um reflexo de estiramento muscular, mais efi-</p><p>caz da musculatura com mais precisão e rapidez, quanto para</p><p>objetivo de tratamento.</p><p>Dantas (2003)13 afirma que, o treinamento pliométrico</p><p>desenvolve a força explosiva, principalmente nos membros</p><p>inferiores. McArdle, Katch e Katch (2002)14 afirmam que a</p><p>repetição regular desses exercícios proporciona um treina-</p><p>mento tanto neurológico quanto muscular capaz de aprimo-</p><p>rar o desempenho de potência dos músculos específicos.</p><p>Sabe se que dentre os vários métodos de tratamentos</p><p>para lesões no futsal e ou em outros, surge a propriocepção</p><p>que além de método preventivo surge também como um mé-</p><p>todo de tratamento, com resultados significativos.</p><p>O exercício proprioceptivo tem uma grande ação pro-</p><p>filática e de reabilitação em diversas lesões musculoesque-</p><p>léticas, pois exigem da modalidade sensorial uma maior</p><p>precisão para obter informações referentes à sensação de</p><p>movimento e de posição articular, baseia-se em elementos</p><p>que não a visual, a auditiva ou a cutânea superficial15.</p><p>Consideraçôes ! nais</p><p>Conforme foi estudado na literatura, não há um proto-</p><p>colo especifico para prevenção de lesões, existe o FIFA 11+</p><p>voltado para o futebol com diminuição considerada no nu-</p><p>mero de lesões em atletas que o praticam regularmente, mais</p><p>no geral há a existência de métodos não protocolados que as-</p><p>sociados podem diminuir significamente o numero de lesões.</p><p>A pesquisa aponta se de extrema importância devido à</p><p>existência de um pequeno número de materiais existentes na</p><p>literatura sobre protocolos de prevenção de lesões em atle-</p><p>tas, faz-se necessário a busca constante por um método para</p><p>diminuir essas injúrias que os acometem.</p><p>Trata-se de uma pesquisa relevante de forma que pode</p><p>significar avanços na prevenção de lesões, onde pode no fu-</p><p>turo auxiliar fisioterapeutas a realizarem trabalhos preventi-</p><p>vos e pesquisas referentes ao tema a que venha melhorar o</p><p>desenvolvimento dos atletas.</p><p>Referências</p><p>1. Belechri, M. et al. Sports injuries among children in six European union countries. European</p><p>journal of epidemiology, v. 17, n. 11, p. 1005-1012.2001</p><p>2. Ribeiro, Rodrigo Nogueira; COSTA, Leonardo Oliveira Pena. Análise epidemiológica de lesões</p><p>no futebol de salão durante o XV Campeonato Brasileiro de Seleções Sub 20. Revista Brasileira</p><p>de Medicina do Esporte, v. 12, n. 1, p. 1-5,2006</p><p>3. Whiting WC, Zernicke RF. Biomecânica da lesão músculo-esquelética. Rio de Janeiro: Guanaba-</p><p>ra Koogan; 2001. p.251.</p><p>4. Cramer, J. T. et al. The acute effects of static stretching on peak torque, mean power output, electromyo-</p><p>graphy, and mechanomyography. European journal of applied physiology, v. 93, n. 5-6, p. 530-539.2005</p><p>5. Westlake, Kelly P.; Wu, Yushiao; Culham, Elsie G. Sensory-speci! c balance training in older</p><p>adults: effect on position, movement, and velocity sense at the ankle. Physical therapy, v. 87, n. 5,</p><p>p. 560-568.2007.</p><p>6. Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incor-</p><p>poração de evidências na saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enferm; 17(4):758-764. 2008</p><p>7. Whittemore R, Kna" K. The integrative review: updated metodology. J AdvNurs. Dec; 52(5):546-53.2005</p><p>8. Beyea SC, Nicoll LH. Writing an integrative review. AORN J. Apr; 67(4):877-80.1998</p><p>9. Arnason, Arni et al. A Prospective video-based analysis of injury situations in elite male football</p><p>football incident analysis. The American journal of sports medicine, v. 32, n. 6, p. 1459-1465.2004</p><p>10. Sandoval, Armando E. Pancorbo. Medicina do Esporte: princípios e prática. ArtMed.2005</p><p>11. Davis, D. Scott et al. The effectiveness of 3 stretching techniques on hamstring " exibility using consis-</p><p>tent stretching parameters. The journal of strength & conditioning research, v. 19, n. 1, p. 27-32.2005</p><p>12. Brooks, John HM et al. Incidence, risk, and prevention of hamstring muscle injuries in professio-</p><p>nal rugby union. The American journal of sports medicine, v. 34, n. 8, p. 1297-1306.2006</p><p>13. Dantas, J. A. e Silva, M. RFreqüência das lesões nos membros inferiores no futsal pro! ssional.</p><p>Trabalho baseado namonogra! a �A incidência das lesões nos membros inferiores nofutsal pro-</p><p>! ssional� para obtenção de Licenciatura em MotricidadeHumana. Porto: Universidade Fernando</p><p>PessoaKurata DM, Junior JM, Nowotny JP. Incidência de Les.es em Atletas Praticantes de Futsal.</p><p>Inicia..oCientí! ca CESUMAR 2007;9:45-51.2007.</p><p>14. Mcardle, w. D.; katch. F. I; katch, v. L. Fundamentos de ! siologia do exercício. Rio de janeiro:</p><p>guanabara koogan, 2002.</p><p>15. Araújo ADS, Merlo JRC, Moreira C. Reeducação neuromuscular e proprioceptiva em pacientes</p><p>submetidos à reconstrução do ligamento cruzado anterior. Rev Fisioter Brasil. 2003;4(3):217-21.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>224</p><p>Revisão</p><p>Fundamentação teórica para criolipólise polarys®</p><p>convencional, reperfusão e contraste</p><p>Theoretical background for cryolipolysis polarys®</p><p>conventional, reperfusion and contrast</p><p>Estela Sant�Ana1</p><p>Resumo</p><p>Introdução: A criolipólise é uma técnica não-invasiva atualmente em evidência</p><p>que induz atrofia do tecido adiposo por extração de temperatura. Visando potencia-</p><p>lizar resultados, equipamentos que combinam frio/calor têm sido propostos. Obje-</p><p>tivos: Os objetivos deste estudo foram descrever o histórico de desenvolvimento da</p><p>criolipólise e buscar respaldo científico para a utilização da criolipólise convencio-</p><p>nal, criolipólise de reperfusão e criolipólise de contraste no tratamento da gordura</p><p>localizada. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada nas bases</p><p>de dados: Pubmed e Scielo. O período considerado compreendeu desde o ano 2007</p><p>até 2016 e foram utilizados os descritores: criolipólise ou lipocriólise e seus correla-</p><p>tos em inglês. Resultados: Ao todo, foram encontrados 70 artigos, destes 40 foram</p><p>usados nessa revisão. Os estudos selecionados abordavam o tema da criolipólise no</p><p>tratamento da gordura localizada e modelagem corporal. Conclusão: A criolipólise</p><p>demonstra ser uma técnica segura e efetiva para o tratamento da gordura localizada.</p><p>A tecnologia Polarys® (Ibramed Eireli) foi desenvolvida para atender as modalidade</p><p>de criolipólise convencional, criolipólise reperfusão e criolipólise de contraste. Estu-</p><p>dos de validação e comparação das modalidades devem ser desenvolvidos.</p><p>Palavras-chave: paniculite por frio, redução de gordura, gordura localizada, adi-</p><p>pócito, cristalização.</p><p>Abstract</p><p>Introduction: Cryolipolysis is an outstanding noninvasive technique for the</p><p>treatment of localized fat, which induces adipose tissue atrophy by temperature</p><p>extraction. In order to maximize results, equipment options that combine cold /</p><p>heat have been proposed. Objectives: The objectives of this study were to des-</p><p>cribe the developmental history of cryolipolysis and to seek scientific support for</p><p>the use of conventional cryolipolysis, reperfusion and contrast in the treatment</p><p>of localized fat. Results: Altogether, 40 out of 70 articles found were used in this</p><p>review. The studies selected related to the subject of localized fat treatment and</p><p>body contouring. Methodology: This bibliographic review was carried out via da-</p><p>tabases: Pubmed and Scielo. The period considered is from 2007 to 2016 and the</p><p>description words used were: cryolipolysis or lipocryolysis and their correlates in</p><p>Portuguese. Conclusion: Cryolipolysis proves to be a safe and effective technique</p><p>for the treatment of localized fat. Polarys® technology has been developed to meet</p><p>conventional cryolipolysis, reperfusion cryolipolysis or contrast cryolipolysis mo-</p><p>des. Validation and comparison studies of the techniques should be developed.</p><p>Keywords:</p><p>cold panniculitis, fat reduction, localized fat, adipocyte, crystallization.</p><p>1. Doutora pelo Departamento de Ciências Fi-</p><p>siológicas, Laboratório de Bioquímica e Bio-</p><p>logia Molecular Universidade Federal de São</p><p>Carlos (UFSCar) - São Paulo, Brasil. Mestre</p><p>em Interunidades em Bioengenharia � USP;</p><p>Pesquisadora do Departamento de Pesquisa e</p><p>Desenvolvimento da Ibramed.</p><p>Endereço para correspondência: Av. Dr. Car-</p><p>los Burgos, 2800 � Jd. Itália � CEP: 13.901-</p><p>080 � Amparo � SP.</p><p>E-mail: estela@ibramed.com.br</p><p>Recebido para publicação em 21/10/2016 e acei-</p><p>to em 15/12/2016, após revisão.</p><p>225</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Introdução</p><p>A criolipólise é uma técnica atualmente em evidência</p><p>que induz atrofia do tecido adiposo por extração de tempe-</p><p>ratura. Trata-se de uma técnica não invasiva para tratamento</p><p>da gordura localizada e modelagem do contorno corporal por</p><p>extração de temperatura1. O uso do frio como recurso tera-</p><p>pêutico remonta de longa data. Na medicina física e na fisio-</p><p>terapia a crioterapia é bastante difundida para tratar proces-</p><p>sos infamatórios e aliviar a dor2. Na dermatologia, o uso de</p><p>técnicas de congelamento não seletivas de tecidos com nitro-</p><p>gênio líquido (-196°C) é amplamente utilizado no tratamen-</p><p>to de queratoses actínicas, verrugas e tumores superficiais3.</p><p>No entanto, o frio pode afetar diferentes estruturas corporais</p><p>de forma seletiva, incluindo o tecido adiposo. Os adipócitos</p><p>são as únicas células especializadas no armazenamento de</p><p>lipídios na forma de triglicerídeos em seu citoplasma, sem</p><p>que isto seja nocivo para sua integridade funcional4. Nos</p><p>mamíferos, existem dois tipos de tecido adiposo: o branco</p><p>e o marrom. A principal função dos adipócitos brancos é ar-</p><p>mazenamento de energia, enquanto a função dos adipócitos</p><p>marrons é a dissipação de energia em um processo de produ-</p><p>ção de calor chamado termogênese5. O adipócito branco ma-</p><p>duro armazena os triglicerídeos em uma única grande gota</p><p>lipídica que ocupa de 85-90% do citoplasma, empurrando</p><p>o núcleo e uma fina camada de citosol para a periferia da</p><p>célula, distribuindo-se em diversos depósitos no organismo,</p><p>anatomicamente classificados como tecido adiposo subcutâ-</p><p>neo e tecido adiposo visceral. O tecido adiposo subcutâneo é</p><p>principalmente representado pelos depósitos abaixo da pele</p><p>nas regiões abdominal, flancos, glútea e femoral4.</p><p>De acordo com Jalian e Avram3, o primeiro artigo a des-</p><p>crever a sensibilidade do tecido adiposo ao frio foi publicado</p><p>por Hochsinger em 1902, que relatou a formação de nódulos</p><p>submandibular em crianças, denominado como �reação agu-</p><p>da ao congelamento�. Em 1941, Haxthausen publicou uma</p><p>série de casos envolvendo quatro crianças e uma adolescente</p><p>com lesões que ocorreram após a exposição ao frio extremo</p><p>durante o inverno que denominou �adiponecre e frígore�.</p><p>Outros relatos publicados entre 1940 a 1970 descrevem pa-</p><p>niculite induzida pelo frio com formação de nódulos tanto</p><p>em crianças quanto em adultos. Em 1970, Epsteian e Oren</p><p>cunham o termo paniculite do picolé (popsicle panniculitis)</p><p>depois de averiguar a presença de um nódulo endurecido e</p><p>avermelhado seguido de necrose transitória do tecido adi-</p><p>poso local na bochecha de uma criança causada por chupar</p><p>picolé. Essas observações culminaram com a seguinte obser-</p><p>vação: o tecido adiposo rico em lipídeos é mais suscetível ao</p><p>frio que tecidos ricos em água. Estes achados confirmam a</p><p>bioquímica que observamos diretamente na nossa cozinha,</p><p>gorduras saturadas como a gordura animal são sólidos à tem-</p><p>peratura ambiente e as não-saturadas, como o azeite e óleos</p><p>vegetais são líquidos à mesma temperatura. A análise dos</p><p>efeitos do frio sobre o tecido adiposo subcutâneo dos mamí-</p><p>feros deu subsídio para o desenvolvimento de um dispositi-</p><p>vo de resfriamento controlado cujo objetivo era induzir uma</p><p>possível atrofia terapêutica no tecido adiposo subcutâneo.</p><p>Os objetivos deste estudo foram descrever o histórico de</p><p>desenvolvimento da criolipólise, bem como buscar respal-</p><p>do científico para a utilização da criolipólise convencional e</p><p>suas modalidades: criolipólise de reperfusão e criolipólise de</p><p>contraste no tratamento da gordura localizada.</p><p>Metodologia</p><p>Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada nas bases</p><p>de dados: Pubmed e Scielo. O período considerado compre-</p><p>endeu desde o ano 2007 até 2016. Foram utilizados termos</p><p>como: criolipólise (cryolipolysis) e lipocriólise (lipocryoly-</p><p>sis). Após a inclusão dos artigos, realizou-se leitura analítica</p><p>de cada estudo, registro do conceito, método utilizado para</p><p>a avalição, classificação da técnica de tratamento empregada</p><p>e análise comparativa entre os achados dos ensaios clínicos.</p><p>Também foi realizada busca via Scielo usando o descritor:</p><p>cristalização de lipídeos.</p><p>Resultados e discussão</p><p>Ao todo foram encontrados 70 artigos, destes 40 foram</p><p>usados nessa revisão. Os estudos selecionados abordavam o</p><p>tema da criolipólise no tratamento da gordura localizada e</p><p>modelagem corporal.</p><p>Ensaios pré-clínicos</p><p>Em 2008, Manstein et al.6 publicaram um estudo realiza-</p><p>do em seis porcas Yucatan, sob anestesia e com protótipo de</p><p>dispositivo criogênico, trataram mais de 15 diferentes locais</p><p>entre eles flancos, abdômen e glúteos. Todos os animais fo-</p><p>ram expostos a um processo de resfriamento com diferentes</p><p>temperaturas (+20, -1, -3, -5, e -7°C) com o mesmo tempo de</p><p>aplicação de 10 min. Nesta configuração de protótipo, duas</p><p>configurações de aplicadores foram utilizadas: uma plana</p><p>com uma placa de resfriamento e outra dobrável em forma</p><p>de copo com duas placas de resfriamento e uso de vácuo para</p><p>favorecer o contato da pele com as placas (Figura 1).</p><p>Figura 1: Imagem esquemática das diferentes configurações</p><p>de aplicadores para resfriamento seletivo da área a ser trata-</p><p>da; sendo A, aplicador plano com uma placa de resfriamento</p><p>e B, aplicador em forma de copo com vácuo para sucção da</p><p>pele e camada subcutânea, e dois elementos de resfriamento</p><p>de ação simultânea. Extraído de Manstein et al.6.</p><p>Cada ponto demarcado foi tratado em duplicata e os</p><p>locais foram mapeados para avaliação que ocorreram após</p><p>28 dias, 14 dias, 7 dias, 2 dias, 1 dia e imediatamente ao</p><p>tratamento. Entre o dispositivo e a pele do local tratado foi</p><p>aplicado uma loção de glicerol/água para melhorar o contato</p><p>do dispositivo com a pele. Imediatamente após cada expo-</p><p>sição, o local tratado era massageado por 1 minuto com um</p><p>vibromassageador comercial. A espessura do tecido adiposo</p><p>foi avaliada por ultrassom diagnóstico e amostras de sangue</p><p>para a avaliação do perfil lipídico foram realizadas. Após</p><p>a eutanásia, amostras de tecido adiposo subcutâneo foram</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>226</p><p>coletadas, processadas e coradas com HE. Os graus de pa-</p><p>niculite induzida pelo frio foram avaliadas por meio de uma</p><p>análise histológica, onde a extensão da inflamação se rela-</p><p>ciona ao tempo de análise pós-tratamento e à temperatura</p><p>utilizada. Os resultados mais intensos foram obtidos com</p><p>temperatura de -7°C. As análises por ultrassom diagnóstico</p><p>demostraram diminuição de aproximadamente 50% da es-</p><p>pessura do tecido adiposo. A paniculite lobular apresentou</p><p>pico de aumento aos 14 dias e os níveis séricos de lipídeos</p><p>não apresentaram diferenças estatisticamente significativas.</p><p>Em 2009, Zelickson et al.7 conduziram um estudo usando</p><p>três porcos Yucatan (animal A, B, e C) e um porco Yorkshire</p><p>(animal D). Todos os animais foram tratados com um protóti-</p><p>po para resfriamento controlado da área (Zeltiq, Pleasanton,</p><p>CA). Neste estudo a temperatura de tratamento foi transcrita</p><p>para taxa de extração de calor em mW/cm2 e foi denomi-</p><p>nada Fator de intensidade de resfriamento (CIF = cooling</p><p>intensity factor). Diferentes taxas foram aplicadas: animal A,</p><p>CIF=24,5 (-43,8mW/cm+) por 60 min seguidos de 5 min de</p><p>massagem vibratória; animal B, CIF=24,5 (-43,8mW/cm2)</p><p>por 60 min em duas áreas e outras áreas tratadas por 45 min</p><p>seguidos de 5 min de massagem vibratória; o animal C foi</p><p>tratado</p><p>com mesmo CIF, porém todos os locais foram trata-</p><p>dos por 45 min seguidos de 5 min de massagem e o animal</p><p>D foi tratado com CIF de 21,5 (-36,8 mW/cm2) e cada local</p><p>foi tratado por 15 min. Os animais A, B e C receberam um</p><p>único tratamento e passaram por eutanásia 90 dias depois.</p><p>O animal D foi tratado em diferentes áreas 90, 60, 30, 14, 7,</p><p>3 dias e 30 min antes da eutanásia. Foram realizadas foto-</p><p>grafias padronizadas, avaliações por ultrassom diagnóstico</p><p>antes e após 3 meses de tratamento. Após a eutanásia, foram</p><p>coletadas amostras de tecido subcutâneo para análises his-</p><p>tológicas. Amostras de sangue foram coletas (12 horas de</p><p>jejum) antes do tratamento, um dia, uma semana e um, dois</p><p>e três meses após o tratamento. As fotografias de corte trans-</p><p>versal demostraram alteração da superfície no local tratado e</p><p>diminuição da camada superficial 90 dias após o tratamento</p><p>(Figura 2). As medidas de espessura foram realizadas por um</p><p>ultrassom diagnóstico que confirmaram o resultados obser-</p><p>vados por fotografias.</p><p>Figura 2:</p><p>Fotografia de</p><p>corte transversal</p><p>mostrando a</p><p>redução da gordura</p><p>subcutânea</p><p>superficial 90 dias</p><p>após o tratamento.</p><p>Extraído de</p><p>Zelickson et al.7.</p><p>As análises histológicas demostraram um ciclo de pani-</p><p>culite lobular similar ao proposto por Manstein et al.6 e uma</p><p>perda seletiva de células de gordura, sem danos na pele e</p><p>estruturas ao redor. Este resultado parece refletir o fato de</p><p>os adipócitos serem mais sensíveis ao frio. Outro ponto in-</p><p>teressante é que, durante a reperfusão que ocorre após o res-</p><p>friamento, é a indução na formação de espécies reativas de</p><p>oxigênio que podem resultar peroxidação lipídica e redução</p><p>dos níveis de glutadiona, o que pode resultar no aumento</p><p>dos níveis de morte celular adipocitária. Os autores conclu-</p><p>íram que a técnica, denominada como Criolipólise, poderia</p><p>ser usada para tratamentos estéticos em humanos desde que</p><p>avaliados por estudos sequenciais.</p><p>Com estes estudos pré-clínicos foi possível concluir</p><p>que todos os locais tratados com exposição ao frio inferior</p><p>a -1°C desenvolveram inflamação perivascular e paniculite.</p><p>A partir destes sinais clínicos houve significativa redução da</p><p>camada de gordura, mais visível após 90 dias de tratamento.</p><p>Os resultados mais significativos em relação à diminuição</p><p>da camada de gordura foram obtidos com temperaturas mais</p><p>baixas e com maior tempo de tratamento.</p><p>Ensaios clínicos</p><p>Os primeiros ensaios clínicos sobre criolipólise foram</p><p>publicados em 2009. Nelson et al.8 compilaram resultados</p><p>sobre estudos pré-clínicos publicados previamente e jun-</p><p>to à descrição de estudos clínicos apresentados na Reunião</p><p>Anual da Sociedade Americana de Laser para Medicina e</p><p>Cirurgia (Annual Meeting of the American Society for La-</p><p>ser Medicine and Surgery), em abril de 2009, relataram que</p><p>os médicos Dover J, Burns J, Coleman S, et al. avaliaram</p><p>o uso da criolipólise para a redução da gordura localizada</p><p>em flancos e costas de 32 pacientes. Através de fotografias,</p><p>demonstraram a avaliação clínica e satisfação dos pacientes.</p><p>Destes, um subgrupo de 10 pacientes foi avaliado por ultras-</p><p>som diagnóstico antes e 4 meses após o tratamento, onde os</p><p>pacientes apresentaram uma média de espessura de camada</p><p>adiposa, 22,4% menor. Descreveram também, outro estudo</p><p>apresentado neste mesmo evento por Kaminer M, Weiss R,</p><p>Newman J, et al. que tratou com criolipólise 50 pacientes, to-</p><p>dos avaliados por fotografias comparativas realizadas antes</p><p>e 4 meses após a sessão. Destes, 89% dos casos obtiveram</p><p>diminuição da gordura localizada esteticamente importantes.</p><p>Correlacionados aos resultados apresentados, foram de-</p><p>senvolvidos estudos adicionais para investigar a eficácia e pos-</p><p>síveis reações adversas, tais como lesão de tecidos adjacentes</p><p>e avaliação dos níveis séricos de lipídeos circulantes e função</p><p>hepática. Coleman et al.9 realizaram um estudo que envolveu</p><p>10 sujeitos tratados com um protótipo do sistema de resfria-</p><p>mento (Zeltiq, Pleasanton, CA). Uma loção anticongelante foi</p><p>usada para facilitar o acoplamento da pele no dispositivo. A</p><p>região selecionada foram os flancos. O lado direito recebeu o</p><p>tratamento e o lado contralateral (esquerdo) foi usado como</p><p>controle. Do total de sujeitos participantes do estudo, 10 foram</p><p>fotografados e avaliados por ultrassom diagnóstico (7,5 MHz</p><p>e transdutor linear) antes do tratamento e após 2 e 6 meses</p><p>do tratamento; 9 passaram por avalição sensorial neurológica</p><p>antes e 7 dias após o tratamento e 1 sujeito se submeteu a uma</p><p>biopsia 6 semanas após o tratamento para avaliar a integridade</p><p>e densidade das fibras nervosas sensoriais e a morfologia da</p><p>pele e tecido subcutâneo. Dos 9 sujeitos avaliados nos testes</p><p>sensoriais, 6 apresentaram redução transitória da sensibilidade</p><p>227</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>avaliada por testes neurológicos; contudo, todos apresentaram</p><p>resolução espontânea em média 3,6 semanas após o tratamen-</p><p>to. As análises da biopsia por imunohistoquímica sugerem que</p><p>a criolipólise não causa alterações estruturais ou funcionais</p><p>nos nervos nas condições deste estudo. Os pesquisadores con-</p><p>cluíram que o tratamento de criolipólise em humanos apresen-</p><p>tou substancial redução do volume de gordura subcutânea e</p><p>melhora do contorno corporal na região de flancos tratada sem</p><p>apresentar danos na pele.</p><p>Klein et al.10 realizaram um estudo no qual trataram 40</p><p>indivíduos (32 mulheres e 8 homens) com gordura localizada</p><p>nos flancos. Critérios de inclusão e exclusão foram aplicados</p><p>e o tratamento foi realizado bilateralmente. O número de áre-</p><p>as tratadas por sessão variou de 2 a 4, de acordo com a neces-</p><p>sidade terapêutica, cada sessão durou 30 min. Amostras de</p><p>sangue foram coletadas em todos os sujeitos pré-tratamento</p><p>e após 1 dia de tratamento e ainda 1, 4, 8 e 12 semanas após a</p><p>sessão de tratamento. Todos os pacientes obedeceram ao je-</p><p>jum de 12 horas prévio à coleta. As amostras de sangue cole-</p><p>tadas foram enviadas para análise laboratorial para avalição</p><p>dos níveis de lipídeos: colesterol total, triglicerídeos, VLDL,</p><p>LDL e HDL colesterol. Também foi avaliada a função he-</p><p>pática através dos exames séricos laboratoriais: AST, ALT,</p><p>fosfatase alcalina, bilirrubina total e albumina. Sujeitos com</p><p>níveis séricos alterados foram excluídos do estudo. Análises</p><p>estatísticas foram realizadas, sendo que os resultados não</p><p>apresentaram diferenças significativas e os autores conclu-</p><p>íram que o tratamento não está associado a alterações pato-</p><p>lógicas dos níveis séricos de lipídeos ou de função hepática.</p><p>Avram e Harry11 em uma revisão de literatura baseados</p><p>nos achados pré-clínicos histológicos descreveram os possí-</p><p>veis mecanismos de ação da criolipólise na indução de apop-</p><p>tose dos adipócitos no local tratado. A sequência de eventos</p><p>é relatada de forma temporal. Imediatamente ao tratamento</p><p>não são visíveis alterações no tecido subcutâneo, não há pre-</p><p>sença de células inflamatórias e as membranas celulares per-</p><p>manecem íntegras. No terceiro dia pós-tratamento existem</p><p>evidências de que o processo inflamatório foi estimulado e</p><p>alguns adipócitos iniciam o processo de apoptose. O pico do</p><p>processo inflamatório se estabelece próximo do 14° dia. À</p><p>microscopia, ao redor dos adipócitos, são visíveis histióci-</p><p>tos, neutrófilos, linfócitos e outras células mononucleadas.</p><p>Entre 14 e 30 dias após o tratamento a fagocitose dos lipídios</p><p>é aparente. Macrófagos e neutrófilos envelopam e digerem</p><p>conteúdos e resíduos dos adipócitos em apoptose. Esse me-</p><p>canismo é similar ao processo natural de reparo e regene-</p><p>ração tecidual de outras regiões corporais. Após 60 dias, o</p><p>processo inflamatório diminui consideravelmente e os septos</p><p>interlobulares aparecem espessos à microscopia. Aos 90 dias</p><p>pós-tratamento não são visíveis sinais de característicos de</p><p>inflamação. É possível observar ao corte histológico, uma</p><p>clara diminuição do tecido adiposo. Os autores concluíram</p><p>que a criolipólise é um métodos seletivo e gradual de dimi-</p><p>nuição da espessura da gordura subcutânea,</p><p>porém os me-</p><p>canismos de morte celular e eliminação dos adipócitos não</p><p>estavam muito claros. Reações adversas transitórias foram</p><p>observadas após o tratamento e geralmente se resolveram</p><p>espontaneamente após horas, dias ou semanas. São elas:</p><p>desconforto moderado, eritema, equimoses e/ou diestesia.</p><p>Os autores ressaltam que a criolipólise pode apresentar risco</p><p>para pessoa com doenças raras como a crioglobulinemia, tais</p><p>como: hemoglobinúria ao frio ou urticaria ao frio. Coleman</p><p>et al.9 investigaram se a técnica poderia causar diminuição</p><p>da sensibilidade na área tratada (flancos) em 10 pacientes</p><p>usando um protótipo Zeltiq System por 45 min. A função</p><p>sensorial foi realizada por avaliação neurológica (n=9) e por</p><p>biopsia (n=1). O tratamento resultou em perda transitória da</p><p>sensibilidade em 6 dos 9 pacientes que receberam avaliação</p><p>neurológica. Os resultados que a normalidade da área voltou</p><p>em média 3,6 semanas após o tratamento.</p><p>Estudos clínicos</p><p>O sistema de criolipólise CoolSculpting (Zeltiq, Plea-</p><p>santon, California) foi aprovado pelo FDA , para o tratamen-</p><p>to de flancos em 2010 e para o tratamento de abdômen em</p><p>2012 e em 2013. Stevens et al.12 realizaram um estudo retro-</p><p>prospectivo clínico e comercial que envolveu 528 pacientes</p><p>(403 mulheres e 125 homens) tratados com criolipólise de</p><p>janeiro de 2010 a dezembro de 2012. Os tratamentos foram</p><p>realizados em 2 ciclos com intervalos de 2 meses entre eles.</p><p>Cada sessão de tratamento durou 60 min e após as sessões</p><p>os pacientes apresentavam no local tratado eritema, edema,</p><p>equimoses que se resolveram espontaneamente em algumas</p><p>horas ou dias. Durante o período estudado, 1785 locais ana-</p><p>tômicos foram tratados com 2729 sessões, principalmente</p><p>no abdômen inferior (28%, n=490 ciclos), abdômen supe-</p><p>rior (11%, n=189), flanco esquerdo (19%, n=333), flanco</p><p>direito (19%, n=333), coxa interna (6%, n=111), parte ex-</p><p>terna da coxa (5%, n=87), e na parte posterior da coxa (6%,</p><p>n=99). Apenas 3 pacientes relataram dor e/ou neuralgia leve</p><p>ou moderada que foram resolvidos em 4 ou menos dias. Os</p><p>autores concluíram que a criolipólise é um método não ci-</p><p>rúrgico seguro e eficaz no tratamento da gordura localizada.</p><p>Corroborando com estes resultados, Dierickx et al.13 também</p><p>publicaram um estudo retrospectivo realizado em clínicas da</p><p>Bélgica e da França que investigou a segurança, tolerância</p><p>e satisfação com o tratamento com criolipólise (CoolSculp-</p><p>ting, Zeltiq, Pleasanton, CA). Foram estudados 518 pacien-</p><p>tes que receberam o tratamento entre julho de 2009 e feve-</p><p>reiro de 2012. O estudo demostrou que não houveram efeitos</p><p>colaterais significativos ou relato de eventos adversos. Do</p><p>total de pacientes tratados, 73% relataram satisfação com</p><p>os resultados do tratamento e 82% recomendariam o proce-</p><p>dimento a um amigo. As medições da espessura do tecido</p><p>adiposo demonstraram uma redução de 23% após 3 meses</p><p>do tratamento. Abdômen, costas e flancos foram locais de</p><p>tratamento com melhores resultados e 86% dos indivídu-</p><p>os que mostram melhora pela avaliação clínica. Os autores</p><p>concluíram que, quando a seleção do paciente é adequada, a</p><p>criolipólise é um método de tratamento seguro, bem tolerado</p><p>e eficaz para a redução da gordura subcutânea. Outros estudos</p><p>relativos à avaliação eficácia, segurança e satisfação com o</p><p>tratamento foram produzidos e os resultados corroboram com</p><p>os estudos anteriormente descritos14-19.</p><p>Em 2012, Shek et al.20 realizaram um estudo para avaliar</p><p>a eficácia e a satisfação dos pacientes chineses com uma ou</p><p>duas sessões de criolipólise (protótipo Zeltiq Breeze Sistem®)</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>228</p><p>nas regiões de flancos e abdômen em ambiente comercial.</p><p>O estudo envolveu 33 sujeitos divididos em dois grupos:</p><p>A, com 21 sujeitos que receberam uma sessão de tratamen-</p><p>to (2-4 locais tratados de acordo com a necessidade) e B,</p><p>com 12 sujeitos que receberam duas sessões de tratamento</p><p>(2-4 áreas por sessão, com ~3 meses de intervalo entre as</p><p>sessões). Foram realizadas avaliação médica (cego indepen-</p><p>dente), pesagem corporal, fotos padronizadas e medidas por</p><p>adipometria (compasso de dobras) antes e 2 meses após a</p><p>sessão de tratamento. Foi utilizado questionários avaliativos</p><p>referentes à tolerância e satisfação com o tratamento. O tem-</p><p>po de resfriamento foi estabelecido em 60 min e o CIF esta-</p><p>belecido foi de 41,6 (-73 mW/cm2). As áreas tratadas foram</p><p>divididas em locais tratados (n=66) e locais controle (n=45).</p><p>A análise estatística das medidas de adipometria revelou</p><p>diferenças significativas entre os locais tratados e locais-</p><p>-controle (P<0,001). Os sujeitos tratados com duas sessões</p><p>apresentaram resultados mais significativos, porém o maior</p><p>índice de melhora ocorre no primeiro tratamento. Todos os</p><p>locais tratados apresentaram eritema, dor transitória e formi-</p><p>gamento, porém os sintomas foram transitórios. Sinais como</p><p>equimoses e alterações de sensibilidade foram resolvidos es-</p><p>pontaneamente. Sobre a satisfação com o tratamento, 81%</p><p>dos pacientes consideram-se satisfeito a muito satisfeito. Os</p><p>autores consideraram a técnica efetiva para a redução da ca-</p><p>mada de gordura dos locais tratados.</p><p>Usando um sistema de fotografias e software 3D (Can-</p><p>field Scientific Inc, Fairfield, New Jersey), Garibyan et al.21</p><p>avaliaram imagens de 11 indivíduos tratados com criolipó-</p><p>lise (Coolsculpting, ZELTIQ Aesthics, Pleasanton, CA) em</p><p>região de flancos. As imagens tridimensionais dos indiví-</p><p>duos nas vistas sagital (lados esquerdo e direito) e coronal</p><p>(frente e dorso) antes e ao final do estudo. Foi observado</p><p>que houve uma diminuição volumétrica de 39,6 centímetros</p><p>cúbicos, portanto de perda de gordura após 2 meses de tra-</p><p>tamento, após uma única sessão de tratamento. Os autores</p><p>consideraram a técnica segura e efetiva.</p><p>Outras áreas podem ser tratadas com a técnica. Em 2015,</p><p>Kilmer et al.22 trataram 60 sujeitos com gordura localizada</p><p>submentoniana com um protótipo de um aplicador (CoolMini</p><p>applicator, CoolSculpting System, Zeltiq Aesthetics). A tem-</p><p>peratura de tratamento foi de -10°C e a duração da sessão foi</p><p>de 60 min. Fotografias padronizadas e medições da espessura</p><p>da camada de gordura foram realizadas por ultrassom diag-</p><p>nóstico pré-tratamento e 12 semanas após a sessão. Os resulta-</p><p>dos demonstraram uma redução média de 20 mm na espessura</p><p>e o tratamento foi bem tolerado. Efeitos adversos transitórios,</p><p>tais como, eritema, edema e equimoses se resolveram espon-</p><p>taneamente. Efeitos adversos graves não foram observados.</p><p>Outro ponto de destaque relacionado à criolipólise é o</p><p>relato descrito pela primeira vez em 2014 por Stevens23 que</p><p>denominou criodermastringo. O autor relatou que além da di-</p><p>minuição da camada de gordura, a pele do local tratado se apre-</p><p>sentou mais firme. O mecanismo pelo qual a criolipólise reduz</p><p>a flacidez da pele não está elucidado, acredita-se que existam</p><p>fatores determinantes para a obtenção dos resultados tais como</p><p>idade do paciente, condições da pele, o número de sessões de</p><p>criolipólise realizados na área e a duração do tratamento.</p><p>Criolipólise de Reperfusão</p><p>O uso associado da criolipólise com técnicas de mas-</p><p>sagem para favorecer a reperfusão tem sido proposto desde</p><p>os estudos experimentais realizados em porcos6,7 além de</p><p>ser citada como parte do procedimento em estudos clínicos</p><p>e de revisão3,14. Baseados na dinâmica: resfriamento tecidu-</p><p>al, constrição vascular induzida pelo frio e reperfusão que</p><p>ocorrem durante o tratamento com criolipólise (ciclo de con-</p><p>gelamento/descongelamento) Sasaki et al.24 realizaram um</p><p>estudo cujo objetivo foi registrar as variações de temperatura</p><p>durante o ciclo de resfriamento e reperfusão/recuperação do</p><p>tecido com e sem massagem pós-tratamento. O estudo foi</p><p>desenvolvido em duas partes: um grupo piloto que envol-</p><p>veu 6 pacientes e avaliou a temperatura subdérmica e um</p><p>grupo clínico que envolveu 112 pacientes com avaliação da</p><p>temperatura da pele e temperatura oral. As medidas de tem-</p><p>peratura foram coletadas a cada</p><p>15 min e a temperatura da</p><p>sala foi mantida estável. Todos os pacientes foram avaliados</p><p>previamente e foram realizadas medições como: peso, altura,</p><p>IMC (índice de massa corporal), avaliação do percentual de</p><p>gordura por bioimpedância, adipometria e ultrassom diag-</p><p>nóstico. Fotografias padronizadas também foram realizadas.</p><p>Diferentes áreas foram tratadas no estudo clínico, incluindo</p><p>abdômen, flancos, dorso, e regiões mediais e posteriores de</p><p>coxas. O ciclo completo de registro da temperatura de constou</p><p>de 60 min referente ao tratamento de criolipólise e 60 min de</p><p>registro para avaliar a temperatura durante o tempo de reper-</p><p>fusão/recuperação. No grupo piloto, após a administração de</p><p>anestesia local, um termômetro (ThermaGuide, Cynosure, Inc,</p><p>Westford, Massachusetts) foi inserido com uma cânula abaixo</p><p>da pele no local onde o aplicador seria posicionado (porção</p><p>inferior do abdômen). Um ultrassom diagnóstico foi usado</p><p>para avaliar se o termômetro estava na profundidade adequa-</p><p>da (~1,5 cm). A figura 3A demonstra o registro da média de</p><p>temperatura subdérmica durante o procedimento realizado no</p><p>grupo piloto e a figura 3B demostra a média da temperatura da</p><p>pele e oral dos pacientes do grupo clínico.</p><p>As análises dos resultados demostram que nos primeiros</p><p>30 min da fase de resfriamento, as temperaturas subcutâne-</p><p>as registradas nos pacientes do grupo piloto caíram rapi-</p><p>damente em relação aos níveis pré-tratamento e permane-</p><p>ceram baixas até o fim do tratamento quando comparadas</p><p>com medições da superfície da pele. Durante a fase de re-</p><p>perfusão/recuperação, a temperatura a subcutânea do sujeito</p><p>4, que recebeu massagem, voltou a níveis mais altos mais</p><p>rapidamente do que as temperaturas de indivíduos que não</p><p>receberam massagem. Dos 112 pacientes do grupo clínico,</p><p>85 voltaram para a reavaliação 6 meses após o tratamento.</p><p>Destes, 21,5% apresentaram redução média de gordura nas</p><p>medidas de adipometria. A média de diminuição na região de</p><p>abdômen e flancos foi de 25% e 27%, respectivamente. As</p><p>avaliações das fotografias por 2 avaliadores independentes</p><p>demostram melhora do contorno corporal. Efeitos colaterais</p><p>mínimos foram observados e se resolveram espontaneamen-</p><p>te. Os autores concluíram que o mecanismo de ação exato da</p><p>criolipólise ainda não foi completamente elucidado, porém</p><p>o retorno a temperaturas próximas ao pré-tratamento, mais</p><p>rapidamente promovidas pela massagem podem resultar em</p><p>229</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Figura 3: A, Média da temperatura subdérmica e oral dos pacientes do grupo piloto, cujas coletas foram realizadas a cada</p><p>15 min, tanto na durante as fases de resfriamento (60 min) quanto na fase de reperfusão/recuperação (60 min). A temperatura</p><p>média mínima subdérmica obtida na medição foi de 9,5°C. A região abdominal foi tratada e um paciente (sujeito 4) recebeu 5</p><p>min de massagem mecânica imediatamente após a retirada do aplicador. B, Média da temperatura da pele e oral dos pacientes</p><p>do grupo clínico, cujas coletas foram realizadas a cada 15 min, tanto na durante as fases de resfriamento (60 min) quanto na</p><p>fase de reperfusão/recuperação (60 min). A temperatura média mínima subdérmica obtida na medição foi de 10,7°C. Diferen-</p><p>tes áreas foram tratadas e parte das áreas tratadas receberam 5 minutos de massagem mecânica imediatamente após a retirada</p><p>do aplicador. Extraído de Sasaki et al.24.</p><p>A B</p><p>Figura 4: Imagens microscópicas de adipócitos resfriados, observe a formação de cristais dentro das células. A e B, adi-</p><p>pócitos controle e não expostos à cristalização; C e D, adipócitos expostos a 8°C por 10 minutos; E e F adipócitos expos-</p><p>tos a 8°C por 25 minutos (aumento de 100 vezes); G, adipócitos expostos a 8°C por 10 minutos; H, adipócitos expostos a</p><p>8°C por 25 minutos; I e J, adipócitos pós cristalização mantidos a temperatura ambiente (22°C) por 2 h (aumento de 400</p><p>vezes); K e L adipócitos pós cristalização mantidos a temperatura ambiente (22°C) por 45 min (aumento de 40 vezes).</p><p>Modi! cado de Pinto et al.25.</p><p>maior morte celular pela produção de espécies reativas de</p><p>oxigênio e outros efeitos deletérios que acompanham a re-</p><p>perfusão e com isso melhoras os resultados clínicos.</p><p>Importante ressaltar que a proposta do uso do calor ime-</p><p>diato ao tratamento convencional pode se sustentar também</p><p>pela hipótese da formação de espécies reativas de oxigênio,</p><p>pois favorece a reperfusão/recuperação de forma possivel-</p><p>mente mais acentuada que a massagem sugerida por Sasaki</p><p>et al.24 com potencial melhora de resultados por indução de</p><p>danos adicionais aos adipócitos do local tratado. O aqueci-</p><p>mento do Peltier por reversão da ação de extração de tem-</p><p>peratura induz a uma reperfusão significativa, o que poderá</p><p>melhorar os resultados clínicos.</p><p>Criolipólise de contraste</p><p>Os efeitos da extração de temperatura sobre os adipó-</p><p>citos com objetivos estéticos foi objeto de estudo de outro</p><p>grupo de pesquisas que isolaram células do coxim intraperi-</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>230</p><p>toneal de ratos para observar os efeitos do frio temperatura/</p><p>tempo dependente na cristalização do conteúdo de gordura</p><p>intracelular. O tecido extraído foi processado em solução en-</p><p>zimática e posteriormente os adipócitos foram isolados e ex-</p><p>postos à temperatura de 8°C por 0, 10 ou 25 min. A presença</p><p>de cristais foi avaliada por microscopia de luz polarizada. A</p><p>Figura 4 demostra os efeitos da extração de temperatura em</p><p>diferentes tempos e aumentos das imagens à microscopia de</p><p>luz polarizada. Os autores relatam que os efeitos da cristali-</p><p>zação foram irreversíveis neste modelo de estudo25.</p><p>Outros dispositivos, além do equipamento produzido pela</p><p>Zeltiq (CA, USA), foram desenvolvidos. Importante ressaltar</p><p>a criolipólise (Convencional), que prevê tratamento de res-</p><p>friamento prolongado (~60 min) seguido de breve massagem</p><p>(~5min) para favorecer a reperfusão está bem estabelecido na</p><p>literatura, porém um grupo de pesquisadores, baseados numa</p><p>técnica temperagem utilizada na indústria alimentícia para in-</p><p>duzir a cristalização de lipídeos26,27, desenvolveram uma série</p><p>de estudos para avaliar sua aplicabilidade associado a tratamen-</p><p>tos para diminuição da gordura localizada que usam a extração</p><p>de calor para indução de apoptose nos adipócitos de regiões</p><p>com gordura localizada28-30. A técnica foi recentemente descrita</p><p>como lipocriólise de contraste (contrast lipocryolysis)30.</p><p>Estudos clínicos iniciais prévios que utilizaram somente</p><p>resfriamento do tecido adiposo foram realizados por Pinto</p><p>et al.31. Eles trataram 16 mulheres (18 a 65 anos; IMC25-30)</p><p>com um dispositivo Lipocryo® (Clinipro S.L., Sant Cugat</p><p>del Vallés, Spain) para o tratamento de gordura localizada.</p><p>Os pacientes foram randomizados em 2 grupos: G1 (recebeu</p><p>uma única sessão), G2 (recebeu duas sessões com intervalo</p><p>de 45 dias entre elas). Após avaliação clínica, medições an-</p><p>tropométricas e medidas de espessura do tecido adiposo por</p><p>dobras cutâneas (G1, antes, 40 dias após a primeira sessão</p><p>e G2, antes, 40 dias após a primeira sessão e 40 dias após</p><p>a segunda sessão). Este estudo usou uma taxa de extração</p><p>de temperatura de 140 mW/cm2 e a pele se manteve com</p><p>temperatura ~3,1°C por 25-30 min. Os resultados demos-</p><p>tram que ambos os grupos tiveram redução estatisticamente</p><p>significativas sendo G1 P= 0,04 e G2 P=0,046. Os autores</p><p>consideraram o tratamento efetivo e não houve diferença es-</p><p>tatisticamente significativa entre os grupos.</p><p>A proposta do uso de técnica de temperagem (calor/frio/</p><p>calor) para favorecer a cristalização dos adipócitos da gor-</p><p>dura localizada foi incialmente estudada em animais. Tecido</p><p>adiposo branco de 7 ratos (Sprague-Dawley, 56 dias de idade</p><p>e 300g de peso) foram extraídos após eutanásia e processa-</p><p>dos por enzimas para digestão do estroma. Em seguida os</p><p>adipócitos foram filtrados e incubados em soro bovino. As</p><p>células foram divididas em amostras e foram submetidas a</p><p>diferentes e sequência de temperaturas, conforme demostra-</p><p>do na Figura 5. Algumas amostras</p><p>foram mantidas resfriadas</p><p>a 8°C por 30 min, outras foram mantidas a 37°C (controle).</p><p>Análises estatísticas foram realizadas e os autores concluí-</p><p>ram que o efeito térmico promovido pelo aquecimento pré</p><p>e pós a extração de temperatura, promoveram maior destrui-</p><p>ção celular e que essa poderia ser a chave para melhorar re-</p><p>sultados clínicos29. Seguindo o raciocínio proposto por Pinto</p><p>et al.29 e comparando com resultados obtidos em estudos</p><p>Figura 6: Medidas da dobra cutânea sendo, M1(azul), M2</p><p>(vermelho) e M3 (verde). Extraído de Pinto e Melamed30.</p><p>anteriores publicados por Pinto et al.31, Pinto e Melamed30</p><p>realizaram um estudo que usou a técnica de temperarem (ca-</p><p>lor/frio/calor) em comparação com a técnica convencional</p><p>(somente resfriamento). O tratamento foi realizado em 10</p><p>pacientes, com média de idade de 48,1±9,73 anos e IMC</p><p>entre 22 e 27. O equipamento utilizado foi o Lipocontrast®</p><p>(Clinipro S.L., Sant Cugat del Vallés, Spain) que aplica a</p><p>técnica de contraste automaticamente e área tratada foi a ab-</p><p>dominal. Todas as pacientes foram avaliadas clinicamente,</p><p>medições antropométricas e medidas de espessura do tecido</p><p>adiposo por dobras cutâneas foram realizadas (M1, antes do</p><p>tratamento; M2, 15 dias após a sessão e M3, 30 dias após a</p><p>sessão). O tempo de sessão seguiu o seguinte modelo: Con-</p><p>vencional, somente resfriamento (8°C) ou Contraste, aque-</p><p>cimento (40°C/5 min), resfriamento (8°C/30 min) e aqueci-</p><p>mento (38°C/10 min), totalizando 45 min de sessão28,30.</p><p>Figura 5: Imagem representativa da técnica convencional (so-</p><p>mente extração de temperatura) e de contraste (aquecimento/ex-</p><p>tração de temperatura/aquecimento); sendo aquecimento (linha</p><p>vermelha), extração de temperatura (linha azul) e temperatura</p><p>estabilizada (linha preta). Extraído de Pinto e Melamed28,32.</p><p>Os autores relataram a média de diminuição das medidas</p><p>de espessura do tecido adiposo por dobras cutâneas foi estatis-</p><p>ticamente significativa (P=0,01 entre M1 e M2). A redução da</p><p>espessura da dobra cutânea deste estudo30 foi de 42,45% quan-</p><p>do comparada ao estudo realizado pelo mesmo grupo que usou</p><p>somente a técnica convencional31. Os efeitos adversos causa-</p><p>dos pela técnica forma considerados moderados e reversíveis33.</p><p>Em estudo adicional para avaliar os efeitos do frio so-</p><p>bre os adipócitos, foi realizado por Pinto, Ricart-Jané e Par-</p><p>dina34 estudo experimental usando adipócitos isolados de</p><p>ratos (3 machos Wistar, 8 semanas de idade e 250-300g de</p><p>peso) divididos em 4 grupos experimentais: Grupo contro-</p><p>le (CB), Grupo controle lipólise (CL), Grupo controle frio</p><p>(CF) e grupo lipólise e frio (FL). Para indução de lipólise</p><p>foi usado isoproterenol, os grupos controle foram mantidos</p><p>a temperatura ambiente (25°C) e o grupo tratado foi exposto</p><p>ao frio (8°C). Os autores observaram que o frio induziu rele-</p><p>231</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>vante danos e destruição às células, porem, as células restan-</p><p>tes viáveis mantiveram sua capacidade lipolítica preservada</p><p>pós-tratamento.</p><p>Reações adversas</p><p>De modo geral, as reações adversas são consideradas</p><p>transitórias. Durante o tratamento geralmente são reportados</p><p>dor e desconforto toleráveis35. Imediatamente ao tratamento</p><p>são esperados eritema e edema que desaparecem até 72 h.</p><p>equimoses secundárias ao vácuo produzido pelo aplicador</p><p>não são incomuns e desaparecem por volta de uma semana.</p><p>Alguns pacientes podem experimentar diminuição da sensi-</p><p>bilidade cutânea que desaparece por volta de uma semana a</p><p>dois meses3,8,14. Em estudo realizado para avaliar o efeito da</p><p>criolipólise sobre os lipídeos séricos e função hepática não</p><p>encontrou alterações em indivíduos após o tratamento com</p><p>criolipólise10. Hipertrofia paradoxal tem sido reladas, rela-</p><p>cionadas à criolipólise36-38. Queimaduras e consequentes al-</p><p>terações pigmentares podem ocorrer com sistemas que usam</p><p>temperaturas muito superiores do nível de congelamento da</p><p>água ou técnicas inadequadas3,39.</p><p>Conclusão</p><p>A criolipólise demonstra ser uma técnica segura e efe-</p><p>tiva para redução de depósitos de gordura subcutânea. A</p><p>tecnologia Polarys® foi desenvolvida para atender tanto a</p><p>técnica de criolipólise Convencional quanto a de Contraste e</p><p>teve seu desenvolvimento pautado em estudos previamente</p><p>publicados. Importante ressaltar que a proposta do uso do</p><p>calor imediato ao tratamento convencional pode se sustentar</p><p>também pela hipótese da formação de espécies reativas de</p><p>oxigênio, pois favorece a reperfusão/recuperação de forma</p><p>possivelmente mais acentuada que a massagem sugerida por</p><p>Sasaki et al.24 com potencial melhora de resultados por indu-</p><p>ção de danos adicionais aos adipócitos do local tratado. No</p><p>entanto, são necessários mais estudos para avaliar o poten-</p><p>cial clínico total deste dispositivo. Nesta revisão também foi</p><p>possível verificar que outros descritores também tem sido</p><p>usados para descrever a técnica que usa a extração de calor</p><p>do tecido adiposo tais como: Fat Freezin14, Cryolysis, Se-</p><p>lective Cryolisis6, Lipocryolysis31, Ice-Shock Lipolysis (uso</p><p>associado com terapia por ondas de choque)40, sendo o des-</p><p>critor mais conhecido, Cryolipolysis16.</p><p>Referências</p><p>1. Mulholland RS, Paul MD, Chalfoun C. Noninvasive Body Contouring with Radiofre-</p><p>quency, Ultrasound, Cryolipolysis, and Low-Level Laser Therapy. Clin Plast Surg [Internet].</p><p>2011;38(3):503�20.</p><p>2. Hawkins SW, Hawkins JR. Clinical Applications of Cryotherapy Among Sports Physical Thera-</p><p>pists. Int J Sports Phys Ther. 2016;11(1):141�8.</p><p>3. Jalian HR, Avram MM. Cryolipolysis: a historical perspective and current clinical practice. Semin</p><p>Cutan Med Surg [Internet]. 2013;32(1):31�4.</p><p>4. Fonseca-Alaniz MH, Takada J, Alonso-Vale MIC, Lima FB. O tecido adiposo como centro regu-</p><p>lador do metabolismo. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2006;50(2):216�29.</p><p>5. Stephens JM. The Fat Controller: Adipocyte Development. PLoS Biol [Internet].</p><p>2012;10(11):e1001436.</p><p>6. Manstein D, Laubach H, Watanabe K, Farinelli W, Zurakowski D, Anderson RR. Selective</p><p>cryolysis: A novel method of non-invasive fat removal. Lasers Surg Med. 2008;40(9):595�604.</p><p>7. Zelickson B, Egbert BM, Preciado J, Allison J, Springer K, Rhoades RW, et al. Cryolipoly-</p><p>sis for noninvasive fat cell destruction: Initial results from a pig model. Dermatologic Surg.</p><p>2009;35(10):1462�70.</p><p>8. Nelson A a., Wasserman D, Avram MM. Cryolipolysis for Reduction of Excess Adipose Tissue.</p><p>Semin Cutan Med Surg [Internet]. Elsevier Inc.; 2009;28(4):244�9.</p><p>9. Coleman SR, Sachdeva K, Egbert BM, Preciado J, Allison J. Clinical Ef! cacy of Noninvasive</p><p>Cryolipolysis and Its Effects on Peripheral Nerves. Aesthetic Plast Surg. 2009;33(4):482�8.</p><p>10. Klein KB, Zelickson B, Riopelle JG, Okamoto E, Bachelor EP, Harry RS, et al. Non-invasive</p><p>cryolipolysis for subcutaneous fat reduction does not affect serum lipid levels or liver function</p><p>tests. Lasers Surg Med [Internet]. 2009 Dec;41(10):785�90.</p><p>11. Avram MM, Harry RS. Cryolipolysis for subcutaneous fat layer reduction. Lasers Surg Med.</p><p>2009;41(10):703�8.</p><p>12. Stevens WG, Pietrzak LK, Spring M a. Broad Overview of a Clinical and Commercial Experience</p><p>With CoolSculpting. Aesthetic Surg J [Internet]. 2013;33(6):835�46.</p><p>13. Dierickx CC, Mazer JM, Sand M, Koenig S, Arigon V. Safety, tolerance, and patient satisfaction</p><p>with noninvasive cryolipolysis. Dermatologic Surg. 2013;39(8):1209�16.</p><p>14. Ingargiola MJ, Motakef S, Chung MT, Vasconez HC, Sasaki GH. Cryolipolysis for Fat Reduction</p><p>and Body Contouring. Plast Reconstr Surg [Internet]. 2015;135(6):1581�90.</p><p>15. Krueger N, Mai S V, Luebberding S, Sadick NS. Cryolipolysis for noninvasive body contouring:</p><p>clinical ef! cacy and patient satisfaction. Clin Cosmet Investig Dermatol [Internet]. 2014;7:201�5.</p><p>16. Derrick CD, Shridharani SM, Broyles JM. The Safety and Ef! cacy of Cryolipolysis: A Systematic</p><p>Review of Available Literature. Aesthetic Surg J [Internet]. 2015;1�7.</p><p>17. Boey GE, Wasilenchuk JL. Enhanced clinical outcome with manual massage following cryo-</p><p>lipolysis</p><p>treatment: a 4-month study of safety and ef! cacy. Lasers Surg Med [Internet].</p><p>2014;46(1):20�6.</p><p>18. Chopra K, Tadisina KK, Stevens WG. Interesting Case Series Cryolipolysis in Aesthetic Plastic Surgery.</p><p>19. Stevens WG, Bachelor EP. Cryolipolysis Conformable-Surface Applicator for Nonsurgical Fat</p><p>Reduction in Lateral Thighs. Aesthetic Surg J [Internet]. 2015;35(1):66�71.</p><p>20. Shek SY, Chan NPY, Chan HH. Non-invasive cryolipolysis for body contouring in Chinese-a ! rst</p><p>commercial experience. Lasers Surg Med. 2012;44(2):125�30.</p><p>21. Garibyan L, Sipprell WH, Jalian HR, Sakamoto FH, Avram M, Anderson RR. Three-dimensional</p><p>volumetric quanti! cation of fat loss following cryolipolysis. Lasers Surg Med [Internet]. 2014</p><p>Feb;46(2):75�80. A</p><p>22. Kilmer SL, Burns AJ, Zelickson BD. Safety and ef! cacy of cryolipolysis for non invasive reduc-</p><p>tion of submental fat. Lasers Surg Med [Internet]. 2015;(October):1�11.</p><p>23. Kilmer SL, Burns AJ, Zelickson BD. Safety and ef! cacy of cryolipolysis for non-invasive reduc-</p><p>tion of submental fat. Lasers Surg Med. 2016;48(1):3�13.</p><p>24. Sasaki GH, Abelev N, Tevez-Ortiz a. Noninvasive Selective Cryolipolysis and Reperfusion</p><p>Recovery for Localized Natural Fat Reduction and Contouring. Aesthetic Surg J [Internet].</p><p>2014;34(3):420�31.</p><p>25. Pinto H, Arredondo E, Ricart-Jane D. Evaluation of adipocytic changes after a simil-lipocryolysis</p><p>stimulus. Cryo Letters [Internet]. 2013;34(1):100�5.</p><p>26. Chocolate D De, Alimentos-ital T De. Revisão : Temperagem ou Pré- Cristalização do Chocolate.</p><p>Brazilian J Food Technol. 2004;7(1):23�30.</p><p>27. Rodrigues-ract JN, Cotting LN, Poltronieri TP, Claro R, Gioielli LA. Comportamento de crista-</p><p>lização de lipídios estruturados obtidos a partir de gordura do leite e óleo de girassol Crystalli-</p><p>zation behavior of structured lipids by chemical interesteri! cation of milkfat and sun" ower oil.</p><p>2010;2008(003654):258�67.</p><p>28. Rattner BP. In this issue of Epigenetics. Epigenetics [Internet]. 2014;9(2):183�5.</p><p>29. Pinto H, Ricart-Jan?? D, Pardina E. Pre and post lipocryolysis thermic conditioning enhances rat</p><p>adipocyte destruction. Cryo-Letters. 2014;35(2):154�60.</p><p>30. Pinto H, Melamed G, Investigaciones I De, Estéticas E. Pre- and post-session tempering improves</p><p>clinical results Contrast lipocryolysis. 2014;3(3):212�4.</p><p>31. Pinto HR, Garcia-Cruz E, Melamed GE. A study to evaluate the action of lipocryolysis. Cryo</p><p>Letters. 2012;33(3):177�81.</p><p>32. Liane Mattos Pinto V, Ribeiro de Meirelles L, de Tarso Veras Farinatti P. In" uência de progra-</p><p>mas não-formais de exercícios (doméstico e comunitário) sobre a aptidão física, pressão arterial</p><p>e variáveis bioquímicas em pacientes hipertensos. Rev Bras Med do Esporte [Internet]. 2003</p><p>Oct;9(5):267�81.</p><p>33. Livingston E, Vons C. Treating appendicitis without surgery. Jama. 2015;313(23):2327�8.</p><p>34. David Ricart Jane HP. Isolated Rat Adipocytes are Still Capable of Inducing Lipolysis after a</p><p>Lipocryolysis-Like Thermic Stimulus. J Glycomics Lipidomics [Internet]. 2014;04(04).</p><p>35. Nestor MS, Zarraga MB, Park H. Effect of 635nm low-level laser therapy on upper arm circu-</p><p>mference reduction: A double-blind, randomized, sham-controlled trial. J Clin Aesthet Dermatol.</p><p>2012;5(2):42�8.</p><p>36. Stefani WA. Adipose hypertrophy following cryolipolysis. Aesthetic Surg J. 2015;35(7):NP218�20.</p><p>37. Tremaine AM, Avram MM. FDA MAUDE data on complications with lasers, light sources, and</p><p>energy-based devices. Lasers Surg Med. 2015;47(2):133�40.</p><p>38. Jalian HR, Avram MM, Garibyan L, Mihm MC, Anderson RR. Paradoxical Adipose Hyperplasia</p><p>After Cryolipolysis. JAMA Dermatology [Internet]. 2014;150(3):317.</p><p>39. Leonard CD, Practitioner N, Kahn SA, Summitt JB. Full-thickness wounds resulting from �do-it-</p><p>-yourself� cryolipolysis: a case study.</p><p>40. Ferraro G a., De Francesco F, Cataldo C, Rossano F, Nicoletti G, D�Andrea F. Synergistic</p><p>effects of cryolipolysis and shock waves for noninvasive body contouring. Aesthetic Plast Surg.</p><p>2012;36(3):666�79.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>232</p><p>Resumos</p><p>Exercícios de facilitação neuromuscular</p><p>proprioceptiva no equilíbrio de idosas</p><p>Laiana Sepúlveda de Andrade Mesquita1, Fabiana Teixeira de Carvalho1,</p><p>Marcelino Martins1, Igor Almeida Silva2, Débora Carvalho Alves3</p><p>1. UESPI-Docente da Universidade Estadual do Piauí, Centro de Ciências e Saúde, Teresina, Piauí</p><p>2. UESPI-Acadêmico da Universidade Estadual do Piauí, Centro de Ciências e Saúde, Teresina, Piauí</p><p>3. AESPI-Acadêmica da Associação de ensino superior do Piauí</p><p>Endereço para correspondência: laianasepulveda@hotmail.com</p><p>Introdução: As alterações intrínsecas encontradas nos idosos caracterizam-se pelo decréscimo do sistema neuromus-</p><p>cular, perda de massa muscular, debilidade do sistema muscular, redução da flexibilidade e limitações na coordenação e no</p><p>equilíbrio corporal estático e dinâmico. Um tratamento proposto para minimizar esses efeitos é a Facilitação Neuromuscular</p><p>Proprioceptiva (FNP) que é uma técnica de alongamento e fortalecimento utilizada para melhorar a elasticidade do músculo</p><p>e tem mostrado um efeito positivo sobre a gama ativa e passiva dos movimentos. Objetivo: Avaliar os efeitos dos exercícios</p><p>de facilitação neuromuscular proprioceptiva no equilíbrio de idosas. Metodologia: Consiste em um estudo de delineamento</p><p>longitudinal com abordagem quantitativa realizado em um hospital público em Teresina-Piauí. A pesquisa obedeceu aos</p><p>critérios éticos com base na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde � CNS, com aprovação pelo Comitê de</p><p>ética com o parecer 218.352 e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido � TCLE. A amostra constituiu-se</p><p>idosas com idade entre 65 e 80 anos, que foram submetidas a exercícios de FNP. Avaliou-se o equilíbrio através da escala de</p><p>equilíbrio de Berg que consistiu em 14 tarefas, em uma escala ordinal de 5 pontos, que varia de 0 (incapaz de realizar a tarefa)</p><p>à 5 (realiza a tarefa de modo independente). As pontuações das 14 tarefas foram somadas em uma pontuação total, que varia</p><p>entre 0 e 56 pontos, sendo a maior pontuação relacionada a um melhor desempenho e valores inferiores e iguais a 45 pontos</p><p>como predição de quedas. O protocolo teve duração de quatro semanas, com frequência de 3 atendimentos semanais. Foram</p><p>utilizados três princípios específicos do FNP: iniciação rítmica, sustentar-relaxar e a reversão de antagonistas. A análise dos</p><p>dados foram realizados através do programa BioEstat 5.0. Primeiramente, aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a</p><p>normalidade das variáveis, a verificação da correlação foi utilizado o T-Student, considerando estatisticamente significati-</p><p>vo um valor de p<0,05. Resultados: Participaram do estudo 20 idosas, com idade média de 68,7 ±5,7 anos; peso de 58,9±</p><p>9,6 Kg, altura de 1,53±5,2 metros e IMC de 25,16±4,9 kg/m². Verificou-se incremento significativo no escore da escala de</p><p>equilíbrio de Berg de 51,7±4,7 para 55,75±0,4 após o protocolo de exercícios de Facilitação neuromuscular proprioceptiva</p><p>com p=0,0007. Conclusões: Foi observado uma melhora no equilíbrio postural das idosas avaliadas após quatro semanas</p><p>de exercícios de FNP. Recomenda-se novos estudos incluindo amostras maiores de idosas e maior número de sessões. Isso</p><p>ajudará a elucidar melhores alternativas que possam ser aplicados para aumentar o equilíbrio, permitindo que os exercícios</p><p>de FNP sejam utilizados não só para a reabilitação, mas como prevenção do desequilíbrio postural.</p><p>Mensagem do Presidente da Aferj - Dr. Mauro Santos</p><p>Associação dos Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro.</p><p>O FISIO CONNECT é o evento magno da Associação dos Fisioterapeutas do Estado do Rio</p><p>de Janeiro. Após 60 anos de existência, a associação está em plena evolução, desenvolvendo seus</p><p>departamentos através de encontros científicos, criando grandes parcerias com empresas, institui-</p><p>ções de ensino e autarquias, valorizando os profissionais e agregando valores.</p><p>O FISIO CONNECT veio com o propósito de discutirmos a importância</p><p>da ciência na Fisioterapia, como utilizar a</p><p>tecnologia a favor do tratamento de nossos pacientes aumentando qualidade, e entender que a Fisioterapia é mais uma peça</p><p>importante na promoção da saúde em todos os seus níveis.</p><p>O processo de seleção dos resumos aqui contidos foi rigoroso, bem como a avaliação da apresentação dos mesmos.</p><p>Portanto, o que será listado nas próximas páginas será um exemplo de que a fisioterapia encontra-se em franco desenvolvi-</p><p>mento, mostrado em pesquisas de qualidade extrema como essas. Agradeço o empenho da comissão científica, que não mediu</p><p>esforços para tornar este momento tão rico como foi. Também faço uma menção honrosa aos classificados nestes resumos a</p><p>seguir. Justa homenagem a quem, desde cedo, produz ciência de qualidade para nossa profissão. Obrigado, e esperamos sua</p><p>contribuição científica na próxima edição do FISIO CONNECT .</p><p>233</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Força muscular respiratória e de membros superiores</p><p>em crianças e adolescentes com fibrose cística</p><p>Ana Beatriz Santana Cavalcante1, Amanda Tupinambá da Fonseca Oliveira1,</p><p>Christine Pereira Gonçalves1, Célia Regina Moutinho de Miranda Chaves1, Nelbe Nesi Santana1</p><p>1. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, Fisioterapia Respiratória, Rio de Janeiro, RJ</p><p>Endereço para correspondência: biacavalcante91@gmail.com</p><p>Introdução: A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética autossômica recessiva multisistêmica cujo maior compro-</p><p>metimento se dá no sistema respiratório, devido a infecções recorrentes que levam à inatividade em muitas das vezes. A</p><p>fraqueza musculoesquelética na FC, tanto respiratória como periférica, é causada por fatores como o estado nutricional, a hi-</p><p>póxia, a inatividade, o uso de corticoides, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a inflamação crônica no sistema respiratório</p><p>e a predisposição genética, visto que a alteração primária também está presente nos retículos sarcoplasmáticos musculares.</p><p>Objetivo: Verificar se há associação entre a força muscular respiratória e a força muscular de membros superiores (MMSS)</p><p>em crianças e adolescentes com FC. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, observacional, descritivo, incluindo-</p><p>-se crianças e adolescentes entre 8 e 19 anos incompletos atendidos no IFF/Fiocruz, com diagnóstico de FC através do teste</p><p>do suor. Excluíram-se os pacientes com alguma condição neurológica ou musculoesquelética que os incapacitassem de re-</p><p>alizar os testes e aqueles com outras doenças além da FC que pudessem interferir nos resultados dos mesmos. Os pacientes</p><p>realizaram testes de dinamometria e manovacuometria. A dinamometria foi realizada através de um dinamômetro de preensão</p><p>manual segundo as normas da American Society of Hand Therapists. O paciente foi instruído a realizar a preensão manual</p><p>máxima durante 3 segundos, utilizando seu membro superior dominante. A manovacuometria foi realizada segundo as nor-</p><p>mas da American Thoracic Society. Para a mensuração da pressão inspiratória máxima, foi solicitado ao paciente que expi-</p><p>rasse completamente até o volume residual e a seguir inspirasse com força máxima. Para a mensuração da pressão expiratória</p><p>máxima, foi solicitado que o participante inspirasse profundamente até a capacidade pulmonar total e a seguir expirasse com</p><p>força máxima sem utilizar a musculatura da bochecha. Tanto na dinamometria quanto na manovacuometria, foram realizadas</p><p>3 medidas de teste, e o valor maior foi considerado, calculando-se o valor previsto de acordo com as equações disponíveis na</p><p>literatura. Na análise estatística foi realizada a correlação de Pearson. Resultados: Foram avaliados 44 indivíduos, 25 do sexo</p><p>feminino, com idade entre 08 e 18 anos. Os participantes apresentaram, em média, -80,9+/- 37,2 cmH2O de pressão inspira-</p><p>tória máxima, o que corresponde a 123,1+/-55% do valor previsto. A pressão expiratória média foi de 66,6+/-28,5 cmH2O,</p><p>correspondendo a 64,8+/-29,3% do previsto. Na dinamometria de preensão palmar a média alcançada foi de 21,3+/-8,2 kgf,</p><p>equivalente a 79,5+/-15,9% do previsto. Na análise de correlação, não houve associação entre a força muscular periférica e</p><p>a força de músculos respiratórios (p>0,05). Conclusões: O declínio da força muscular esquelética é uma importante compli-</p><p>cação observada em muitos pacientes com FC. Embora os músculos respiratórios e periféricos sejam ambos pertencentes à</p><p>musculatura esquelética, não foi observada associação entre as medidas de força dos mesmos. Em nosso estudo, os pacientes</p><p>com FC apresentaram maior força relacionada à musculatura inspiratória e menor força relacionada à musculatura expiratória</p><p>e periférica. Alguns estudos mostram que comparando a força muscular esquelética periférica com a força muscular respirató-</p><p>ria em pacientes com FC, existe uma preservação dos músculos respiratórios, visto que a tosse crônica e o aumento do esforço</p><p>respiratório levam à manutenção e até mesmo ao aumento da força muscular respiratória através do efeito de treinamento</p><p>desses músculos, o que foi observado em nossos pacientes.</p><p>Correlação entre a força muscular respiratória e a</p><p>força de preensão palmar em idosos internados</p><p>em uma enfermaria de cirurgia vascular</p><p>Christiano Barbosa da Silva1, Ana Paula Petrungaro Novello2, Vitor Savino Campos3,</p><p>Marianna Alexandre dos Santos3, Diana Junqueira Fonseca Oliveira4, Mauricio de Sant Anna Junior5</p><p>1. Hospital Estadual Getúlio Vargas � HEGV - Rio de Janeiro, RJ</p><p>2. Núcleo de Atenção ao idoso/Universidade Aberta da Terceira Idade/ UERJ, Rio de Janeiro, RJ. Hospital Geral de Guarus/ Setor de Reabilitação/ Fundação</p><p>Municipal de Saúde, Campos dos Goytacazes, RJ</p><p>3. Núcleo de Atenção ao idoso/Universidade Aberta da Terceira Idade/ UERJ, Rio de Janeiro, RJ. Hospital Federal dos Servidores do Estado/ Departamento</p><p>de Fisioterapia/ Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, RJ.</p><p>4. Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro �IECAC/ Dep. Fisioterapia/ Fundação Saúde, RJ.</p><p>5. Instituto Federal do Rio de Janeiro �IFRJ/ Curso de Fisioterapia, Rio de Janeiro, RJ</p><p>Endereço para correspondência: christiano_barbosa@yahoo.com.br</p><p>Introdução: �A hospitalização oferece riscos para a pessoa idosa tornando esta mais suscetível a complicações causa-</p><p>das pelo repouso prolongado no leito e a fragilidade. A fragilidade pode ser definida como um estado dinâmico que afeta o</p><p>indivíduo nos aspectos físicos, psíquico e social, causando redução da sua reserva fisiológica e declínio funcional. A força</p><p>de preensão palmar (FPP) esta associada com a funcionalidade de idosos. O estudo de Sydall e col questiona se FPP pode</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>234</p><p>ser considerada um marcador único de fragilidade. O declínio da força muscular respiratória tem relação com a mobilidade</p><p>de idosos. Objetivo: Verificar se existe correlação entre a força de musculatura respiratória e a força de preensão palmar em</p><p>idosos internados em uma enfermaria de cirurgia vascular de um hospital universitário na cidade do Rio de Janeiro. Meto-</p><p>dologia: Trata-se de um estudo transversal (projeto piloto) com 30 indivíduos que foi realizado no período de agosto/2015</p><p>a março/2016. 1ª Etapa: Analise de dados sociodemográficos (idade, gênero, presença de comorbidades e motivo da inter-</p><p>nação). 2ª Etapa: Avaliação fisioterapêutica: FPP: foi mensurada por meio de um dinamômetro palmar hidráulico analógico</p><p>Jamar®. Força da musculatura respiratória (PImáx e PEmáx): foi medida utilizando um manovacuômetro (WIKA®/Brasil).</p><p>Critérios de inclusão: Idade igual ou superior a 60 anos, ambos os sexos, admitidos na enfermaria de cirurgia vascular do</p><p>HUPE há menos de 72 horas. Critérios de exclusão: Dor (pontuação > 8 na EVA), doença osteomuscular aguda, deformidade</p><p>que impeça a realização do teste, déficit cognitivo, delirium, doença respiratória exacerbada, indicação médica de repouso</p><p>e/ou com uso de drenos ou cateter venoso central com infusão continua de medicação e aneurisma de aorta. O estudo foi</p><p>submetido</p><p>ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUPE/UERJ e autorizado (número CAAE 44763315.0.0000.5259). Todos os</p><p>participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para caracterização da distribuição dos dados foram</p><p>aplicados os testes de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors (distribuição normal). Para correlação a PImáx e</p><p>a FPP foi empregado o teste de correlação de Pearson. Para análise dos resultados e confecção dos gráficos foi utilizado o</p><p>programa GraphPrims® 5.0 sendo adotado o nível de significância p<0,05. Resultados: Foram avaliados 30 pacientes idosos</p><p>(21 homens e 9 mulheres) com média de idade 71.3±7.5. Dados antropométricos: Peso: 60.3±11.6, altura: 1.59±0.079 e IMC:</p><p>23.6±3.5. Dentre os pacientes que preencheram os critérios de inclusão, os motivos de internação foram: 64% de Doença</p><p>Arterial Obstrutiva Periférica, 23% de estenose de Carótida e 13% de aneurisma arterial (não-aórtico). E as comorbidades</p><p>foram: 47% cardiorrespiratórias, 23% músculo esqueléticas, 14% neurológicas e 50% outras causas. Houve correlação sig-</p><p>nificativa entre a FPP e a PImáx (r=0.5300 / p=0.0026). E não houve diferença entre o valor da PImáx previsto e o obtido</p><p>(p=0.4577).� Conclusões: Foi encontrada correlação entre a FPP e Pimáx dos idosos internados na enfermaria da cirurgia</p><p>vascular e não houve diferença entre o valor da Pimáx previsto e o obtido. Por se tratar de um projeto piloto, será necessário</p><p>aumentar o número da amostra com o objetivo de corroborar ou rechaçar os resultados encontrados.</p><p>Efeitos da Laserterapia na síndrome do impacto no ombro</p><p>Laiana Sepúlveda de Andrade Mesquita1, Kelson Nonato Gomes da Silva1,</p><p>Fabiana Teixeira de Carvalho1, Marcelino Martins1, Igor Almeida Silva2, Débora Carvalho Alves2</p><p>1.Universidade Estadual do Piauí-UESPI</p><p>2. Associação de Ensino Superiordo Piauí-AESPI</p><p>Endereço para correspondência: laianasepulveda@hotmail.com</p><p>Introdução: A síndrome do impacto se caracteriza como o aprisionamento do tendão do músculo supra espinhal entre o</p><p>canto inferior anterior do acrômio e o tubérculo maior do úmero. Clinicamente é acompanhada com inflamação e edema que</p><p>desencadeia dor severa e em casos mais graves à degeneração da bursa e dos tendões dos rotadores no espaço subacromial. A</p><p>Terapia a laser se trata de um método não invasivo, com ação sobre o processo degenerativo, analgésica e anti-inflamatória.</p><p>Estimula a proliferação celular, síntese de colágeno e protéica e reparação cicatricial através da irradiação direta. Objetivo:</p><p>Avaliar os efeitos da laserterapia na síndrome do impacto. Metodologia: Trata-se de estudo Piloto, experimental, prospec-</p><p>tivo. O local da pesquisa foi uma Clínica de Traumas de referência da cidade de Teresina, no período de agosto de 2015</p><p>até dezembro de 2015. A população estudada foi a de pacientes que foram encaminhados para o setor de fisioterapia com</p><p>diagnóstico de síndrome do impacto. A pesquisa obedeceu aos critérios éticos com base na Resolução 466/2012 do Conselho</p><p>Nacional de Saúde � CNS, com aprovação pelo Comitê de ética em Pesquisa com o parecer 1.253.863 e assinatura do Ter-</p><p>mo de Consentimento Livre e Esclarecido � TCLE. Para avaliar a dor foi utilizada a Escala Visual Analógica (EVA) e uma</p><p>escala de avaliação funcional do ombro denominada UCLA (University of Califórnia at Los Angeles), contendo domínios</p><p>referentes à dor, função do ombro, força muscular, grau de mobilidade e satisfação do paciente. De forma geral as somas</p><p>foram representadas em 4 escores, sendo Pobre 0 � 20; Razoável 21 � 27; Bom 20 � 33; Excelente 34 � 35. Um avaliador</p><p>cego realizou a aplicação dos questionários no início e no término do protocolo, que foi constituído de 20 atendimentos com</p><p>uma frequência de 3 vezes por semana. O Laser foi aplicado de forma pontual com uma dosagem de 5 joule/cm2, nos pon-</p><p>tos dolorosos durante 1 minuto cada, sobre a região subacromial do ombro. Foi utilizado: o Laser gálio-alumínio-arsenieto,</p><p>com um comprimento de onda de 850nm, com potência de saída de 100 mV, onda contínua de 0.07cm2/área por ponto do</p><p>laser. Resultados: Participaram do estudo 4 pacientes, com idade média de 68,5 ±6,45 anos; peso de 58± 8,08 Kg, altura de</p><p>1,64±0,07 metros e IMC de 21,45±2,02 kg/m². Foi possível observar uma tendência a dominância do membro D, uma vez que</p><p>todos os pacientes eram destros, além de uma correlação entre a dor e a função, onde quanto maior o índice de dor expresso</p><p>pela EVA menor a função do ombro. Houve uma redução no escore da EVA em todos pacientes avaliados, com uma média</p><p>de 6,5 ±1,73 antes do tratamento para 2,5±2,08 após a Laserterapia. Todos os participantes apresentaram a classificação</p><p>�Pobre� pelo escore de UCLA. Após a intervenção 50% dos pacientes evoluíram para �Bom�, 25% para �Excelente� e 25%</p><p>235</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>para �Razoável�. Conclusões: Conclui-se que a laserterapia apresentou propriedades benéficas aos pacientes acometidos</p><p>com síndrome do impacto, reduzindo a dor e permitindo recuperação das funções. Recomenda-se novos estudos incluindo</p><p>amostras maiores e maior número de sessões. Isso ajudará a elucidar melhores alternativas que possam ser utilizadas para o</p><p>tratamento da síndrome do impacto.</p><p>A importância da associação de mulheres mastectomizadas</p><p>na qualidade de vida em mulheres com câncer de mama</p><p>Livia Jaccoud da Silva1, Rafael José Bezerra Siqueira1, Gabriel Gomes Maia1</p><p>1. Universidade Estácio de Sá, Nova Friburgo, Rio de Janeiro</p><p>Endereço para correspondência: gmaia! sio@gmail.com</p><p>Introdução: O diagnó stico precoce e o avanç o das terapê uticas disponí veis tê m levado ao aumento da sobrevida</p><p>das pacientes com câ ncer de mama, apesar da incidê ncia ainda ser elevada no Brasil. Com o aumento da sobrevida,</p><p>observa-se a importâ ncia de avaliar a qualidade de vida destas pacientes. Objetivo: O objetivo deste estudo é verificar o</p><p>impacto das ações do AMMA na qualidade de vida, na rede social e no apoio e/ou suporte social dos pacientes portado-</p><p>res de câncer de mama. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal em uma coorte de mulheres com confirmação</p><p>histopatológica de câncer de mama e que estão recebendo assistência pela AMMA no período de 1 a 2 anos. Foram</p><p>selecionadas 16 mulheres para coleta de dados por entrevista realizada para obtenção de dados sócio-demográficos e</p><p>dados clínicos, sendo utilizado como instrumentos o questioná rio da Organizaç ã o Europé ia de Pesquisa e Tratamento de</p><p>Câ ncer-C30 para mensurar qualidade de vida e adaptaç ã o validada do Medical Outcomes Study Social-Support Survey</p><p>para avaliar rede social e apoio social. Foram realizadas aná lises estatísticas entre as dimensõ es da qualidade de vida, de</p><p>rede social e apoio social. Resultados: Foi observado que 56,25% das mulheres tem idade superior a 60 anos, 56,25%</p><p>possuem baixa escolaridade, 81,25% não fumam, 93.75% não realizam reposição hormonal e que 62,5% realizaram</p><p>mais de um tipo de tratamento para o câncer. Na funcionalidade observamos que a AMMA parece influenciar de forma</p><p>significativa nos aspectos cognitivo (4,25±1,87), social (2,87±1,62), porém nos aspectos físico (10,31±3,59), emocional</p><p>(11,62±3,73) e saúde global (10,43±2,52) não foi observado diferença. Em relação a dificuldade financeira (1,87±1,08)</p><p>observamos a importância da AMMA no suporte. Já a rede e apoio social, verificamos uma importante participação</p><p>da AMMA no apoio material (18,5±2,39), afetivo (14,62±0,88), emocional (16,93±2,99), informação (16,81±2,88) e</p><p>interação social (14,68±4,11). Conclusões: Sendo assim, verifica-se que a presença de associações como a AMMA,</p><p>podem gerar grande impactos positivos na funcionalidade e na qualidade de vida de indivíduos portadores de câncer.</p><p>Além de que, pesquisas como estas podem gerar um feedback para a associação com objetivo de melhorar suas missões</p><p>e objetivos em relação ao público alvo.</p><p>Treinamento de força muscular na reabilitação</p><p>pulmonar em pacientes com DPOC: uma revisão sistemática</p><p>Ana Carolina Santos Sampaio1, Patrícia</p><p>1,96 ± 3,08 0,47</p><p>IA apêndice xifoide 2,63 ± 1,85 2,85 ± 2,06 0,51</p><p>IA últimas costelas 2,44 ± 3,74 2,63 ± 2,54 0,76</p><p>IA linha umbilical -1,55 ± 2,81 1,00 ± 1,77 0,07</p><p>DP6M 490,25 ± 85,31 555,00 ± 89,61 0,00*</p><p>A análise postural dos indivíduos envolvidos no estu-</p><p>do foi realizada no programa ALCimagem. Foram coletadas</p><p>três imagens de cada indivíduo nas posições anterior, pos-</p><p>terior e perfil direito. Cada um dos ângulos foi medido três</p><p>vezes e foi calculada uma média, a fim de minimizar os erros</p><p>de análise e medição.</p><p>Na posição anterior, foram calculados quatro ângulos:</p><p>A1 - ombro esquerdo; A2 - ombro direito, A3 - pelve esquer-</p><p>da; A4 - pelve direita. Os ângulos A1 e A2 foram obtidos</p><p>através das marcações: incisura jugular; articulação acrô-</p><p>mio-clavicular e processo xifoide. Os ângulos A3 e A4 foram</p><p>obtidos através das marcações: cicatriz onfálica e espinhas</p><p>ilíacas anterossuperiores. Ao comparar os ângulos A1 e A2,</p><p>verificou-se que o ombro mais elevado foi o que apresentou</p><p>menor valor. Ao comparar os ângulos A3 e A4, verificou-se</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>186</p><p>que a pelve mais elevada foi a que apresentou maior valor.</p><p>Após a intervenção, não houve diferença estatisticamente</p><p>significativa na angulação dos ombros e das pelves.</p><p>Na posição posterior, foram calculados quatro ângulos:</p><p>A1 - ombro direito; A2 - ombro esquerdo, A3 - pelve es-</p><p>querda; A4 - pelve direita. Os ângulos A1 e A2 foram ob-</p><p>tidos através das marcações: processo espinhoso da sétima</p><p>vértebra cervical (C7) e ângulos superiores das escápulas.</p><p>Os ângulos A3 e A4 foram obtidos através das marcações:</p><p>espinhas ilíacas posterossuperiores e quinta vértebra lom-</p><p>bar (L5). Ao comparar os ângulos A1 e A2, verificou-se que</p><p>o ombro e/ou escápula mais elevado foi o que apresentou</p><p>maior valor. Após a interversão, não houve diferença signifi-</p><p>cativa na angulação dos ombros e/ou escápulas.</p><p>Na posição perfil direito, foram calculados dois ângulos:</p><p>A1 - posição de cabeça; A2 - curvatura torácica. O ângulo A1</p><p>foi obtido através das marcações: processo espinhoso de C7;</p><p>incisura jugular e mento. O ângulo A2 foi obtido através das</p><p>marcações: processo espinhoso de C7; processo espinhoso</p><p>da quarta vértebra torácica (T4) ou ponto mais proeminente</p><p>da cifose e processo espinhoso da décima segunda vértebra</p><p>torácica (T12). Verificou-se que quanto maior o ângulo A1,</p><p>maior a anteriorização da cabeça; e quanto menor o ângulo</p><p>A2, maior a cifose torácica. Após a intervenção, não houve</p><p>diferença significativa tanto na posição da cabeça quanto na</p><p>curvatura torácica. Os valores das medianas das angulações</p><p>obtidas na análise postural estão citados na tabela 3.</p><p>Tabela 3: Análise postural. Valores expressos como mediana</p><p>(1º e 3º quartis) de oito indivíduos com asma, que foram sub-</p><p>metidos ao tratamento com o Método Pilates. AP.A1: angula-</p><p>ção do ombro direito; AP.A2: angulação do ombro esquerdo;</p><p>AP.A3: angulação da pelve direita; AP.A4: angulação da pelve</p><p>esquerda; PA.A1: angulação do ombro direito; PA.A2: angula-</p><p>ção do ombro esquerdo; PA.A3: angulação do ombro direito;</p><p>PA.A4: angulação do ombro esquerdo; PERFIL A1: ângulo da</p><p>posição da cabeça; PERFIL A2: angulação do tórax.</p><p>Antes Após P</p><p>AP.A1 45,24 (40,41-49,17) 46,22 (40,87-54,10) 0,07</p><p>AP.A2 46,00 (42,23-51,82) 47,33 (44,06-54,00) 0,64</p><p>AP.A3 14,48 (9,97-21,08) 16,09 (12,54-22,27) 0,38</p><p>AP.A4 14,17 (10,26-24,46) 14,72 (13,71-25,46) 0,31</p><p>PA.A1 66,76 (64,46-70,29) 66,69 (63,44-68,71) 0,46</p><p>PA.A2 64,84 (59,90-68,54) 65,60 (60,42-69,87) 0.31</p><p>PA.A3 14,76 (11,61-16,27) 14,57 (12,58-18,50) 0,29</p><p>PA.A4 13,59 (12,17-17,00) 14,62 (13,49-19,14) 0,84</p><p>Per! l.A1 102,34 (98,21-105,33) 103,26 (96,09-106,37) 1,00</p><p>Per! l.A2 199,61 (197,04-205,24) 200,53 (195,84-202,90) 0,25</p><p>A qualidade de vida foi avaliada através do Questionário</p><p>sobre Qualidade de Vida em Asma com Atividades Padroni-</p><p>zadas (AQLQ (S)). Os valores das medianas do AQLQ (S)</p><p>nos domínios �global�, �sintomas�, �limitação de atividade�,</p><p>�função emocional� e �estímulo ambiental� estão dispostos na</p><p>tabela 4. A pontuação quatro indica grau de comprometimento</p><p>moderado; valores acima de quatro indicam menor compro-</p><p>metimento; e valores abaixo de quatro indicam um aumento</p><p>da gravidade. Ao comparar esses valores antes e após a aplica-</p><p>ção do protocolo de tratamento, foi possível observar uma me-</p><p>lhora estatisticamente significativa nos domínios global (p =</p><p>0,02), sintomas (p = 0,01) e limitação de atividade (p < 0,00).</p><p>Tabela 4: Questionário sobre Qualidade de Vida em Asma</p><p>com Atividades Padronizadas. Valores expressos como me-</p><p>diana (1º e 3º quartis) de oito indivíduos com asma, que fo-</p><p>ram submetidos ao tratamento com o Método Pilates. AQLQ</p><p>(S): Questionário sobre Qualidade de Vida em Asma com</p><p>Atividades Padronizadas. *Estatisticamente diferente dos</p><p>parâmetros observados antes do protocolo de tratamento.</p><p>Domínio AQLQ (S) Antes Após P</p><p>Global 5,85 (4,75-6,45) 6,55 (6,05-6,75) 0,02*</p><p>Sintomas 5,30 (4,10-6,55) 6,50 (6,15-6,90) 0,01*</p><p>Limitação de Atividade 5,00 (4,30-5,55) 6,05 (5,75-6,70) < 0,00*</p><p>Função Emocional 6,20 (4,70-7,00) 7,00 (6,90-7,00) 0,09</p><p>Estímulo Ambiental 5,35 (3,60-6,35) 6,85 (6,10-7,00) 0,07</p><p>Discussão</p><p>O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos</p><p>do Método Pilates nas alterações pulmonares, posturais e na</p><p>qualidade de vida de indivíduos asmáticos.</p><p>O Método Pilates contribui para a melhoria na qualidade</p><p>de vida, pois, através da prática de exercícios físicos espe-</p><p>cíficos, promove bem-estar e saúde, proporcionando maior</p><p>agilidade, mobilidade e equilíbrio21. Durante a realização</p><p>dos exercícios, são ativados diversos músculos que estão en-</p><p>volvidos na respiração, principalmente os responsáveis pela</p><p>expiração, visto que os mesmos se encontram contraídos du-</p><p>rante as fases de inspiração e expiração22.</p><p>No presente estudo, foi possível observar uma melho-</p><p>ra significativa da força muscular expiratória. Essa melhora</p><p>ocorreu, possivelmente, devido ao trabalho dos músculos</p><p>respiratórios, especificamente dos músculos abdominais, e</p><p>dos exercícios de alongamento da musculatura acessória da</p><p>respiração. Esses resultados se assemelham aos achados de</p><p>Lima23 e Dourado24, que também mostraram uma melhora da</p><p>PEmax, através de exercícios que visavam ao fortalecimento</p><p>direto da musculatura abdominal. A ativação desses múscu-</p><p>los, durante a realização dos exercícios do Método Pilates,</p><p>principalmente do músculo reto abdominal, justifica o au-</p><p>mento da força muscular expiratória.</p><p>Costa et al.25 realizaram um estudo com 10 indivíduos</p><p>asmáticos, de ambos os sexos, utilizando como protocolo de</p><p>tratamento o método kinetic Control, associado ao alonga-</p><p>mento da musculatura acessória da respiração. Esses autores</p><p>observaram melhora na força dos músculos respiratórios,</p><p>tanto inspiratórios quanto expiratórios. Apesar desse estudo</p><p>utilizar um outro método de tratamento, os autores também</p><p>mostraram que a melhora da função pulmonar pode ser obti-</p><p>da pelo tratamento das alterações posturais.</p><p>De acordo com Fonseca26, o PFE representa o fluxo má-</p><p>ximo gerado durante uma expiração forçada, realizada com</p><p>grande intensidade e partindo de um nível elevado de insufla-</p><p>ção pulmonar, ou seja, da capacidade pulmonar total. Portanto,</p><p>esse índice é considerado um indicador indireto da obstrução</p><p>das vias aéreas, sendo influenciado pelo grau de insuflação pul-</p><p>monar, complacência torácica, musculatura abdominal e força</p><p>muscular inspiratória gerada pelo paciente. No presente estudo,</p><p>não foi observado uma modificação no PFE após o tratamento</p><p>com o Método Pilates. Esse resultado pode ter ocorrido pelo</p><p>fato de não termos observado uma alteração na PImax. De acor-</p><p>do com o estudo de Carter27, ao melhorar a força muscular res-</p><p>piratória (PImáx e PEmáx) é possível diminuir a resistência das</p><p>187</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>vias aéreas e melhorar o PFE. O presente estudo mostrou que o</p><p>protocolo de exercícios proposto influenciou apenas a PEmax.</p><p>Durante a crise de asma, ocorre estreitamento</p><p>Frasson Hommerding1,</p><p>Yves Raphael de Souza2, Felipe Cortopassi2, Kenia Maynard da Silva2</p><p>1. Universidade Veiga de Almeida</p><p>2. UERJ - Laboratório de Reabilitação Pulmonar</p><p>Endereço para correspondência: carol.ssampaio@yahoo.com.br</p><p>Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma patologia caracterizada pela obstrução progressiva</p><p>ao fluxo aéreo, parcialmente ou não totalmente reversível, causando prejuízos funcionais. Outro fator associado a tais limita-</p><p>ções é a disfunção muscular periférica. Existem evidências de que alterações musculoesqueléticas relacionadas à inatividade</p><p>física repercutem negativamente no prognóstico dos pacientes com DPOC. Dessa forma, o fortalecimento muscular nestes</p><p>indivíduos proporcionam além do aumento da força muscular, melhora da capacidade funcional e da qualidade de vida. Obje-</p><p>tivo: O presente estudo é uma revisão sistemática que tem como objetivo identificar os aparelhos utilizados para treinamento</p><p>de força muscular e a eficácia dos Programas de Reabilitação Pulmonar (PRP) em pacientes com DPOC. Metodologia: Para</p><p>tanto, foi realizada uma busca sistemática nas bases de dados Scielo, Pubmed, Medline e Tripdatabase, foram incluídos arti-</p><p>gos com ano de publicação no período de 2005 à 2016. Resultados: Foram selecionados 24 estudos, e descritos os tipos de</p><p>equipamentos utilizados para o treino de força e os resultados dos programas de reabilitação. Conclusões: Foi constatado que</p><p>os equipamentos de musculação são os mais utilizados para este fim, porém opções mais viáveis e mais versáteis produzem</p><p>os mesmos resultados, e além disso, em todos os estudos, os PRP produziram resultados significativos.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>236</p><p>Análise comparativa da frequência cardíaca antes</p><p>e após um minuto do teste de caminhada em seis minutos</p><p>Diego Alves Saldanha1, Patrícia Frasson Hommerding1,</p><p>Yves Raphael de Souza2, Diego Condesso2, Bianca Figueira2, Kenia Maynard da Silva2</p><p>1. Universidade Veiga de Almeida</p><p>2. UERJ - Laboratório de Reabilitação Pulmonar</p><p>Endereço para correspondência: diegoasaldanha@gmail.com</p><p>Introdução: A Frequência cardíaca é a resposta ao esforço máximo e submáximo durante o exercício. A observação do</p><p>retorno da frequência cardíaca após o esforço denota informação prognóstica relevante. De acordo com o protocolo o tempo</p><p>de recuperação para a FC após o teste de caminhada de seis minutos é de trinta minutos para sua repetição. Poucos são os</p><p>estudos sobre o tempo de recuperação da FC após o TD6M. Objetivo: Analisar a FC após um minuto do TC6M dos indiví-</p><p>duos saudáveis comparando a FC na sua condição basal e final após o teste. Metodologia: Estudo retrospectivo, com análise</p><p>a partir do banco de dados da tese �Equação de Referência do Teste do Degrau para indivíduos saudáveis e sedentários�.</p><p>Avaliamos 52 homens e 52 mulheres com idade entre 20 - 80 anos. Foi analisada e comparada a FC inicial, final e um minuto</p><p>após o TC6M. Resultados: FC inicial média: total de participantes foi 77,5±16,2, o gênero masculino 73±16,3; gênero fe-</p><p>minino 82±16. FC final média: total de participantes foi 111,2±17, homens e mulheres apresentaram 107,5±12,8 e 115±21,3</p><p>respectivamente. FC um minuto após o TC6M média: total de participantes 86,5±13,3, os homens apresentam 85±14,3 e mu-</p><p>lheres 88±12,3, os resultados demonstraram uma p-valor para homens >0,0001; e mulheres >0,0001 e total de participantes</p><p>p>0,0001. Para FC no primeiro minuto o p-valor nos homens p>0,0001; mulheres = 0,0035 e total de participantes p>0,0001.</p><p>Conclusões: A FC após 1 minuto no TC6M se aproxima da FC inicial, demonstrando a possibilidade de redução do tempo</p><p>de intervalo para a repetição.</p><p>Análise do Peak Flow após técnicas de facilitação</p><p>neuromuscular proprioceptiva em idosas</p><p>Anne Shirley Menezes Costa1, Fabiana Teixeira Carvalho1, Ruan Luiz Rodrigues de Jesus2,</p><p>Maíra Damasceno Cunha Varanda2, Laiana Sepúlveda de Andrade Mesquita1, Marcelino Martins1</p><p>1. UESPI-CCS, Teresina �PI</p><p>2. Hospital Getúlio Vargas, Teresina � Piauí.</p><p>Endereço para correspondência: ! sio5@yahoo.com.br</p><p>Introdução: O aumento da idade da população apresenta-se como realidade no Brasil. Quanto mais avançada à idade,</p><p>maiores as alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, levando ao idoso se tornar menos ativo fisicamente. A Facili-</p><p>tação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) é uma técnica de alongamento e fortalecimento muscular que trás benefícios as</p><p>pessoas da terceira idade como a manutenção da massa e aumento da potência muscular e da força. O pico de fluxo expirató-</p><p>rio é um instrumento que serve para avaliar o volume pulmonar. Objetivo: Analisar se os exercícios de FNP influenciam na</p><p>variação do pico de fluxo expiratório máximo (PFE) em idosas saudáveis. Metodologia: Estudo retrospectivo exploratório,</p><p>aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí, parecer ETIC 356.137 a partir de dados co-</p><p>letados de uma pesquisa constituída de 15 idosas que foram submetidas a 12 atendimentos de exercícios de FNP, no setor de</p><p>fisioterapia de um hospital público da cidade de Teresina (PI). Foram coletadas informações presentes nas fichas de avaliação</p><p>de prontuários referentes à antropometria (peso corporal (kg) com a utilização de uma balança marca Toledo (modelo 2096,</p><p>São Paulo, Brasil), estatura (m) através de uma fita métrica e Índice de Massa Corporal (IMC, em kg/m2) e pico de fluxo</p><p>expiratório (realizado antes e após o exercício por meio do Peak Flow Meter® da marca MINI WRIGHT®, graduado em L/</p><p>min, com variação de 60 a 880 L/min). As variáveis foram tabuladas, e a média e o desvio padrão calculados. Em seguida,</p><p>realizado o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade, e o t de Student para amostras emparelhadas, considerando o</p><p>nível de significância estatística de 95% (p<0,05) por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®,</p><p>versão 17.0) for Windows. Resultados: A média do IMC obtida foi de 25,82 kg/m2. Em relação ao PFE, como efeito ime-</p><p>diato, foi verificado uma redução significativa nas comparações das médias antes e logo após os exercícios com p=0,0001.</p><p>Em relação ao efeito tardio do PFE foi comparado as médias dos seis primeiros atendimentos com as médias dos seis últimos</p><p>atendimentos, sendo verificado um aumento significativo desses valores com p= 0,015 antes dos exercícios e p=0,020 depois</p><p>dos exercícios. Conclusões: O exercício de FNP é benéfico para o sistema cardiorrespiratório podendo auxiliar na melhora</p><p>da qualidade de vida dos idosos.</p><p>237</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>ID14 - Massagem terapêutica em ambiente de unidade</p><p>de terapia intensiva neonatal: uma revisão integrativa</p><p>Adriana Prado De Almeida1, Saint Clair dos Santos Gomes Junior1, Carla Trevisan Martins Ribeiro2</p><p>1. Fundação Oswaldo Cruz - Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira - Rio de Janeiro, RJ.</p><p>2. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Fernandes Figueira. Serviço de Fisioterapia. Rio de Janeiro, RJ.</p><p>Endereço para correspondência: dricaterapia@hotmail.com</p><p>Introdução: Com o aumento do número de Recém-Nascido Prematuro (RNPT), vários pesquisadores se interessaram</p><p>em desenvolver estudos de Prática Integrativas e Complementares (PIC) para a promoção de qualidade de vida desta po-</p><p>pulação. Uma dessas práticas é a massagem terapêutica (MT), também chamada de estimulação tátil-cinestésica, estudada</p><p>como uma técnica complementar, com o objetivo inicial de amenizar os fatores comprometedores do crescimento desta</p><p>população. A MT surge como alternativa para a melhora dos processos neurofisiológicos e no desenvolvimento das funções</p><p>dos RNPT. Objetivo: Reunir evidências disponíveis na literatura sobre a massagem terapêutica em ambiente de unidade</p><p>de terapia intensiva neonatal (UTIN) nos indicadores de crescimento e nos parâmetros de estabilidade clínica dos RNPT.</p><p>Metodologia: O estudo consiste numa revisão integrativa (RI), onde foram incluídos artigos que abordassem RNPT, avalia-</p><p>ção</p><p>da massagem terapêutica em UTIN: variáveis de crescimento, variáveis de intervenção (condutor da massagem, tipo de</p><p>pressão, frequência de realização, duração da técnica e momento de realização da técnica). A RI identifica, analisa, sintetiza</p><p>e permite a geração de novos conhecimentos. Três pesquisadores selecionaram os artigos conforme o título, e consagraram</p><p>quais seriam lidos e incluídos nesta revisão. A escolha para os artigos foi realizada em duas etapas: (1ª) os critérios de in-</p><p>clusão e exclusão através da busca nas bases de dados, leitura dos títulos e resumo para depois a leitura propriamente dita</p><p>do texto completo, assim como, (2ª) a avaliação feita através dos instrumentos que validam os mesmos � CASP - Critical</p><p>Appraisal Skills Programme (Ensaios Clínicos Randomizados), e The TREND Statement (Estudo Quase-Experimental).</p><p>Para avaliar os níveis das evidências dos artigos a classificação Oxford Center for Evidence-based Medicine. Na busca ele-</p><p>trônica foram utilizados os indexadores contidos no Descritores em Ciências da Saúde: massagem, massagem terapêutica,</p><p>recém-nascido pré-termo, prematuro (massage, massage therapy, premature, preterm infants). Foram empregados operadores</p><p>booleanos AND e OR, sem limite temporal. A averiguação foi realizada no mês de maio de 2014. Foram adotadas as bases</p><p>de dados: PubMed, WEB OF SCIENCE, SCOPUS, PEDro, CINAHALL e a Scielo. Resultados: Após leitura dos artigos,</p><p>verificou-se que de uma forma geral, indicavam evidências de benefícios da MT para as variáveis de crecimento: melhora da</p><p>dor, ganho de peso, regulação térmica, atividade vagal e motilidade gástrica, estado de alerta, organização comportamental,</p><p>alta hospitalar precoce, deposição de gordura corporal e qualidade de crescimento, melhora da função do sistema nervoso</p><p>autônomo, da atividade parassimpática e parâmetros fisiológicos. Dentre as variáveis de intervenção, a maioria seguiu o</p><p>protocolo de Field que preconiza aplicação da técnica com toque profundo, por cinco dias consecutivos, três vezes por dia e</p><p>duração de quinze minutos. Conclusões: Este estudo de RI revelou que esta técnica de intervenção demonstrou eficácia no</p><p>crescimento e na estabilidade clínica de RNPT internados em UTIN. Contudo, mais estudos sobre a aplicabilidade da MT em</p><p>RNPT, em ambiente de UTIN são necessários para produção de dados que proporcionem mais evidências científicas, para</p><p>que futuras investigações incluam a avaliação de mais variáveis de maneira a tornar mais claro o mecanismo, e que possuam</p><p>uma metodologia mais rigorosa, para que seja definitivamente contemplada e respeitada mediante os profissionais que inte-</p><p>gram a equipe intensivista neonatal, como também a classe científica. A partir disso, pode se tornar viável a geração de novos</p><p>conhecimentos, pautados nos resultados apresentados nestas pesquisas. Isso contribui para uma possível repercussão benéfica</p><p>na qualidade dos cuidados aos RNPT.</p><p>ID15 - Estimulação elétrica nervosa transcutânea</p><p>no pós-operatório de cirurgia cardíaca: Revisão sistemática</p><p>Diego Eduardo dos Santos1, Gabriel Gomes Maia1, Tiago Eduardo dos Santos1</p><p>1. Sanatório Naval em Nova Friburgo - Rio de Janeiro</p><p>Endereço para correspondência: eudardosantos17@yahoo.com.br</p><p>Introdução: Sendo considerado um sintoma importante em qualquer faixa etária, a dor está frequentemente associada</p><p>ao sofrimento ou desconforto, podendo ser interpretada como um alerta de comprometimento da integridade física e/ou emo-</p><p>cional. De forma a contribuir com a reabilitação cardíaca na fase I (hospitalar), a Estimulação Elétrica Transcutanêa (TENS),</p><p>recurso fisioterapêutico utilizado para diminuição da dor e redução das repercussões pulmonares em decorrência da cirurgia</p><p>cardíaca, tem sido incluída como conduta terapêutica no pós-operatório. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar os</p><p>efeitos da TENS sobre a dor, e os parâmetros utilizados durante a aplicação terapêutica, no período de pós-operatório de</p><p>cirurgia cardíaca por meio de revisão sistemática. Metodologia: A estratégia de busca incluiu as bases de dados eletrônicas</p><p>SciELO, PubMed, LILACS e PEDro (Physiotherapy Evidence Data base). Para a busca dos estudos científicos, utilizou-se</p><p>a combinação dos termos e seus descritores em português: estimulação elétrica nervosa transcutânea, estimulação elétrica,</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>238</p><p>estimulação elétrica terapêutica, cirurgia cardíaca, procedimentos cirúrgicos cardíacos, esternotomia, cirurgia de revascu-</p><p>larização do miocárdio, correção aórtica e seus correspondentes da língua inglesa. Dois autores selecionaram de forma in-</p><p>dependente os estudos para inclusão, examinando os ensaios clínicos controlados e randomizados encontrados por meio da</p><p>análise dos títulos e resumos. Todos os estudos considerados relevantes tiveram seu texto obtido na íntegra e, com base nas</p><p>informações contidas, foram selecionados aqueles que estavam de acordo com os critérios de inclusão. Discordâncias entre</p><p>os autores foram resolvidas pela análise de um terceiro autor. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada de acordo</p><p>com a Escala PEDro. Essa escala é composta por 11 itens que avaliam a validade interna da metodologia utilizada nos ensaios</p><p>clínicos, bem como informações relacionadas à estatística e apresentação dos resultados. Resultados: Foram analisados os</p><p>parâmetros ajustados para aplicação da TENS (frequência, largura de pulso e o tempo de aplicação) nos estudos seleciona-</p><p>dos. O tratamento com a TENS ocorreu entre o 1º e o 3º DPO para o alivio da dor no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Os</p><p>estudos sugerem a utilização da TENS no modo convencional, a frequência de 80 a 110 Hz, a largura de pulso de 50 a 80 ms</p><p>e a intensidade que o paciente relate �parestesia forte�, sem que haja desconforto ou dor, e o tempo minimo de 30 minutos,</p><p>não havendo diminuição significativa do nível de dor com o tempo de acima de 60 minutos ou 1 hora, durante uma aplicação</p><p>única. Conclusões: Diante do exposto sobre os parâmetros ajustados no TENS convencional para redução da dor no pós-</p><p>-operatório de cirurgia cardíaca, sugere-se uma aplicação diária ou mais aplicação diária, para um resultado mais efetivo.</p><p>ID18 - A relevância de um parecer</p><p>fisioterapêutico em uma ação judicial</p><p>Hélia Ribeiro Anniboleti1</p><p>1. Fisioterapeuta, Especialista em Fisioterapia Fisioterapia Forense, Saúde do idoso e neurofuncional, Perito Senior ABFF</p><p>Endereço para correspondência: ! sioperitohelia@gmail.com</p><p>Introdução: A perícia é o exame de situações ou fatos relacionados a coisas e pessoas, praticado por especialista, com</p><p>objetivo de elucidar determinados aspectos técnicos, a fim de dar subsídio técnico-científico para decisão do Juiz. O Perito é</p><p>indivíduo de confiança do Juiz. O Código Processo Civil Art. 156, o Juiz será assistido por um perito quando a prova depen-</p><p>der de conhecimento técnico ou científico. O termo �Parecer� é o documento feito Perito Assistente Técnico. A Fisioterapia</p><p>é uma profissão e regulamentada pela Lei Nº 938/1969. Objetivo: O objetivo deste trabalho é fundamentar a relevância de</p><p>um Parecer elaborado por um Perito fisioterapeuta em uma ação Judicial. Metodologia: A pesquisa desenvolveu-se para</p><p>realização de artigo de revisão sistemática. A fim de demonstrar a Relevância de um documento do tipo Parecer Judicial</p><p>Fisioterapêutico. Os levantamentos de dados foram pesquisados em sites como: Jusbrasil, scielo, bibliotecas virtuais, biblio-</p><p>grafias. Resultados: A Pericia Fisioterapêutica é a aplicação dos conhecimentos técnicos, a serviço da Justiça, determinando</p><p>a elaboração de documentos cujos teores se relacionem ás disfunções dos movimentos humanos, e a eventual relação destas</p><p>com os sistemas onde os mesmos estejam inseridos. A Perícia Médica é o conjunto de procedimentos técnicos que tem por</p><p>finalidade a emissão de laudo sobre questões médicas, mediante exame, vistoria, investigação, avaliação ou certificação. O</p><p>Conselho Federal de Fisioterapia e terapia Ocupacional - Resolução</p><p>Nº 370, dispõe sobre adoção da Classificação Internacio-</p><p>nal de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, o Fisioterapeuta Perito não pode deixar de usar essa ferramenta para elaboração</p><p>de seus Laudos ou Pareceres e Atestados. Conclusões: Na Perícia Médica, o médico faz um diagnóstico nosológico, o que se</p><p>diagnóstica é a doença ou controvérsia no processo enquanto a presença ou não de doença. Porém quando médico diagnóstica</p><p>doença, o fisioterapeuta será profissional habilitado na análise físico-funcional das incapacidades encontradas e fazer diag-</p><p>nóstico qualitativo e quantitativo dessas incapacidades. Segundo CPC Art.472, o Juiz poderá dispensar prova pericial quando</p><p>as partes, na inicial e na contestação apresentarem pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficiente.</p><p>Logo Parecer fisioterapêutico se mostra relevante quando a prova do fato for diagnóstico cinesiológico funcional podendo ser</p><p>juntado mais breve possível para ajudar decisão judicial e vir diminuir custas processuais com despesas periciais.</p><p>239</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Agenda</p><p>Março 2017</p><p>Congresso Nacional 2017 da SPMFR - Sociedade Portu-</p><p>guesa de Medicina Física e de Reabilitação</p><p>Data: 23 a 25 de Março de 2017</p><p>Local: Porto - Portugal</p><p>Informações: spmfr@spmfr.org</p><p>Abril 2017</p><p>XI Simpósio de Fisioterapia em Terapia Intensiva e</p><p>VII Simpósio de Fisioterapia em Cardiologia</p><p>Data: 06 a 09 de Abril de 2017</p><p>Local: São Paulo - SP</p><p>Informações: www.einstein.br</p><p>Maio 2017</p><p>XVII Congresso Brasileiro de Biomecânica,</p><p>I Encontro Latino Americano de Biomecânica e</p><p>VIII Simpósio em Neuromecânica Aplicada</p><p>Data: 8 a 11 de Maio de 2017</p><p>Local: Porto Alegre � RS</p><p>Informações: www.biomecanica2017.com.br</p><p>III Congresso Internacional de Fisioterapia em Coluna</p><p>Data: 11 e 13 de Maio de 2017</p><p>Local: Salvador - BA</p><p>Informações: www.coni! c.com.br</p><p>II FISIODESM - Congresso Brasileiro de Fisioterapia</p><p>Dermatofuncional e Saúde da Mulher</p><p>Data: 25 de Maio de 2017</p><p>Local: Curitiba - PR</p><p>Informações: www.! siodesm.com.br</p><p>Julho 2017</p><p>22º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes e</p><p>22ª Exposição Nacional de Produtos e Alimentos Diet</p><p>Data: 27 a 30 de Julho de 2017</p><p>Local: São Paulo � SP</p><p>Informações: www.anad.org.br</p><p>Agosto 2017</p><p>I Congresso Internacional e</p><p>II Congresso Brasileiro da ABRAFITO</p><p>Data: 17 a 19 de Agosto de 2017</p><p>Local: Brasília � DF</p><p>Informações: www.eventoabra! to.com.br</p><p>Setembro 2017</p><p>XVII Congresso Brasileiro de Quadril</p><p>Data: 05 a 8 de Setembro de 2017</p><p>Local: Rio de Janeiro - RJ</p><p>Informações: www.cbq2017.com.br/inscricoes</p><p>9º Congresso Internacional de Fisioterapia</p><p>Data: 14 a 17 de Setembro de 2017</p><p>Local: Porto Alegre � RS</p><p>Informações: www.sbf.org.br</p><p>Outubro 2017</p><p>Congresso SONAFE � VIII Congresso Brasileiro e</p><p>VI Congresso Internacional</p><p>Data: 11 a 15 de Outubro de 2017</p><p>Local: Caldas Novas � GO</p><p>Informações: www.sonafe2017.com.br</p><p>Novembro 2017</p><p>X Congresso Nacional de Fisioterapeutas</p><p>Data: 10 a 12 de Novembro de 2017</p><p>Local: Universidade de Aveiro - Portugal</p><p>Informações: www.facebook.com/universidadedeaveiro</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>240</p><p>Normas</p><p>A revista Fisioterapia Ser é uma publicação com periodicidade tri-</p><p>mestral e está aberta para a publicação e divulgação de trabalhos cientí-</p><p>ficos que contribuam para um melhor entendimento de todos os aspectos</p><p>referentes às Ciências Fisioterápicas.</p><p>Os artigos publicados em Fisioterapia Ser poderão ser também publi-</p><p>cados na versão eletrônica da revista (Internet) assim como em outros meios</p><p>eletrônicos (CD-ROM) ou outros que surjam no futuro, sendo que e pela</p><p>publicação na revista os autores já aceitem estas condições.</p><p>Os trabalhos enviados para publicação devem ser inéditos, não sendo</p><p>permitida a sua apresentação simultânea em outro periódico. A Fisioterapia Ser</p><p>reserva-se todos os direitos autorais do trabalho publicado, inclusive de tradução,</p><p>permitindo, entretanto, a sua posterior reprodução como transcrição e com devi-</p><p>da citação de fonte, sendo que nenhum dos autores será remunerado.</p><p>A revista Fisioterapia Ser assume o estilo �Vancouver� (Uniform re-</p><p>quirements for manuscripts submites to biomedical journal, Am Ver Respir</p><p>Dis 1986; 134:449-52, preconizado pelo Conselho Internacional de Direto-</p><p>res de Revistas Médicas, com as especificações que são resumidas a seguir.</p><p>Ver o texto completo em inglês desses Requisitos Uniformes no site do In-</p><p>ternational Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), htpp://www.</p><p>icmje.org, na versão atualizada em outubro de 2001.</p><p>Os autores que desejarem colaborar em alguma das seções da revista</p><p>podem enviar sua contribuição (em arquivo eletrônico/e-mail) para nossa</p><p>redação, sendo que fica entendido que isto não implica na aceitação do mes-</p><p>mo, que será notificado ao autor.</p><p>O Conselho Editorial poderá devolver sugerir trocas ou retorno de</p><p>acordo com a circunstância, realizar modificações nos textos recebidos,</p><p>neste último caso não se alterara o conteúdo cientifico, limitando-se unica-</p><p>mente ao estilo literário.</p><p>Artigos originais: Os trabalhos devem apresentar dados originais de desco-</p><p>bertas com relação a aspectos experimentais ou observacionais, e inclui aná-</p><p>lise descritiva e/ou inferências de dados próprios. Sua estrutura é a conven-</p><p>cional que traz os seguintes itens: Introdução, Métodos Resultados, Discussão</p><p>e Conclusão.</p><p>Textos: Recomendamos que não seja superior a 8 páginas, formato A4, fon-</p><p>te English Times (Times Roman) tamanho 12.</p><p>Tabelas: Considerar no máximo 4 tabelas, no formato Excel/Word.</p><p>Figuras: Considerar no máximo 4 figuras, digitalizadas (formato .tif ou</p><p>.jpg) ou que possam ser editados em Power-Point, Excel, etc.</p><p>Referência bibliográfica: São recomendáveis no máximo 40 referências bi-</p><p>bliográficas, no sistema sequencial, onde as citações são numeradas na ordem</p><p>de aparecimento no texto e listadas nesta mesma ordem ao final do texto.</p><p>Os critérios que valorizam a aceitação dos trabalhos serão o rigor me-</p><p>todológico científico, novidade, interesse profissional, concisão da exposi-</p><p>ção, assim como a qualidade literária do texto.</p><p>Revisão: São trabalhos que versem sobre algumas das áreas relacionadas</p><p>à Fisioterapia, que tem por objetivo resumir, analisar, avaliar ou sintetizar</p><p>trabalhos de investigação já publicados em revistas científicas. Quanto aos</p><p>limites do trabalho aconselha-se o mesmo dos artigos originais.</p><p>Atualização ou divulgação: São trabalhos que relatam informações ge-</p><p>ralmente atuais sobre tema de interesse dos profissionais de Fisioterapia,</p><p>(novas técnicas, legislação, por exemplo) e que têm características distintas</p><p>de um artigo de revisão.</p><p>Relato de caso: São artigos de dados descritivos de um ou mais casos ex-</p><p>plorando um método ou problemas através de exemplo. Devem conter um</p><p>máximo de 5 páginas, 5 ilustrações, 5 autores e 15 referências. A formatação</p><p>deve seguir o estilo artigo original. O resumo e, portanto o abstract, não</p><p>deve ultrapassar 150 palavras.</p><p>Cartas à redação e outras contribuições</p><p>Esta seção permitirá a publicação de artigos curtos, comentários a traba-</p><p>lho já editados na revista a critério do Conselho Editorial.</p><p>Texto: Recomendamos que não seja superior a três paginas, formato A4,</p><p>fonte English Times (Times Roman) tamanho 12, com todas as formatações</p><p>de texto, tais como negrito, itálico, sobrescrito, etc.</p><p>Tabelas e figuras: No máximo quatro tabelas, no formato Excel e figuras</p><p>digitalizadas (formato .tif ou .jpg) ou que possam ser editados em Power-</p><p>-Point, Excel, etc.</p><p>Referências: São aconselháveis no máximo 20 referências bibliográficas.</p><p>Resumos: Nesta seção serão publicados resumos de trabalhos e ar-</p><p>tigos inéditos ou já publicados em outras revistas, ao cargo do</p><p>Conselho Editorial, inclusive de trabalhos de outros idiomas.</p><p>Preparação do Original</p><p>1. Normas gerais</p><p>1.2. Os artigos enviados deverão estar digitados em processador texto</p><p>(Word), em páginas de formato A4, uma (1) coluna, formatado da seguinte</p><p>maneira: fonte English Times (Times Roman) tamanho 12, com todas as</p><p>formatações de texto, tais como</p><p>negrito, itálico, sobrescrito, etc.</p><p>Numere as tabelas em romano, com as legendas a cima da própria tabela.</p><p>Numere as figuras em arábico, com a legenda abaixo da própria figua.</p><p>As imagens devem estar em tons de cinza ou coloridas, e com qualidade</p><p>ótima (qualidade gráfica � 300 dpi). Fotos e desenhos devem estar digitaliza-</p><p>das e nos formatos .tif ou .gif.</p><p>As seções dos artigos originais sãos estas: resumos, introdução, material</p><p>e métodos, resultados, discussão, conclusão e bibliografia. O autor deve ser o</p><p>responsável pela tradução do resumo para o inglês e o espanhol e também as</p><p>palavras-chave (keywords). O envio deve ser efetuado em arquivo, por meio</p><p>de disquete, CD-ROM ou e-mail. Para os artigos enviados por correio em</p><p>mídia magnética (disquetes, etc.) anexar uma cópia impressa e identificar com</p><p>etiqueta no disquete ou CD-ROM o nome do artigo, data e autor.</p><p>Página de apresentação: A primeira página do artigo apresentara as seguintes</p><p>informações:</p><p>� Título em português, inglês.</p><p>� Nome completo dos autores, com a qualificação curricular e títulos acadê-</p><p>micos.</p><p>� Local de trabalho dos autores.</p><p>� Autor que se responsabilizara pela correspondência, com o respectivo en-</p><p>dereço, telefone e e-mail.</p><p>� Título abreviado do artigo, com não mais de 40 toques, para paginação.</p><p>� As fontes de contribuição ao artigo, tais como equipe, aparelhos, etc.</p><p>Autoria: Todas as pessoas consignadas como autores devem ter partici-</p><p>pado do trabalho o suficiente para assumir a responsabilidade pública do</p><p>seu conteúdo.</p><p>O crédito como autor se baseará unicamente nas contribuições essen-</p><p>ciais que são: a) a concepção e desenvolvimento, a análise e interpretação</p><p>de dados; b) a redação do artigo ou a revisão crítica de uma parte importante</p><p>de seu conteúdo intelectual; c) a aprovação definitiva da versão que será</p><p>publicada. Deverão ser cumpridas simultaneamente as condições a), b) e</p><p>c). A participação exclusivamente na obtenção de recursos ou na coletas de</p><p>dados não justifica a participação como autor. A supervisão geral do grupo</p><p>de pesquisa também não é suficiente.</p><p>Resumo e palavras-chave (Abstract, Keywords)</p><p>Na segunda página deverá conter um resumo com no máximo 200</p><p>palavras, seguido da versão em inglês.</p><p>O conteúdo do resumo deve conter, de forma estruturada, introdução,</p><p>métodos, resultados e conclusões.</p><p>Em seguida os autores deverão indicar quatro palavras-chave para faci-</p><p>litar a indexação do artigo. Para tanto deverão utilizar os termos utilizados na</p><p>lista dos DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) da Biblioteca Virtual da</p><p>Saúde, que se encontra no endereço da internet seguinte: http://decs.bcvs.br.</p><p>Na medida do possível, é melhor usar os descritivos existentes.</p><p>Referências</p><p>As referências bibliográficas devem seguir o estilo Vancouver definido</p><p>nos Requisitos Uniformes. As referências bibliográficas devem ser nume-</p><p>radas por numerais arábicos sobrescrito e relacionadas em ordem na qual</p><p>aparecem no texto, seguindo as seguintes normas.</p><p>Artigos</p><p>Número de ordem, sobrenome(s) do autor(es), letras iniciais de seus</p><p>nomes (sem pontos nem espaços), ponto. Título do trabalho, ponto. Título</p><p>da revista ano de publicação seguido de ponto e vírgula, número do volume</p><p>seguido de dois pontos, paginas inicial e final, ponto. Não utilizar maiúscu-</p><p>las ou itálicas. Os títulos das revistas são abreviados de acordo com o Index</p><p>Medicus, na publicação List of Journals Indexed in Index Medicus ou com a</p><p>lista das revistas nacionais, disponível no site da Biblioteca Virtual de Saúde</p><p>(www.bireme.br). Devem ser citados todos os autores até 6 autores. Quando</p><p>mais de 6, colocar a abreviação latina et al.</p><p>Os artigos, cartas e resumos devem ser enviados para:</p><p>gusmaomachado@yahoo.com.br</p><p>Stevenson Gusmão � Editora Ser</p><p>da via</p><p>aérea, levando ao aumento da resistência ao fluxo de ar, re-</p><p>sultando em uso excessivo da musculatura acessória da ins-</p><p>piração e um padrão respiratório apical. De acordo com o</p><p>a evolução da doença e com o aumento das crises, ocorre</p><p>encurtamento da musculatura acessória da respiração, levan-</p><p>do a uma alteração postural da caixa torácica. Os pacientes</p><p>passam a adotar um padrão apical e pode ocorrer uma hipe-</p><p>rinflação, prejudicando a mecânica do músculo diafragma e</p><p>o posicionamento da coluna cervical e da cintura escapular,</p><p>com redução da mobilidade torácica28.</p><p>No presente estudo, verificou-se que a mobilidade to-</p><p>rácica não foi influenciada pelos exercícios propostos. Esse</p><p>resultado contradiz os achados observados no estudo de Kaki-</p><p>zaki29. Esses autores obtiveram melhora da mobilidade toráci-</p><p>ca após realizarem exercícios de alongamento da musculatura</p><p>acessória da respiração. Similarmente, Lozano30, ao utilizarem</p><p>como protocolo de tratamento o alongamento da musculatura</p><p>acessória da respiração em indivíduos com Doença Pulmonar</p><p>Obstrutiva Crônica a partir do método de Reeducação Postural</p><p>Global (RPG), observaram melhora significativa da mobili-</p><p>dade torácica. Os resultados do presente estudo podem estar</p><p>relacionados devido ao tempo, sendo insuficiente para que</p><p>houvesse uma melhora durante o tratamento.</p><p>O encurtamento muscular observado nos pacientes as-</p><p>máticos leva à compensação das estruturas envolvidas, pro-</p><p>movendo alterações posturais e prejudicando ainda mais a</p><p>mecânica respiratória31. Quadros e Furlanetto8, em seu es-</p><p>tudo, analisaram quatro mulheres sedentárias e observaram,</p><p>após 20 sessões de Pilates, uma melhora estatisticamente</p><p>significativa na postura, o que contradiz os resultados encon-</p><p>trados no presente estudo, visto que o protocolo de tratamen-</p><p>to aqui empregado não resultou em modificação na análise</p><p>postural. Esses resultados possivelmente podem estar rela-</p><p>cionados com o número de sessões realizadas.</p><p>Devido ao nível de obstrução das vias aéreas, indivíduos</p><p>asmáticos tendem a apresentar menor tolerância ao exercício,</p><p>quando comparados com indivíduos comuns, pois apresentam</p><p>limitações durante a prática de atividade física. O exercício in-</p><p>duz a ocorrência de broncoespasmos, gerando diminuição da ca-</p><p>pacidade ventilatória e aumento da dispneia, o que contribui para</p><p>que o indivíduo reduza a prática de atividades físicas e adote,</p><p>consequentemente, um estilo de vida sedentário32.</p><p>Fonseca33 realizou um estudo com seis pacientes asmáti-</p><p>cos adultos, que foram submetidos a 12 semanas de tratamen-</p><p>to através de um programa de exercícios físicos domiciliares.</p><p>Esses indivíduos realizaram a espirometria e o TC6M antes e</p><p>após o início do programa. Pode-se observar, através da espi-</p><p>rometria, a melhora da Capacidade Vital Forçada (CVF) e do</p><p>Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1).</p><p>Os autores também mostraram, através do TC6M, que cinco</p><p>dos seis pacientes aumentaram a distância percorrida após</p><p>12 semanas de tratamento. Tais pacientes relataram melhora</p><p>da sensação de dispneia e da fadiga durante a atividade de</p><p>vida diária. Ao comparar com o presente estudo, também ob-</p><p>servamos um aumento significativo da distância percorrida</p><p>após a aplicação do protocolo de tratamento com o Método</p><p>Pilates, evidenciando que a prática de um programa de exer-</p><p>cícios beneficia uma melhor tolerância ao exercício.</p><p>De acordo com Souza34, pacientes com asma apresentam di-</p><p>minuição da qualidade de vida independentemente da gravidade</p><p>da asma, nos domínios psicológicos, físicos e sociais, gerando</p><p>restrições durante a vida. Em nosso estudo, ao comparar a quali-</p><p>dade de vida antes e após o protocolo de tratamento, observou-se</p><p>uma melhora significativa nos domínios �Global�, �Sintomas� e</p><p>�Limitação de Atividade� do questionário aplicado.</p><p>Conclusão</p><p>Pode-se dizer que, no presente estudo, apesar de não ter-</p><p>mos observado uma alteração na avaliação postural, o pro-</p><p>tocolo de exercícios proposto determinou uma melhora na</p><p>função pulmonar em relação a força muscular expiratória e</p><p>tolerância ao exercício.</p><p>Portanto, o Método Pilates pode ser uma opção para o</p><p>tratamento de indivíduos asmáticos em função de melhorar</p><p>as alterações pulmonares, o condicionamento cardiorrespira-</p><p>tório e a qualidade de vida. Dessa forma, o Pilates pode atuar</p><p>em conjunto com a Fisioterapia Respiratória Convencional,</p><p>a fim de fornecer um tratamento mais ampliado para a asma.</p><p>Referências</p><p>1. Diretrizes da sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia pra o manejo da asma. Jornal brasileiro de pneumologia</p><p>2012; V.38: n.1, p.1- 46.</p><p>2. Silva TLP. Efeitos de um programa de treinamento físico em mulheres asmáticas. [dissertação de mestrado] na área de concen-</p><p>tração: respiratória. Universidade federal de são carlos; São paulo 2006; 21.</p><p>3. Furtado NC, Silva DML, Vianna GMM, Fernandes ABS. Função pulmonar e análise postural de pacientes asmáticos atendi-</p><p>dos na clínica escola de ! sioterapia do unifeso. Movimento & saúde: revista inspirar 2012;4:1-7.</p><p>4. Marcelino AMFC, Cunha DA, Cunha RA. Força muscular respiratória em crianças asmáticas. Int arch otorhinolaryngo.</p><p>São paulo, Dez.2012; p. 492-493.</p><p>5. Azevedo VMGO, Rocha PMC, Casaes GPE, Lopes RB, Carneiro RP. Alterações posturais em crianças asmáticas.</p><p>Revista paulista de pediatria 2005; v. 23: n. 3, p. 103-105.</p><p>6. Rodrigues B. Assimetria Postural de Adolescentes Asmáticos. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisiote-</p><p>rapia) - Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2006.</p><p>7. Contreira AR, Salles SN, Silva MP, Antes DL, Katzer JI, Corazza ST. O efeito da prática regular de exercícios físicos no</p><p>estilo de vida e desempenho motor de crianças e Adolescentes Asmáticos. Pensar a Prática 2010; v.13: n.1,p.1 16,jan.</p><p>8. Quadros DLT, Furlanetto MP. Efeitos da intervenção do pilates sobre a postura e a " exibilidade em mulheres sedentá-</p><p>rias. Revista Brasileira de Fisioterapia. 2002;2(8):34-38.</p><p>9. Torri BG. Análise da função pulmonar de portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica submetidos a exercícios</p><p>com método pilates. 2013. 66 f. Monogra! a (Graduação) - Curso de Fisioterapia, Centro Universitário Serra dos Ór-</p><p>gãos, Teresópolis.</p><p>10. Black LF, Hyatt RE. Maximal respiratory pressures: normal values and relationship to age and sex. Am Rev Respir Dis</p><p>1969;99(5):696-702.</p><p>11. Neder JA, Andreoni S, Lerario MC, Nery LE. Reference values for lung function tests. II. Maximal respiratory pressure</p><p>and voluntary ventilation. Braz J Med Biol Res. 1999; (32): 719-27.</p><p>12. Jamami M, Pires VA, Oishi J, Costa D. Efeitos da intervenção ! sioterápica na reabilitação pulmonar de pacientes com doença</p><p>pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Rev Fisioter Univ São Paulo 1999;6(2):140-53.</p><p>13. Paizante GO. Análise dos fatores de risco da coluna lombar em costureiras de uma fábrica de confecção de moda íntima</p><p>masculina no município de Muriaé - MG [Dissertação]. Minas Gerais: Centro Universitário de Caratinga, Minas Gerais, 2006.</p><p>14. Ricieri DV, Costa JR, Filho NAR. Impacto da asma sobre a postura corporal de crianças entre 8 e 14 anos analisada pela</p><p>biofotogrametria. Acta Fisiatr 2008;15(4):214-9.</p><p>15. Belli JFC, Chaves TC, Oliveira AS, Grossi DB. Analysis of body posture in children with mild to moderate asthma.</p><p>European Journal of Pediatrics 2009;168(10):1207-16.</p><p>16. Iunes DH, Cecílio MBB, Dozza MA, Almeida PR. Análise quantitativa do tratamento da escoliose idiopática com o</p><p>método klapp por meio da biofotogrametria computadorizada. Rev Bras Fisioter 2010;14(2):133-40.</p><p>17. Juniper E. Questionário de Qualidade de Vida com Atividade Padronizadas, 2000. Disponível em: http://www.asma-</p><p>bronquica.com.br Acesso em: 07. 2014.</p><p>18. Ferreira LN, Brito U, Ferreira PL. Qualidade de vida em doentes com asma. Revista Portuguesa de Pneumologia jan.</p><p>2010; v. 16, n. 1: p. 23-55.</p><p>19. Figueiredo PHS, Guimarães FS. A velocidade média do teste de caminhada incentivada de seis minutos como determinante</p><p>da intensidade de treinamento para recondicionamento</p><p>físico de pneumopatas crônicos. Acta Fisiatr 2009; v.16 (4): 156-161.</p><p>20. Vilaró J, Resqueti VR & Fregonezi GAF. Avaliação clínica da capacidade do exercício em pacientes com doença pulmonar obstrutiva</p><p>crônica. Revista Brasileira de Fisioterapia, São Carlos 2008; v. 12: n. 4, p. 249-59.</p><p>21. Vaz RA, Liberali R, Cruz TMF, Netto MIA. O método Pilates na melhora da " exibilidade - Revisão sistemática. Revista</p><p>Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício Issn 1981-9900 Versão Eletrônica fev. 2012, São Paulo; v. 6: n. 31, p.25-31.</p><p>Periódico do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício.</p><p>22. Gualdi FR, Tumelero S. Asma e os benefícios da atividade física. Revista Digital, Buenos Aires maio 2010; v. 1, n. 72, p.1-1.</p><p>23. Lima EVNCL, Lima WL, Nobre A, Santos AM, Brito LMO, Costa MRSR. Treinamento muscular inspiratório e exer-</p><p>cícios respiratórios em crianças asmáticas. J. Bras. Pneumol. São Paulo dez. 2008; p. 552-558.</p><p>24. Dourado VZ, Tanni S, Vale SA, Faganello MM, Sanchez FF, Godoy I. Manifestações sistêmicas na Doença Pulmonar</p><p>Obstrutiva Crônica. Jornal Bras de Pneumologia, São Paulo 2006; 32 (2): 161-71.</p><p>25. Costa CC, Rosa GMMV, Fernandes ABS. Efetividade do método kinect control sobre a alteração postural e função pulmonar</p><p>de asmáticos. Fisioterapia Ser out. 2014, Teresópolis; v. 9: n. 4, p.213-218.</p><p>26. Fonseca ACCF, Fonseca MTM, Rodrigues MESM, Lasmar LMLBF, Camargo PAM. Pico do " uxo expiratório no</p><p>acompanhamento de crianças asmáticas. J. Pediatr. (Rio J.) ago. 2006 ; Porto Alegre, p. 465-469.</p><p>27. Carter R, et al. Exercise conditioning in the rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Arch</p><p>Phys Med Rehabil 1988;69:118-22.</p><p>28. Basso RP, Regueiro EMG, Jamami M, Di Lorenzo VAP, Costa D. Relação da medida da amplitude tóraco-abdominal</p><p>de adolescentes asmáticos e saudáveis com seu desempenho físico. Fisioter Mov 2011;24(1):107-14.</p><p>29. Kakizaki F, et al. Preliminary report on the effects of respiratory muscle stretch gymnastics on chest wall mobility in</p><p>patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respir Care 1999;44:409-14.</p><p>30. Lozano RA. Efeitos da reeducação postural global na pimax, mobilidade torácica e Qualidade de vida de pacientes</p><p>portadores de doença pulmonar obstrutiva Crônica. Revista Eletrônica Novo Enfoque. 2010, 10(10): 101-112.</p><p>31. Almeida VP, Guimarães FS, Moço VJR, Menezes SLS, Mafort TT, Lopes AJ. Correlação entre função pulmonar, postura e compo-</p><p>sição corporal em pacientes com asma. Rev Port Pneumol 2013;19(5):204-10.</p><p>32. Mendes AG, Carreteiro AM, Mascotti L, Cardoso M, Gomes E, Cappellazzo R. Correlação entre teste de caminhada</p><p>de 6 minutos e qualidade de vida em indivíduos asmáticos após a realização do condicionamento físico e estratégia</p><p>preventivas. Paraná: Editora Cesumar, 2013. 4 p.</p><p>33. Fonseca CD, et al. Efeito de um Programa de Exercícios Físicos Adaptados Para Pacientes Asmáticos: Estudo de Caso.</p><p>Contexto Saúde dez. 2012, Ijuí; v. 12: n. 23, p.59-66.</p><p>34. Souza PG, Sant�anna CC, March MFBP. Qualidade de vida na asma pediátrica: revisão da literatura. Rev. Paul.</p><p>Pediatr 2011; Rio de Janeiro; v. 4, n. 29, p.640-4.</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>188</p><p>Artigo Original</p><p>As consequências da mastectomia:</p><p>enfoque físico e psicológico</p><p>The consequences of mastectomy:</p><p>physical and psychological focus</p><p>Marcela Rufino Araujo1, Clícia Guilherme de Oliveira Paiva Araújo2,</p><p>Ana Vanessa Araujo Pedrosa2, David Jonathan Nogueira Martins2, Thiago Brasileiro de Vasconcelos3,</p><p>Vasco Pinheiro Diógenes Bastos4</p><p>Resumo</p><p>O carcinoma mamário manifesta-se por um nódulo indolor que tem a preva-</p><p>lência pelo quadrante superior externo do lado esquerdo da mama, podendo atingir</p><p>em casos mais graves os linfonodos axilares e supraclaviculares, sendo considerada</p><p>como uma das doenças mais comuns nas mulheres. As sequelas pós-cirúrgicas são</p><p>as aderências na parede torácica, fraqueza do membro superior envolvido, alterações</p><p>posturais e restrições na mobilidade do ombro, hipostesia do membro acometido,</p><p>dor e linfedema. O estudo objetiva analisar as consequências da mastectomia com</p><p>enfoque físico e psicológico. O tipo de estudo é de caráter descritivo, observacional</p><p>e transversal com estratégia de análise quantitativa dos resultados, a pesquisa foi</p><p>realizada no Programa de Assistência à Mulher Mastectomizada (PROAMMA) do</p><p>Centro Universitário Estácio do Ceará. A amostra foi composta por mulheres faixa</p><p>etária de 40 a 70 anos de idade participantes do projeto. O perfil demográfico das</p><p>entrevistadas é caracterizado por 55,56% (n= 5) de casadas; 88,89% (n=8) são mães;</p><p>88,89% (n=8) foram submetidas à mastectomia radical; 33,33% (n=3) fizeram op-</p><p>ção pela reconstrução mamária; 100% (n=9) realizou radioterapia; 55,56% (n=5)</p><p>apresentavam linfedema no braço homolateral ao procedimento; 77,78% (n=7)</p><p>mantiveram o trofismo normal; 100% (n=9) afirmaram que tiveram o apoio da fa-</p><p>mília; 22,22% (n=2) mencionaram que sofreram rejeição e 77,78% (n=7) não exerce</p><p>mais suas funções no trabalho ou em casa. Concluímos nesse estudo que o impacto</p><p>físico ficou mais evidente nesse estudo que o psicológico, e toda essa repercussão</p><p>está diretamente associada ao prejuízo apresentado nos resultados da analise de qua-</p><p>lidade de vida dessas mulheres. É relevante o inicio precoce de tratamento fisioterá-</p><p>pico na prevenção sequelas e de disfunções relacionadas à retirada da mama, como</p><p>no tratamento de distúrbios já instalados.</p><p>Palavras-chave: mastectomia, câncer de mama, aspectos físicos e aspectos</p><p>psicológicos.</p><p>1. Fisioterapeuta pelo Centro Universitário Estácio</p><p>do Ceará.</p><p>2. Discente do Curso de Fisioterapia do centro</p><p>Universitário Estácio do Ceará.</p><p>3. Fisioterapeuta. Mestre em Farmacologia.</p><p>4. Fisioterapeuta. Doutor em Farmacologia. Do-</p><p>cente do Centro Universitário Estácio do Ceará.</p><p>Endereço para correspondência:</p><p>E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br</p><p>Recebido para publicação em 11/09/2016 e acei-</p><p>to em 13/11/2016, após revisão.</p><p>189</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>Abstract</p><p>Breast carcinoma manifests as a painless nodule that has the prevalence at upper outer quadrant of the left breast, rea-</p><p>ching in more severe cases the axillary and supraclavicular lymph nodes, being regarded as one of the most common diseases</p><p>in women. The postoperative sequelae are adhesions in the chest wall, upper limb weakness involved, postural changes and</p><p>restrictions on the mobility of the shoulder, hypoesthesia of the affected limb, pain and lymphedema. The study aims to</p><p>analyze the consequences of mastectomy with physical and psychological approach. The type of study is a descriptive, obser-</p><p>vational, cross-sectional nature with quantitative analysis of the results strategy, carried out in the Programme of Assistance</p><p>to Women Mastectomized (PROAMMA) University Center Estácio of Ceará. The sample consisted of women aged 40-70</p><p>years of age participating in the project. The demographic profile of respondents is characterized by 55.56% (n=5) married,</p><p>88.89% (n=8) mothers, 88.89% (n=8) underwent radical mastectomy, 33.33% (n=3) did opt for breast reconstruction, 100%</p><p>(n=9) realized radiotherapy, 55.56% (n=5) had lymphedema of the arm ipsilateral to the procedure, 77,78% (n=7) maintained</p><p>normal tropism, 100% (n=9) said they had family support, 22.22% (n=2) mentioned that suffered rejection and 77.78% (n=7)</p><p>has no more duties at work or at home. We conclude that the physical impact was most evident in this study that the psycho-</p><p>logical, and all this effect is directly related to the loss reported in the results of the analysis of quality of life of these women.</p><p>We also describe the importance of early onset of sequelae in physical therapy and prevention of disorders related to the re-</p><p>moval of the breast, and the treatment of disorders that are already installed. It is relevant early initiation of physical therapy</p><p>in preventing sequelae and dysfunctions related to the removal of the breast, as in the treatment of</p><p>disorders already installed.</p><p>Keywords: mastectomy, breast cancer, physical aspects and psychological aspects.</p><p>Introdução</p><p>O carcinoma mamário manifesta-se por um nódulo in-</p><p>dolor que tem a prevalência pelo quadrante superior externo</p><p>do lado esquerdo da mama, podendo atingir em casos mais</p><p>graves os linfonodos axilares e supraclaviculares, sendo con-</p><p>siderado como uma das doenças mais comuns nas mulheres1.</p><p>As células cancerosas apresentam a capacidade de in-</p><p>vadir o tecido normal e de disseminar para locais distantes.</p><p>Essa característica é responsável, em última análise, pela</p><p>morte da paciente, pois o tumor primário é geralmente sus-</p><p>cetível à extirpação cirúrgica. É uma doença complexa e</p><p>heterogênea com formas de evolução lenta ou rapidamente</p><p>progressivas, dependendo do tempo de duplicação celular e</p><p>outras características biológicas de progressão2.</p><p>O câncer mamário é o segundo tipo de câncer mais fre-</p><p>quente no mundo e o mais comum entre as mulheres. Possui</p><p>taxas de mortalidade elevadas, muito provavelmente porque a</p><p>doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. Acima</p><p>dos 35 anos, sua incidência cresce rápida e progressivamente.</p><p>Estima-se 53 mil novos casos de câncer de mama no país3-5.</p><p>Os fatores de ricos para o câncer de mama começam</p><p>com a idade. É raro um tumor maligno de mama antes dos</p><p>35 anos, mas aos 50 anos o risco é muito grande; aos 65</p><p>anos, o risco é 100 vezes maior que aos 30. A mulher branca</p><p>apresenta um índice global maior de incidência do que as</p><p>mulheres negras, sendo esta diferença significante somente</p><p>após a menopausa. Em seguida, vem a história familiar que</p><p>pode aumentar em 85% o risco de contrair a doença, tendo</p><p>maior risco de câncer de mama a mulher cuja mãe, tia, irmã</p><p>ou avó foram acometidos pela doença6-8.</p><p>É de suma importância a detecção do câncer de mama,</p><p>como forma de prevenção, através do autoexame, consultas</p><p>médicas, mamografias periódicas. Esse é um importante</p><p>fator que tem contribuído para o aumento da sobrevida das</p><p>mulheres com câncer de mama, além dos avanços da me-</p><p>dicina. Através da mamografia pode-se detectar lesões não</p><p>palpáveis, antes mesmo que elas se tornem evidentes9,10.</p><p>A escolha do tratamento depende da avaliação indivi-</p><p>dual de cada caso, levando em conta as características do</p><p>tumor, da paciente e da fase da doença. O retardo no diagnós-</p><p>tico ocasiona tratamentos mais agressivos e menos efetivos,</p><p>aumenta o comprometimento físico e emocional da mulher</p><p>e toda sua família o que, consequentemente, eleva os índices</p><p>de mortalidade por esse tipo de câncer. A cirurgia constitui</p><p>uma das fases mais importantes no tratamento do câncer, in-</p><p>cluindo a remoção do tumor e dos tecidos adjacentes e, quase</p><p>sempre, o esvaziamento axilar6,11-13.</p><p>O esclarecimento sobre a natureza e os objetivos dos</p><p>procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, é</p><p>um direito do paciente, bem como de ser informado sobre</p><p>sua invasibilidade, duração do tratamento, seus benefícios e</p><p>prováveis desconfortos, e dos possíveis riscos físicos, psico-</p><p>lógicos, econômicos e sociais por que possa vir a passar14.</p><p>A técnica de tumorectomia consiste na remoção de todo</p><p>o tumor com margens livres e, após o tratamento da mama,</p><p>é realizado o esvaziamento axilar. Como em toda cirurgia</p><p>conservadora, a radioterapia é parte integrante do tratamen-</p><p>to. Na quadrantectomia, ocorre a retirada do quadrante ma-</p><p>mário onde se localiza o tumor, com margens de segurança,</p><p>juntamente com boa parte de pele e fáscia muscular, sendo</p><p>complementada pelo esvaziamento axilar e radioterapia pós-</p><p>-operatória. Para eleição do tratamento conservador os tumo-</p><p>res não devem ultrapassar 3 cm, a menos que a mama seja</p><p>bastante volumosa, permitindo bom resultado estético12.</p><p>Dentre outras formas de tratamento destacam-se as</p><p>mastectomias:</p><p>� A mastectomia modificada, do tipo Patey é menos radical.</p><p>São removidas a glândula mamária e o músculo pequeno</p><p>peitoral de suas inserções na apófise coracóide, terceiro,</p><p>quarto e quinto espaços intercostais em monobloco com</p><p>esvaziamento axilar radical, linfonodos interpeitorais, apo-</p><p>neurose anterior e posterior do músculo grande peitoral2.</p><p>� A mastectomia radical, do tipo Halsted, consiste na extir-</p><p>pação da mama, músculo grande e pequeno peitoral, e es-</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>190</p><p>vaziamento axilar radical. É indicada em infiltração exten-</p><p>sa da musculatura peitoral e em caso de câncer localmente</p><p>avançado tendo como finalidade básica a citorredução15.</p><p>Ainda como terapia, a radioterapia representa uma arma</p><p>importante no combate ao câncer por possuir grande capacida-</p><p>de de destruir células malignas remanescentes no leito tumoral</p><p>com alta eficácia. O tratamento é feito com aplicação de raios</p><p>para eliminar qualquer célula que tenha sobrado no local da</p><p>cirurgia que não tenha sido localizada pelo cirurgião e patolo-</p><p>gista. E feito em uma máquina com duração e intensidade da</p><p>terapia a depender das características do tumor e da paciente.</p><p>Assim não há risco de lesão de órgãos fora do campo de irra-</p><p>diação. Associada à cirurgia, a irradiação diminui o risco de</p><p>recidiva e aumenta o tempo livre da doença, embora permane-</p><p>ça controvertido, o potencial de aumento de sobrevida2.</p><p>A reconstrução da mama tem por objetivo restabelecer a</p><p>imagem corporal ou melhorar a autoestima, restaurar o vo-</p><p>lume perdido, assegurar uma simetria com a mama oposta e</p><p>recriar a aréola e mamilo. A reconstrução da mama pode ser</p><p>feita ao mesmo tempo cirúrgico que a mastectomia, sendo</p><p>denominada imediata ou pode ser feita após a mastectomia,</p><p>sendo denominada tardia2.</p><p>As sequelas pós-cirúrgicas são as aderências na parede</p><p>torácica, fraqueza do membro superior envolvido, alterações</p><p>posturais e restrições na mobilidade do ombro, hipostesia</p><p>do membro acometido, dor e linfedema. No entanto, podem</p><p>ocorrer cicatrizes cirúrgicas restritivas no tecido subjacente</p><p>a mama na parede torácica, fibrose por radiação ou infecção</p><p>da ferida. O ato cirúrgico poderá ocasionar diminuição da</p><p>amplitude máxima de movimento no ombro envolvido, além</p><p>de alterações posturais, bem como suas consequências1.</p><p>Entre as possíveis complicações da cirurgia, o edema</p><p>linfático de membro superior (linfedema) pode ocorrer após</p><p>esvaziamento axilar e configura-se como condição crônica e</p><p>incapacitante, o que resulta em alterações físicas, psicológi-</p><p>cas e sociais. A prevenção é possível por meio de cuidados a</p><p>serem adotados durante as atividades de vida diária. O sinto-</p><p>ma inicial é a sensação de peso no braço16.</p><p>O linfedema pode ser definido como um edema crôni-</p><p>co devido à deficiência da drenagem do sistema linfático,</p><p>com o acúmulo anormal de fluido rico em proteína no espa-</p><p>ço intersticial resultando em desconforto, dores, aumento do</p><p>risco de infecção, ocasionando uma diminuição importante</p><p>na qualidade de vida, levando a um decréscimo da ativida-</p><p>de física, abandono das atividades de lazer, diminuição da</p><p>capacidade laboral, depressão e ansiedade. Ocorre após a ci-</p><p>rurgia, imediatamente ou em fase mais tardia e se deve aos</p><p>traumas da manipulação cirúrgica e a imobilidade antálgica</p><p>da paciente. Geralmente, regride com o posicionamento do</p><p>membro e com os exercícios orientados no pós-operatório12.</p><p>O câncer de mama feminino é uma patologia que para a</p><p>mulher, além do estigma, se traduz em muito sofrimento psico-</p><p>físico e normalmente progride para uma cirurgia mutiladora de</p><p>um órgão que simboliza feminilidade, sexualidade e materni-</p><p>dade. A evolução dos métodos de detecção precoce proporcio-</p><p>nam que os tumores passem a ser descoberto em estadiamentos</p><p>menores, favorecendo o tratamento e a sobrevida da paciente,</p><p>tornando-se necessária a busca por abordagens cirúrgicas me-</p><p>nos extensas e a oferta de uma reabilitação estética, física e psi-</p><p>cológica. A mulher, ao receber o diagnóstico de câncer, vivência</p><p>a expectativa de um futuro incerto, tratamentos longos e doloro-</p><p>sos, e também o medo da morte e mutilação13,17,18.</p><p>A fisioterapia é uma ciência da Saúde que estuda,</p><p>previ-</p><p>ne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em</p><p>órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações</p><p>genéticas, traumas ou doenças adquiridas. Fundamenta suas</p><p>ações em mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados</p><p>pelos estudos da Biologia, ciências morfológicas, ciências fi-</p><p>siológicas, patologias, bioquímica, biofísica, biomecânica, si-</p><p>nergia funcional e as disciplinas comportamentais e sociais19.</p><p>Dessa forma, a fisioterapia desempenha um papel muito</p><p>importante no quadro de profissionais que atendem a mu-</p><p>lher no pós-operatório de câncer de mama. O tratamento do</p><p>câncer, envolve uma abordagem múltipla desde a cirurgia,</p><p>em seguida na quimioterapia, na radioterapia ou hormonio-</p><p>terapia, pode gerar graves consequências físicas. É uma das</p><p>situações específicas na área da oncologia em que o fisiote-</p><p>rapeuta pode intervir, desempenhando um papel importante</p><p>na prevenção de sequelas do tratamento da doença, fazendo</p><p>parte integrante da equipe multidisciplinar que deve ser com-</p><p>posta também por médico, enfermeiro, assistente social, psi-</p><p>cólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional, dentre outros,</p><p>sendo cada profissional responsável pelas condutas na sua</p><p>área de competência16.</p><p>Após a cirurgia, a mulher passa a ter uma nova realidade</p><p>do esquema corporal, pois ocorrem alterações importantes</p><p>em nível anatômico, fisiológico e funcional que podem vir</p><p>acompanhadas de dores, degradação da forma física e mu-</p><p>dança do esquema corporal. Além das preocupações citadas,</p><p>encontram-se presentes outras angústias ligadas à feminili-</p><p>dade, maternidade e sexualidade, já que o seio é um órgão</p><p>repleto de simbolismo para a mulher. Baseado nestas altera-</p><p>ções é que a reabilitação física torna-se primordial, por apre-</p><p>sentar um conjunto de possibilidades terapêuticas suscetíveis</p><p>de serem empregadas, desde a fase mais precoce da recu-</p><p>peração funcional do membro superior e cintura escapular</p><p>até a profilaxia e tratamento de sequelas, como aderências</p><p>cicatriciais e linfedema12,20,21.</p><p>O tratamento da mulher mastectomizada começa com a</p><p>avaliação da postura, amplitude de movimento do pescoço,</p><p>braço e tronco, força, medida de circunferência do braço, pal-</p><p>pação da pele, nível de dor, atividades de vida diária e capaci-</p><p>dades funcionais. Fisioterapeutas que trabalham no pós-opera-</p><p>tório de cirurgia de mama podem ter um relacionamento com</p><p>cirurgiões, para que recomende as encaminhem para melhor</p><p>conhecer suas diretrizes particulares para recuperação22,23.</p><p>O pós-cirúrgico é vivenciado de várias formas pelas pa-</p><p>cientes, de acordo com a importância que cada um dá a sua</p><p>imagem corporal. O fisioterapeuta, ao iniciar a reabilitação</p><p>funcional da paciente irá, através da palpação e do toque,</p><p>determinar a presença e a localização da dor, proporcionan-</p><p>do à paciente um contato manual importante que ajudará na</p><p>realização dos exercícios2,24.</p><p>Alem disso, a fisioterapia tem uma relação fundamental</p><p>com as pacientes, no atendimento não segmentar ou focal,</p><p>mas sistêmico, ou seja, não apenas com o local afetado, mas</p><p>191</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>com a repercussão do problema em todo o organismo da pes-</p><p>soa, além da sua autoestima e qualidade de vida25.</p><p>A repercussão do câncer de mama implica muitas conse-</p><p>quências físicas e psicológicas. O impacto psicológico, por</p><p>sua vez se estende ao convívio familiar, social e afetivo. A</p><p>mulher tem de se adaptar a sua nova imagem, lidar com a</p><p>ideia da perda da feminilidade, com medo de perder o parcei-</p><p>ro. Esses fatores podem interferir no sucesso da reabilitação</p><p>e do tratamento da mulher com câncer. Conhecê-los pode</p><p>ajudar os profissionais a identificar as necessidades e traçar</p><p>estratégias de tratamento com soluções eficazes, interferindo</p><p>positivamente na realidade desses pacientes.</p><p>O objetivo geral desse estudo consiste em analisar as</p><p>consequências da mastectomia com enfoque físico e psico-</p><p>lógico. Como objetivos específicos o presente estudo busca</p><p>determinar as alterações físicas ocorridas após o procedi-</p><p>mento de mastectomia, analisando os problemas psicológi-</p><p>cos mais comuns e por fim correlacionar as alterações físicas</p><p>e psicológicas nas pacientes avaliadas.</p><p>Metodologia</p><p>Foi realizado um estudo com caráter descritivo, obser-</p><p>vacional e transversal com estratégia de análise quantitativa</p><p>dos resultados, realizado no Programa de Assistência à Mu-</p><p>lher Mastectomizada (PROAMMA), que presta assistência</p><p>fisioterápica gratuita a mulheres que realizaram mastecto-</p><p>mia, do Centro Universitário Estácio, na unidade Via Cor-</p><p>pvs, localizada na Rua: Eliseu Uchoa Becco, Nº. 600 - Bair-</p><p>ro: Água Fria, Fortaleza-Ceará. Este programa desenvolve</p><p>atividades destinadas à atenção direta as pacientes que estão</p><p>em tratamento pós-operatório.</p><p>A coleta de dados foi realizada após aprovado pelo Co-</p><p>mitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio</p><p>do Ceará (Protocolo nº 487.026/2013). Participaram do es-</p><p>tudo as mulheres escolhidas de forma aleatória, com faixa</p><p>etária de 40 e 70 anos de idade, independentemente do es-</p><p>tado civil, religião, raça, status socioeconômico ou grau de</p><p>escolaridade, que tenham passado pela primeira cirurgia em</p><p>decorrência de câncer de mama e que manifestem desejo em</p><p>participar da pesquisa, mediante a assinatura do Termo de</p><p>Consentimento Livre e Esclarecido.</p><p>Foram excluídas do estudo mulheres que participem do pro-</p><p>grama PROAMMA a mais de dois anos. A coleta de dados foi re-</p><p>alizada através de uma ficha, onde foram obtidos os dados pesso-</p><p>ais, e informações referentes aos aspectos físicos e psicológicos.</p><p>Para aquisição dessas informações foi realizada uma reunião com</p><p>a Coordenadora do Projeto Social PROAMMA para a autoriza-</p><p>ção da realização da pesquisa com as participantes do programa.</p><p>O estudo foi pautado nos princípios éticos, adotando a</p><p>resolução 466/12 do Ministério do Brasil26 a partir da expli-</p><p>cação de todo o assunto, bem como dos objeitos da investiga-</p><p>ção. Posteriormente, foi entregue o Termo de Consentimento</p><p>Livre e Esclarecido as participantes para que elas pudessem</p><p>ter maiores esclarecimentos sobre a pesquisa, e, finalmente,</p><p>foram assinados os termos garantindo a confidencialidade,</p><p>anonimato e da não utilização das informações obtidas em</p><p>prejuízo dos indivíduos, preservando os princípios éticos</p><p>para aqueles que estiverem participando do estudo.</p><p>A análise quantitativa e interpretação dos dados apura-</p><p>dos foi realizada através de uma planilha eletrônica, e dispos-</p><p>ta na forma de tabelas e gráficos, sendo utilizado o software</p><p>Microsoft Office Excel Versão 2007. Também foi utilizado</p><p>o questionário SF36 que é um inventário que avalia oito as-</p><p>pectos distintos dando-se um resultado para cada questão,</p><p>que foram posteriormente transformados numa escala de 0 a</p><p>100, em que zero é considerado o pior e 100 o melhor estado.</p><p>Resultados</p><p>A amostra foi composta por um grupo de 13 mulheres,</p><p>sendo que nove estão participando assiduamente do projeto e</p><p>foram entrevistadas. A média de idade de 55,89 ± 2,20 anos,</p><p>e Índice de Massa Corpórea (IMC) médio de 26,70 ± 0,6 o</p><p>que aponta sobrepeso.</p><p>O perfil demográfico das entrevistadas é caracterizado</p><p>por 55,56% (n=5) de casadas e permaneceram com o mesmo</p><p>estado civil após o diagnóstico de câncer; 88,89% (n=8) são</p><p>mães; 44,44% (n=4) possuíam o ensino fundamental com-</p><p>pleto; 55,56% (n=5) informaram como profissão atual dona</p><p>de casa. Quanto à mudança de profissão após a mastectomia</p><p>33,33% (n=3) afirmaram que se tornaram dona de casa, por</p><p>estarem impossibilitadas de exercer a profissão anterior e</p><p>apenas 11,11 % (n=1) se aposentou por este mesmo motivo</p><p>(tabela 1).</p><p>Tabela 1: Distribuição dos dados de acordo com o per! l demo-</p><p>grá! co das participantes do PROAMMA. Fortaleza\CE, 2013.</p><p>Dados Entrevistadas %</p><p>Estado civil antes da mastectomia</p><p>Solteira 4 44,44</p><p>Casada 5 55,56</p><p>Estado civil após a mastectomia</p><p>Solteira 4 44,44</p><p>Casada 5 55,56</p><p>Imc</p><p>Normal 2 22,22</p><p>Sobrepeso 7 77,78</p><p>Escolaridade</p><p>Fundamental 4 44,44</p><p>Médio 3</p><p>33,33</p><p>Superior 2 22,22</p><p>Ocupação anterior</p><p>Professora 2 22,22</p><p>Industriária 1 11,11</p><p>Cozinheira 1 11,11</p><p>Comerciante 2 22,22</p><p>Dona de casa 2 22,22</p><p>Recepcionista 1 11,11</p><p>Ocupação atual</p><p>Artesã 1 11,11</p><p>Professora 2 22,22</p><p>Dona de casa 5 55,56</p><p>Aposentada 1 11,11</p><p>Diagnóstico médico</p><p>Câncer mamário 9 100,00</p><p>Queixa principal</p><p>Dores 4 44,44</p><p>Diminuição de adm 1 11,12</p><p>Linfedema 4 44,44</p><p>Filhos</p><p>Sim 8 88,89</p><p>Não 1 11,11</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>192</p><p>Quando questionadas sobre a historia da doença atual</p><p>(HDA), 88,89% (n=8) foram submetidas à mastectomia radi-</p><p>cal; 33,33% (n=3) fizeram opção pela reconstrução mamária;</p><p>77,78% (n=7) iniciaram o tratamento fisioterápico precoce-</p><p>mente. Quanto às terapias complementares 77,78% (n=7) re-</p><p>alizaram quimioterapia; 100% (n=9) realizaram radioterapia;</p><p>44,44% (n=4) fez uso de hormonioterapia (tabela 2).</p><p>Tabela 2: Distribuição dos dados em relação a historia da</p><p>doença atual das participantes do PROAMMA. Fortaleza\</p><p>CE, 2013.</p><p>Dados Entrevistadas %</p><p>Tipo de mastectomia</p><p>Radical 8 88,89</p><p>Quandrantectomia 1 11,11</p><p>Optou pela reconstrução mamária</p><p>Sim 3 33,33</p><p>Não 6 66,67</p><p>Iniciou ! sioterapia precocemente</p><p>Sim 7 77,78</p><p>Não 2 22,22</p><p>Realizou quimioterapia</p><p>Sim 7 77,78</p><p>Não 2 22,22</p><p>Realizou radioterapia</p><p>Sim 9 100,00</p><p>Não 0 -</p><p>Realizou hormonioterapia</p><p>Sim 4 44,44</p><p>Não 5 55,56</p><p>Na realização do exame físico observamos que 55,56%</p><p>(n=5) apresentavam linfedema no braço homolateral ao pro-</p><p>cedimento; 77,78% (n=7) mantiveram o trofismo normal;</p><p>100% (n=9) apresentavam a cicatriz da incisão cirúrgica</p><p>fechada; todas apresentaram algum tipo de desvio postural</p><p>sendo 66,67% (n=6) elevação do ombro à esquerda e 66,67%</p><p>(n=6) inclinação da cabeça à esquerda (tabela 3).</p><p>Tabela 3: Distribuição dos dados do exame físico das parti-</p><p>cipantes do PROAMMA. Fortaleza\CE, 2013.</p><p>Dados Entrevistadas %</p><p>Linfedema</p><p>Sim 5 55,56</p><p>Não 4 44,44</p><p>Tro! smo</p><p>Normal 7 77,78</p><p>Hipotro! a 2 22,22</p><p>Condições da cicatriz</p><p>Aberta 0 -</p><p>Fechada 9 100,00</p><p>Desvios posturais ombro</p><p>Elevação do ombro à direita 3 33,33</p><p>Elevação do ombro à esquerda 6 66,67</p><p>Desvios posturais do pescoço</p><p>Inclinação do pescosço à direita 3 33,33</p><p>Inclinação do pescosço à esquerda 6 66,67</p><p>No quesito aceitação da cirurgia 55,56% (n=5) afirma-</p><p>ram não ter aceitado bem a noticia do procedimento, porém</p><p>88,89% (n=8) relataram sentir-se bem após o procedimento,</p><p>77,78% (n=7) relataram que não possuíam nenhum senti-</p><p>mento de revolta pelo diagnóstico e 44,44% (n=4) definiram</p><p>sua saúde atual como boa (tabela 4).</p><p>Tabela 4: Distribuição dos dados sobre a aceitação da cirur-</p><p>gia das participantes do PROAMMA. Fortaleza\CE, 2013.</p><p>Dados Entrevistadas %</p><p>Aceitou bem a noticia da cirurgia</p><p>Sim 4 44,44</p><p>Não 5 55,56</p><p>Sentiu-se bem após o procedimento</p><p>Sim 8 88,89</p><p>Não 1 11,11</p><p>Algum sentimento de revolta pelo diagnóstico</p><p>Sim 1 11,11</p><p>Não 8 88,89</p><p>Em geral como você define sua saúde hoje</p><p>Excelente 1 11,11</p><p>Muito boa 3 33,33</p><p>Boa 4 44,44</p><p>Ruim 1 11,11</p><p>Em relação ao apoio familiar 100% (n=9) afirmaram que</p><p>tiveram o apoio da família; 22,22% (n=2) mencionaram que</p><p>sofreram rejeição e 77,78% (n=7) não exerce mais suas fun-</p><p>ções no trabalho ou em casa (tabela 5).</p><p>Tabela 5: Distribuição dos dados em relação ao aspecto fa-</p><p>miliar das participantes do PROAMMA. Fortaleza\CE, 2013.</p><p>Dados Entrevistadas %</p><p>Teve apoio familiar</p><p>Sim 9 100,00</p><p>Não 0 -</p><p>Sofreu rejeição</p><p>Sim 2 22,22</p><p>Não 7 77,78</p><p>Exerce suas funções no trabalho (ou em casa)</p><p>Sim 7 77,78</p><p>Não 2 22,22</p><p>Nos itens avaliados pelo SF-36 o resultado obtido, através</p><p>do cálculo especifico para o questionário, foram posterior-</p><p>mente transformados numa escala de 0 a 100, em que zero é</p><p>considerado o pior e 100 o melhor estado. As médias da pon-</p><p>tuação por domínios do Questionário SF-36 estão demonstra-</p><p>das no gráfico 1, onde o escore mais evidentes foram o da</p><p>Limitação por Aspectos Físicos2,78, com menor pontuação e</p><p>Aspectos Sociais78,83, com a melhor pontuação (gráfico 1).</p><p>Gráfico 1: Distribuição dos dados de acordo com a pontu-</p><p>ação por domínios do Questionário SF-36 das participantes</p><p>do PROAMMA. Fortaleza\CE, 2013.</p><p>Discussão</p><p>A média de idade das participantes foi de 55,89 anos, o que</p><p>evidencia a idade como um dos fatores mais importantes de ris-</p><p>193</p><p>Fisioterapia Ser � vol. 11 - nº 4 � 2016</p><p>co para o câncer de mama. Sabbi6 e Zelmanowicz7 citam a</p><p>idade como um dos fatores de ricos para o câncer de mama.</p><p>Analisando os resultados da escolaridade 44,44% possu-</p><p>íam ensino fundamental, 33,33% nível médio e 22,22% nível</p><p>superior, dessa forma as mulheres apresentavam diferentes</p><p>níveis socioculturais, o que pode ser atribuído ao rápido pro-</p><p>cesso de urbanização, que gera desigualdades, e as suas con-</p><p>sequências serão igualmente desiguais, tornando o grau de</p><p>escolaridade um indicador socioeconômico, as variáveis que</p><p>com ele se relacionem assim também o serão5.</p><p>Para Oliveira, Ribeiro e Leite10 é de suma importância</p><p>à detecção do câncer de mama, como forma de prevenção,</p><p>através do autoexame, consultas médicas e mamografias</p><p>periódicas. Esse é um importante fator que tem contribuído</p><p>para o aumento da sobrevida das mulheres com câncer de</p><p>mama, além dos avanços da medicina.</p><p>Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA)5 apontam</p><p>que o tratamento sistêmico, que pode ser a quimioterapia, hormo-</p><p>nioterapia e terapia biológica, só serão determinados de acordo</p><p>com o risco de recorrência (idade do paciente, comprometimen-</p><p>to linfonodal, tamanho tumoral e grau de diferenciação) assim</p><p>como das características tumorais que irão ditar a terapia mais</p><p>apropriada, o que foi verificado no nosso estudo em que 100%</p><p>das mulheres fizeram uso de algum tipo de terapia complementar.</p><p>As sequelas pós-cirúrgicas são tanto físicas como psi-</p><p>cológicas, de acordo com Guirro e Guirro1 o ato cirúrgico</p><p>poderá ocasionar diminuição da amplitude máxima de movi-</p><p>mento no ombro envolvido, hipostesia do membro acometi-</p><p>do, dor e linfedema além de alterações posturais, bem como</p><p>suas consequências, o que foi detectado nesse estudo, já que</p><p>100% apresentaram algum tipo de alteração postural, sendo</p><p>as mais relatadas 66,67% elevação do ombro à esquerda e</p><p>66,67% inclinação do pescoço à esquerda.</p><p>De acordo com Baracho z12, o linfedema pode ser defini-</p><p>do como um inchaço crônico devido à deficiência da drena-</p><p>gem do sistema linfático, com o acúmulo anormal de fluido</p><p>rico em proteína no espaço intersticial resultando em descon-</p><p>forto, dores, aumento do risco de infecção, ocasionando uma</p><p>diminuição importante na qualidade de vida. Nesse estudo,</p><p>foi encontrada a incidência de linfedema em 55,56% das en-</p><p>trevistadas, porém o impacto dessa sequela não foi destacado</p><p>como causador de desconforto, dor ou teve alguma relação</p><p>com a diminuição da qualidade de vida.</p><p>Para Pinheiro et al.17 a evolução dos métodos de detec-</p><p>ção precoce proporcionam que os tumores passem a ser des-</p><p>coberto em estadiamentos menores, tornando-se necessária</p><p>a busca por abordagens cirúrgicas menos extensas e a oferta</p><p>de uma reabilitação estética, física e psicológica. Contudo,</p><p>em nosso estudo, 88,89% das mulheres foram submetidas à</p><p>mastectomia radical. De acordo com Camargo, Marx2 a re-</p><p>construção da mama tem por objetivo restabelecer a imagem</p><p>corporal ou melhorar a autoestima, restaurar o volume per-</p><p>dido, assegurar uma simetria com a mama oposta e recriar a</p><p>aréola e mamilo, podendo ser feita ao mesmo tempo cirúrgi-</p><p>co que a mastectomia, sendo denominada imediata ou pode</p><p>ser feita após a mastectomia, sendo denominada tardia. Em</p><p>nossa pesquisa identificamos poucos casos de reconstrução</p><p>da mama, apenas 33,33% optaram pelo procedimento.</p><p>Entre as mulheres que participaram da pesquisa, 77,78%</p><p>iniciaram a fisioterapia precocemente com o objetivo de evi-</p><p>tar os comprometimentos mais comuns após a cirurgia, sen-</p><p>do assim, apenas 22,22% apresentaram hipotrofia do braço</p><p>homolateral</p>








